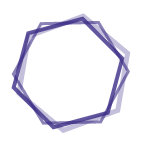RESUMEN
INTRODUÇÃO: O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia maligna, caracterizada pela proliferação desregulada de plasmócitos (responsáveis pela produção de anticorpos), resultando principalmente em produção exacerbada de imunoglobulina não funcional. As manifestações clínicas mais comuns são dores ósseas e fraturas, anemia, insuficiência renal e infecções recorrentes. É a segunda neoplasia hematológica mais frequente (10-15% dos casos) e representa 1% de todos os tumores malignos, sendo considerada uma doença progressiva e sem cura, com a maioria dos pacientes apresentando múltiplas remissões e recidivas. O manejo terapêutico de MM recidivado e /ou refratário (MMRR) ainda é um desafio devido ao aumento da resistência às terapias, piora do prognóstico e declínio da qualidade de vida desses pacientes conforme progridem nas linhas de tratamento. HISTÓRICO DE RECOMENDAÇÕES DA CONITEC: Em fevereiro de 2022 foi publicado o Relatório de Recomendação nº 702 analisando o uso de daratumumabe para o controle do MMRR. A recomendação da Conitec e decisão do Ministério da Saúde foi pela não incorporação no SUS, considerando os indicadores de eficiência apresentados e a estimativa elevada de impacto orçamentário. Diferente da demanda de 2022, a solicitação atual, propõe o uso de daratumumabe em associação com bortezomibe e dexametasona apenas para pacientes com MMRR que receberam uma única terapia prévia. PE
Asunto(s)
Humanos , Dexametasona/uso terapéutico , ADP-Ribosil Ciclasa 1/uso terapéutico , Bortezomib/uso terapéutico , Mieloma Múltiple/tratamiento farmacológico , Sistema Único de Salud , Brasil , Análisis Costo-Beneficio/economía , Combinación de MedicamentosRESUMEN
INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade relacionadas a um único agente infeccioso. Estima-se que um quarto da população mundial, o equivalente a cerca de 2 bilhões de pessoas, esteja infectada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis. No Brasil, é considerada como um grave problema de saúde pública, afetando anualmente cerca de 80 mil pessoas. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estima-se que 770 novos casos de TB resistente a medicamentos de primeira linha foram diagnosticados em 2022. O tratamento para formas resistentes de TB mais longo é (18 a 20 meses), e requer medicamentos que são mais caros e que causam mais eventos adversos. Esquemas com pretomanida são recomendados como uma das opções terapêuticas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sendo capaz de reduzir o tempo de tratamento para 6 a 9 meses e reduzir expressivamente os custos do tratamento. Salienta-se, entretanto, que a pretomanida não possui fabricação nacional e não tem registro sanitário no Brasil. Assim, a sua aquisição será realizada por intermédio da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), em conformidade com a lei Nº 14.313, de 21 de março de 2022 que sanciona a aquisição medicamento e produto recomendados pela Conitec e adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública do Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. PERGUNTA: Pretomanida é eficaz, segura e custo-efetiva como parte do regime de base otimizado, no tratamento de pacientes com tuberculose resistente a medicamentos, quando comparada ao regime de base otimizado sem pretomanida? EVIDÊNCIAS CLÍNICAS: Das 57 referências identificadas nas bases Medline (via PubMed), Embase, The Cochrane Library e LILACS, um único Ensaio Clínico Randomizado (ECR), aberto, fase 2-3, multicêntrico, contribuiu para a síntese de evidências deste relatório, que demonstrou não-inferioridade do tratamento proposto com pretomanida [Bedaquilina, pretomanida e linezolida (BPaL) e bedaquilina, pretomanida, linezolida e moxifloxacino (BPaLM)] em comparação ao esquema padrão utilizado pelo SUS (sem pretomanida), para desfechos desfavoráveis combinados (morte, falha no tratamento, descontinuação do tratamento, perda de acompanhamento ou recorrência de TB) e de segurança. A qualidade da evidência foi classificada como moderada a alta, segundo o GRADE. AVALIAÇÃO ECONÔMICA: A partir das evidências clínicas, considerou-se a não inferioridade do esquema terapêutico contendo pretomanida para realizar uma análise de custo-minimização, utilizando uma árvore de decisão simples. Dessa forma, comparou-se o regime de base otimizado com pretomanida com o regime sem pretomanida, para o tratamento completo de pacientes com TB RR, TB MDR ou TB Pré-XDR. Foi adotada a perspectiva do SUS e considerou-se apenas custos como desfecho. Ao final, a análise estimou que essa substituição resultaria em uma economia anual por paciente de R$ 17.463,00 em média. Especificamente para TB RR e TB MDR (BPaLM) seria uma economia de R$ 19.328,40 e de R$ 15.597,60 para TB pré-XDR (BPaL). ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO: Considerando-se a perspectiva do SUS e uma demanda aferida, foi adotado um marketshare de 85% no primeiro ano (2023) que chegou a 100% a partir do quarto ano (2026) para avaliar a incorporação da pretomanida no SUS. No cenário principal, no qual se considerou a média de pacientes com TB resistente a medicamentos, verificou-se uma economia estimada de R$ 13.631.563,50 no primeiro ano (2023), chegando a R$ 90.687.911,54 no acumulado de cinco anos (2023 a 2027), com a incorporação da pretomanida no SUS. Essa economia variou de R$ 13,6 milhões a R$ 16 milhões no primeiro ano (2023) e de R$ 89,4 milhões a R$ 95,8 milhões no acumulado de cinco anos (2023 a 2027), a depender do parâmetro explorado (estimativa da população ou market-share máximo) nos cenários alternativos. No entanto, estes resultados podem mudar de acordo com a variação cambial do dólar. RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS: A pretomanida apresenta-se como opção recomendada pelo CDC e pela OMS como uma das opções terapêuticas para o tratamento de TB resistente a medicamentos, sendo capaz de reduzir o tempo de tratamento para 6 a 9 meses e desempenhar melhor custo-efetividade. MONITORAMENTO DO HORIZONTE TECNOLÓGICO: Foram detectadas quatro tecnologias potenciais para compor os esquemas de tratamento de pacientes com tuberculose multi-resistentes a medicamentos. São eles: canamicina e sutezolida, inibidores da síntese proteica ribossomal; cicloserina, um inibidor da GABA transaminase; protionamida, um inibidor da síntese de peptídeos. Nenhum deles possui aprovação no FDA, EMA e Anvisa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O uso da pretomanida, como parte de um regime de base otimizado, possui eficácia e segurança não-inferiores ao regime de base otimizado sem pretomanida. Além disso, o regime com pretomanida demonstrou potencial economia para o SUS na avaliação econômica e na análise de impacto orçamentário. Além disso, a OMS recomenda seu uso em pacientes com TB resistente, quando já não é possível compor um esquema terapêutico adequado com os medicamentos anteriormente disponíveis, como ocorre no Brasil. PERSPECTIVA DO PACIENTE: Foi aberta a Chamada Pública de número 24/2023, entre 13 e 23/07/2023, objetivando a inscrição de participantes para a Perspectiva do Paciente referente ao tema. Uma pessoa se inscreveu. No entanto, indicou não ter disponibilidade para participar da reunião da Conitec, na data prevista para a discussão do item. RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR DA CONITEC: O Comitê de Medicamentos da Conitec, em sua 121ª Reunião Ordinária, no dia 03 de agosto de 2023, deliberou que a matéria fosse disponibilizada em Consulta Pública com recomendação preliminar favorável à incorporação no SUS da pretomanida para o tratamento de pacientes com tuberculose resistente a medicamentos. Para essa recomendação, o Comitê considerou que os regimes terapêuticos com pretomanida estiveram relacionados a: I) evidências de não-inferioridade em relação aos regimes sem pretomanida; II) menor tempo de tratamento; III) potencialmente menos eventos adversos; IV) possibilidade de tratamentos totalmente orais, sem a necessidade de uso de injetáveis; V) maior adesão ao tratamento, evitando o abandono por parte do paciente; VI) potencial economia para o SUS na adoção de regimes terapêuticos com pretomanida. CONSULTA PÚBLICA: Foram recebidas 14 contribuições, sendo sete técnico-científicas e sete sobre experiência ou opinião. Todas as técnico-científicas concordaram com a recomendação inicial da Conitec. Os assuntos mais citados foram: importância de se incorporar mais uma opção terapêutica para tuberculose resistente a medicamentos, sua eficácia em associação a outros medicamentos, o fato de pretomanida ser oral contribuir para a adesão ao tratamento, redução do tempo de tratamento com pretomanida e a incorporação de pretomanida como parte de um esquema terapêutico otimizado. Todos os respondentes do formulário de experiência ou opinião apresentaram-se favoráveis à recomendação inicial da Conitec. Em geral, no que se às opiniões e à experiência com o pretomanida, os participantes mencionaram que o medicamento possibilita a diminuição do tempo de tratamento, que implica melhora da adesão e redução de custos ao SUS, bem como apresenta segurança e eficácia. Não mencionaram efeitos negativos ou dificuldades. Por fim, considerouse que as contribuições recebidas na Consulta Pública estiveram alinhadas com a recomendação preliminar da Conitec, não justificando mudança de entendimento sobre o tema. RECOMENDAÇÃO FINAL DA CONITEC: O Comitê de Medicamentos da Conitec, em sua 122ª Reunião Ordinária, no dia 13 de setembro de 2023, deliberou por unanimidade recomendar a incorporação da pretomanida para o tratamento da tuberculose resistente a medicamentos. Tendo em vista as contribuições da Consulta Pública, que reforçaram os benefícios esperados com o medicamento, os membros do Comitê mantiveram seu entendimento de que o regime com pretomanida se mostrou não-inferior em relação aos regimes sem pretomanida, representando menor tempo de tratamento, menos eventos adversos, maior adesão e potencial economia para o SUS. Assim, foi assinado o Registro de Deliberação nº 846/2023. DECISÃO: Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a pretomanida para o tratamento da tuberculose resistente a medicamentos, publicada no Diário Oficial da União nº 182, seção 1, página 270, em 22 de setembro de 2023
Asunto(s)
Humanos , Oxazinas/uso terapéutico , Tuberculosis Resistente a Múltiples Medicamentos/tratamiento farmacológico , Nitroimidazoles/uso terapéutico , Sistema Único de Salud , Brasil , Análisis Costo-BeneficioRESUMEN
INTRODUCCIÓN: El presente documento muestra el resultado de la evaluación de la solicitud de incorporación de los medicamentos Delamanid 50 mg tableta, Pretomanid 200 mg tabletas y Rifapentina 150 mg tabletas como parte de la terapia para Tuberculosis Multidrogorresistente (TB-MDR), Tuberculosis Extensamente Drogorrresistente (TB -XDR) y Tuberculosis Latente (ILTB). TECNOLOGÍA: Delamanid 50 mg tableta, Pretomanid 200 mg tabletas, Rifapentina 150 mg tabletas. OBJETIVO: Evaluar la incorporación de las tecnologías en el esquema de tratamiento de Tuberculosis Farmacorresistente y Tuberculosis Latente. OBJETIVO Evaluar la incorporación de las tecnologías en el esquema de tratamiento de Tuberculosis Farmacorresistente y Tuberculosis Latente. MÉTODOS: l. Verificación de disponibilidad local en la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM). 2. Investigación en Agencias Reguladoras (AEMPS/EMA/FDA) para verificación de la indicación. 3. Informe Técnico Revisión de la evidencia científica/ Revisión de directrices de la Organización Mundial de la Salud OMS y Guías Clínicas del Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL). 4. Costos de los medicamentos. 5. Conclusiones 6. Recomendaciones. RESULTADOS: Se evaluó información científica disponible, como guías, lineamientos y Evaluaciones de Tecnología Sanitaria, de acuerdo a la evidencia científica disponible, los medicamentos solicitados se encuentran dentro de las directrices para el manejo de Tuberculosis Farmacorresistente y Tuberculosis Latente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL). CONCLUSIONES: Actualmente, los medicamentos solicitados no están comercializados en el país, pero forman parte del Lista de Medicamentos Fondo Estratégico OPS Las Agencias Reguladoras consultadas muestran que los fármacos cuentan con autorización uso para las indicaciones solicitadas Así mismo, las directrices emitidas por la OMS, los fármacos Delamanid 50 mg tableta y Pretornanid 200 mg tabletas están aprobados para el tratamiento de tuberculosis Tuberculosis Multidrogorresistente (TB-MDR) y Tuberculosis Extensamente Drogorrresistente (TB -XDR) Según lo establecido por la OMS y por MINSAL, Rifapentina se puede utilizar como tratamiento preventivo en Tuberculosis Latente (ILTB), tanto en países de incidencia alta como incidencia baja.
Asunto(s)
Humanos , Tuberculosis Resistente a Múltiples Medicamentos/tratamiento farmacológico , Tuberculosis Latente/tratamiento farmacológico , Antibióticos Antituberculosos/uso terapéutico , Evaluación en Salud/economía , EficaciaRESUMEN
INTRODUÇÃO: A leucemia linfocítica crônica (LLC) é uma desordem linfoproliferativa, composta por linfócitos B redondos monomórficos envolvendo sangue periférico, medula óssea e órgãos linfoides. A maioria dos pacientes é assintomática ao diagnóstico e não requer tratamento. Outros apresentam a doença em estado de progressão, com necessidade de tratamento logo após o diagnóstico. A apresentação clínica geralmente é caracterizada por linfadenopatias palpáveis e/ou esplenomegalia, anemia, trombocitopenia, fadiga, febre, perda de peso não intencional, sudorese noturna e plenitude abdominal com saciedade precoce. A LLC também aumenta a vulnerabilidade a infecções por meio de alterações na imunidade humoral e mediada por células. É mais frequentemente diagnosticada entre homens, caucasianos, com idade entre 65 e 74 anos. O diagnóstico é estabelecido por hemograma, esfregaço sanguíneo e imunofenotipagem. Na avaliação do estadiamento são utilizados os sistemas Rai e Binet, baseados em indicadores físicos (presença de linfonodos, baço e/ou fígado aumentados) e parâmetros sanguíneos (anemia ou trombocitopenia). Para pacientes em boas condições físicas e ausência de comorbidades ou presença de comorbidades leves, a combinação de fludarabina, ciclofosfamida e rituximabe (FCR) pode ser utilizada como tratamento de primeira linha. PERGUNTA: A associação entre rituximabe e quimioterapia (fludarabina e ciclofosfamida) é mais eficaz, segura e custoefetiva do que a quimioterapia isolada, em primeira linha de tratamento da leucemia linfocítica crônica (LLC)? EVIDÊNCIAS CLÍNICAS: Rituximabe associado à fludarabina e ciclofosfamida (FCR) apresentou redução de 41% no risco de óbito ou progressão da doença, quando comparado ao grupo que recebeu quimioterapia (FC) (HR: 0,59; IC 95% 0,50- 0,69). A mediana de sobrevida livre de progressão (SLP) foi de 51,8 meses (IC 95% 46,2-57,6) para os indivíduos que receberam FCR em comparação a 32,8 meses (IC 95% 29,6-36,0) para quem recebeu FC. O benefício da FCR na SLP foi observado tanto para pacientes com idade < 0,0001). Dez óbitos ocorreram no grupo que recebeu FC, sendo que seis casos (60%) foram causados por infecção. No grupo que recebeu FCR ocorreram oito óbitos, desses, cinco casos (62,5%) foram relacionados à infecção. Com maior tempo de observação, o grupo tratado com FCR apresentou maior frequência de neutropenia prolongada graus 3 e 4, pelo período ≤ 1 ano após o final do tratamento, em comparação ao grupo que recebeu FC [FCR= 67 pacientes (16,6%) versus FC= 34 pacientes (8,6%); p-valor= 0,007]. Um ano após o final do tratamento a diferença não foi mais observada [FCR= 16 pacientes (4%) versus FC= 14 pacientes (3,5%); p-valor= 0,75). Toxicidade hematológica (p-valor= 0,04) e infecção bacteriana (p-valor= 0,004) foram mais frequentes entre os pacientes com 65 anos ou mais do que nos mais jovens. AVALIAÇÃO ECONÔMICA: Foi realizada uma análise de custo-utilidade comparando o uso do FCR a FC, em tratamento de primeira linha para LLC, na perspectiva do SUS. O preço considerado para a tecnologia nessa análise foi de R$264,99. Por meio de uma análise de sobrevida particionada foi simulada uma coorte hipotética, com horizonte temporal de oito anos e taxa de desconto anual de 5%. O esquema de tratamento FCR apresentou custo de tratamento por paciente igual a R$ 29.106,99, um incremental de R$14.449,29, proporcionando ganho incremental de 0,5 QALYs (quality ajusted life years) e razão de custo-efetividade incremental (RCEI ou ICER) de R$28.564,07/QALY. As variáveis com maior impacto foram a utilidade da SLP e o custo do rituximabe a partir do segundo ciclo. Na análise de sensibilidade probabilística a maioria das simulações ficaram abaixo do limiar de R$40.000/QALY (1 PIB per capita). ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO: O cálculo do impacto orçamentário (IO) foi realizado para um horizonte temporal de cinco anos e considera exclusivamente os custos dos esquemas terapêuticos. Foi considerado um market share de 60% do esquema de tratamento FCR no primeiro ano de incorporação, com aumento de 10% ao ano até o final do horizonte temporal. A população estimada a ser beneficiada pela incorporação da tecnologia foi de 7.098 pacientes por ano, número que corresponde ao número médio de Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade registradas por ano entre 2017 e 2021. Dessa forma o impacto orçamentário incremental variou de R$ 11.875.890,94 a R$ 26.776.069,32. RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS: As quatro agências de ATS avaliadas (NICE, SMC, CADTH e PBAC) recomendam o uso de rituximabe em combinação com fludarabina e ciclofosfamida como uma opção para o tratamento de primeira linha de LLC. MONITORAMENTO DO HORIZONTE TECNOLÓGICO: Foram identificados sete medicamentos: dois da classe de inibidores de tirosina quinase de Bruton administrados por via oral (orelabrutinibe e pirtobrutinibe), dois anticorpos monoclonais administrados por via intravenosa (ublituximabe e lirilumabe), duas vacinas peptídicas subcutâneas derivadas de PD-L1 e PD-L2 (IO-103 e IO-120 + IO-103) e um inibidor beta da proteína quinase C (MS-553) administrado por via oral. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A evidência clínica de eficácia e segurança apresentou superioridade do rituximabe em associação a fludarabina e ciclofosfamida, para indivíduos hígidos, mais jovens e sem comorbidades. Com relação a efetividade, o esquema FCR se mostrou custo-efetivo, com um ganho em QALY de 0,5 em comparação ao FC. A razão de custoefetividade incremental (RCEI ou ICER) foi de R$28.564,07/QALY (abaixo do limiar de 1 PIB per capita). PERSPECTIVA DO PACIENTE: A chamada pública de número 02/2023 para participar da Perspectiva do Paciente sobre o tema foi aberta de 13/02/2023 a 26/02/2023 e duas pessoas se inscreveram. O participante relatou que foi diagnosticado com LLC em 2009, quando tinha 50 anos de idade. O estágio da doença foi considerado Rai II e Binet B, com risco intermediário. Realizou o tratamento com FCR, em seis ciclos de aplicações. O primeiro foi realizado com o paciente internado, em dois dias de aplicação, o primeiro com rituximabe e o seguinte com a fludarabina e ciclofosfamida. Os ciclos seguintes foram realizados em ambulatório. Ele relatou que teve evento adverso, como a perda de neutrófilos, mas ao fim dos seis ciclos, que foi em junho de 2010, já estava estabilizado e com a LLC em remissão. RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR DA CONITEC: Os membros do Comitê de Medicamentos, presentes na 117ª Reunião Ordinária da Conitec, realizada no dia 28 de março de 2023, deliberaram por unanimidade que a matéria fosse disponibilizada em consulta pública com recomendação preliminar favorável à incorporação ao SUS do rituximabe associado à quimioterapia com fludarabina e ciclofosfamida para o tratamento de primeira linha da leucemia linfocítica crônica. Para essa recomendação, a Conitec considerou a tecnologia eficaz, segura e custo-efetiva. CONSULTA PÚBLICA: Foi realizada entre 02/05/2023 e 22/05/2023 a Consulta Pública nº 15/2023. Foram recebidas 14 contribuições, sendo 10 pelo formulário para contribuições técnico-científicas e quatro pelo formulário para contribuições de experiência ou opinião de pacientes, familiares, amigos ou cuidadores de pacientes, profissionais de saúde ou pessoas interessadas no tema. Das 10 contribuições técnico-científicas, sete foram de pessoa física (profissionais de saúde) e três de pessoa jurídica (organização de sociedade civil). Além das contribuições descritas no próprio formulário, também foram anexados quatro documentos: dois ofícios da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular ABHH; um ofício da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia ABRALE e uma nota da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais SES-MG. Todas as contribuições e documentos apresentaram argumentações favoráveis à recomendação preliminar da Conitec. Sobre as contribuições de experiência e opinião, foram quatro no total, todas enviadas por pessoas físicas, sendo três concordantes com a recomendação preliminar e uma que declarava não ter opinião formada sobre o tema. Todas as contribuições foram descritas no próprio formulário, nenhum documento foi anexado. Não foram enviadas contribuições discordantes da recomendação preliminar relacionadas às informações sobre evidências clínicas, avaliação econômica e impacto orçamentário. RECOMENDAÇÃO FINAL DA CONITEC: Os membros do Comitê de Medicamentos, presentes na 120ª Reunião Ordinária da Conitec, no dia 29 de junho de 2023, deliberaram por unanimidade, recomendar a incorporação do rituximabe associado à quimioterapia com fludarabina e ciclofosfamida para o tratamento de primeira linha da leucemia linfocítica crônica. Não foram acrescentadas informações durante a consulta pública que pudessem modificar a recomendação preliminar da Conitec. Foi assinado o Registro de Deliberação nº 835/2023. DECISÃO: Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o rituximabe associado à quimioterapia com fludarabina e ciclofosfamida para o tratamento de primeira linha.
Asunto(s)
Humanos , Leucemia Linfocítica Crónica de Células B/tratamiento farmacológico , Ciclofosfamida/uso terapéutico , Rituximab/uso terapéutico , Sistema Único de Salud , Brasil , Eficacia , Análisis Costo-Beneficio/economía , Combinación de MedicamentosRESUMEN
CONDIÇÃO CLÍNICA: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença que acomete os neurônios motores do sistema nervoso central, incluindo o tronco cerebral e a medula espinhal, causando, progressivamente, fraqueza e atrofia da musculatura esquelética. Os mecanismos patogenéticos da doença envolvem múltiplas alterações no microambiente do neurônio motor, incluindo o acúmulo de agregados de proteína, disfunção no processamento de RNA, estresse oxidativo, inflamação neural, apoptose, disfunções mitocondriais e fragmentação do complexo de Golg. Essas alterações podem ser causadas por diferentes fatores, que são divididos em: Genéticos: envolvidos principalmente nos casos hereditários de ELA, com mutações nos genes SOD1, TARDBP e FUS, C9orf72; Ambientais: exposição a chumbo, alumínio, fertilizantes, inseticidas, herbicidas e tabaco; Epigenéticos: metilação de DNA, edição de RNA e silenciamento pós-transcricional de RNA. TRATAMENTO: A ELA é uma doença para a qual não existe cura. O objetivo do tratamento é diminuir a velocidade de progressão da doença, melhorar da qualidade de vida (preservação de funcionalidade, diminuição da dor e manutenção da independência) e potencialmente aumentar a sobrevida livre de doença. Até o início da década de 1990, o riluzol era o único medicamento aprovado pelo United States Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de pacientes com ELA. No Brasil, o riluzol é o único medicamento aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento específico da ELA. ESTRATÉGIA DE BUSCA: Foi realizada uma busca na base de registros de ensaios clínicos ClinicalTrials.gov no dia 28 de outubro de 2022. O termo empregado para a busca foi "Amyotrophic Lateral Sclerosis". Foram considerados como critérios de inclusão medicamentos em fase 2/3 ou 3 de pesquisa clínica para avaliação da eficácia e segurança no tratamento da ELA. Foi levado em conta que, apesar de ser uma doença rara, o volume de tecnologias em desenvolvimento para o tratamento da ELA é grande e, portanto, considerou-se mais pertinente abordar apenas aquelas em fase mais avançada da pesquisa. MEDICAMENTOS: Tecnologias aprovadas em agências regulatórias Taurursodiol + fenilbutirato de sódio. A associação de dose fixa composta por taurursodiol e fenilbutirato de sódio (Relyvrio) é um medicamento desenvolvido para reduzir a morte neuronal em pacientes com ELA, a partir de mitigação do estresse do retículo endoplasmático e da disfunção mitocondrial. O taurursodiol atua sobre receptores de membrana (TGR5, S1PR2 e α5ß1-integrina) envolvidos na atividade mitocondrial e responsáveis pela apoptose de células neurais. Já o fenilbutirato de sódio age como um inibidor da histona desacetilase, envolvida em mecanismos epigenéticos de remodelamento na estrutura da cromatina e no controle da expressão gênica. Portanto, taurursodiol e fenilbutirato de sódio atuam contornando, simultaneamente, disfunções do retículo endoplasmático e mitocondrial, o que reduz a morte neuronal. Edaravone: O edaravone é uma tecnologia sequestradora de radicais livres de peroxil e peroxinitrito, com potencial capacidade de reduzir a morte neuronal por meio de diminuição do estresse oxidativo. Esse medicamento está formulado tanto em apresentação para administração intravenosa quanto oral. Tecnologias em avaliação para registro: Tofersen Tofersen é um oligonucleotideo sintético antissentido de RNA, inibidor do gene da superóxido dismutase 1 (SOD1), que está em desenvolvimento para o tratamento da ELA com mutações SOD1. No FDA, a tecnologia está em processo de avaliação e sua fabricante, Biogen Inc., foi solicitada a fornecer mais informações sobre o medicamento - a decisão está prevista para abril de 2023. No EMA, o Tofersen recebeu designação de droga órfã em agosto de 2016. Foram encontrados dois estudos: VALOR (NCT03070119) e ATLAS (NCT04856982). Tecnologias emergentes. Foram identificadas 16 tecnologias emergentes para ELA. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A ELA é uma doença rara, progressiva e com alto impacto na vida das pessoas acometidas, sendo associada à paralisia motora progressiva e à ventilação mecânica permanente. Atualmente, há poucas opções terapêuticas com potencial de modificar o curso da doença, que pode ser fatal. Duas tecnologias identificadas neste documento para o tratamento da ELA estão aprovadas no FDA: formulação de dose fixa de taurursodiol/fenilbutirato de sódio e edaravone. Apesar das limitações dos estudos, a agência justificou a aprovação das tecnologias devido ao pequeno número de opções terapêuticas disponíveis para pacientes com ELA. Além dessas duas tecnologias, o FDA avalia atualmente o medicamento torfersen, cuja decisão está prevista para a primeira metade do ano 2023. Nenhuma das três tecnologias está aprovada pela EMA e pela Anvisa. Apesar dos estudos recentes relacionados ao edaravone e taurursodiol/ fenilbutirato de sódio apresentarem alguns resultados positivos em desfechospesquisados, esses estudos também apresentam limitações, como pequeno tamanho amostral, curta duração e potenciais eventos adversos graves relacionados à via de administração do medicamento (como é o caso do tofersen). Cita-se, também, a baixa correlação entre o ALSFRS-R, principal ferramenta utilizada para mensuração de desfecho clínico, com o prognóstico. Foram encontradas outras 16 tecnologias emergentes. Dessas, apenas três possuem ensaios clínicos de fase 3 com resultados publicados: levosimendan, metilcobalamina e debamestrocel. As conclusões acerca da efetividade e segurança dessas tecnologias devem ser interpretadas com cautela, pois há poucas publicações de artigos científicos e de resultados no ClinicalTrials.gov. A despeito das evidências aqui apresentadas, para que ocorra a oferta desses medicamentos no SUS, é necessária a análise pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), conforme disposto na Lei nº 12.401/2011, que alterou a Lei nº 8.080/1990. Os relatórios de recomendação da Conitec levam em consideração as evidências científicas sobre eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, assim como a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas e o impacto da incorporação da tecnologia no SUS.
Asunto(s)
Humanos , Fenilbutiratos/uso terapéutico , Integrina alfa5beta1/uso terapéutico , Edaravona/uso terapéutico , Esclerosis Amiotrófica Lateral/tratamiento farmacológico , Brasil , Eficacia , Análisis Costo-Beneficio/economía , Proyectos de Desarrollo Tecnológico e InnovaciónRESUMEN
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS), uma doença crônica, é um grave problema de saúde pública, caracterizada por níveis elevados e persistentes da pressão sanguínea, medidos em geral como uma razão da pressão arterial sistólica e diastólica (respectivamente maior ou igual a 140 mmHg; e/ou maior ou igual a 90 mmHg). Esta é uma doença altamente prevalente em todo o mundo. No Brasil, os números podem variar de acordo com a metodologia utilizada. Reportou-se na Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, cujos dados são obtidos por autorrelato, a prevalência de hipertensão em 21% dos pacientes, mas ao considerar a aferição da pressão arterial e uso de medicamentos, o percentual de adultos com pressão arterial ≥140/90 mmHg foi de 32%. Sabe-se que a falta de controle da pressão arterial pode elevar o risco de ocorrência de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, doenças renais, entre outros. Isso consequentemente pode causar problemas crônicos que reduzem a qualidade de vida do indivíduo, e até mesmo o óbito. Além de toda carga da doença gerada ao paciente, a HAS ainda está relacionada a uma carga econômica. PERGUNTA
Asunto(s)
Humanos , Losartán/administración & dosificación , Hidroclorotiazida/administración & dosificación , Hipertensión/tratamiento farmacológico , Sistema Único de Salud , Brasil , Eficacia , Análisis Costo-Beneficio/economía , Combinación de MedicamentosRESUMEN
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS), uma doença crônica, é um grave problema de saúde pública, caracterizada por níveis elevados e persistentes da pressão sanguínea, medidos em geral como uma razão da pressão arterial sistólica e diastólica (respectivamente maior ou igual a 140 mmHg; e/ou maior ou igual a 90 mmHg). Esta é uma doença altamente prevalente em todo o mundo. No Brasil, os números podem variar de acordo com a metodologia utilizada. Reportou-se na Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, cujos dados são obtidos por autorrelato, a prevalência de hipertensão em 21% dos pacientes, mas ao considerar a aferição da pressão arterial e uso de medicamentos, o percentual de adultos com pressão arterial ≥140/90 mmHg foi de 32%. Sabe-se que a falta de controle da pressão arterial pode elevar o risco de ocorrência de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, doenças renais, entre outros. Isso consequentemente pode causar problemas crônicos que reduzem a qualidade de vida do indivíduo, e até mesmo o
Asunto(s)
Humanos , Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina/administración & dosificación , Amlodipino/administración & dosificación , Hipertensión/tratamiento farmacológico , Sistema Único de Salud , Brasil , Eficacia , Análisis Costo-Beneficio/economía , Combinación de MedicamentosRESUMEN
INTRODUÇÃO: La epilepsia resistente a fármacos es un problema de salud relevante, dada la prevalencia esperada, la afectación de la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, los costos sanitarios y sociales. Las encefalopatías epilépticas se asocian a un deterioro neurológico progresivo y riesgo de muerte súbita en la medida que las crisis no son controladas. Existen más de 22 medicamentos anticrisis comercializados en Argentina, pero pese a esto, se estima que un porcentaje considerable de algunos síndromes epilépticos no logran controlar su enfermedad. Se define epilepsia resistente a fármacos cuando no se logra el control de la enfermedad pese al uso adecuado de dos o más medicamentos anticrisis en dosis y tiempo adecuados. El Cannabidiol (CBD) es un fármaco que posee efectos antiepilépticos por mecanismos no del todo aclarados, no posee efectos psicoactivos ni se encuentra dentro del listado de estupefacientes. Formas farmacéuticas de CBD de administración oral fueron autorizados por agencias regulatorias en Estados Unidos, Europa, Brasil y Argentina para tratamiento de ciertos síndromes epilépticos. OBJETIVO: El objetivo general del presente informe es evaluar la eficacia y seguridad de CBD en epilepsia resistente a fármacos, así como su impacto en los presupuestos sanitarios, en la equidad y en la salud pública. Se realizó un informe de Evaluación de Tecnología Sanitaria a cargo de un equipo multidisciplinario, donde se consultaron Sociedades médicas especialistas en epilepsia y Asociaciones de pacientes con epilepsia y sus familiares. METOLOGÍA: Se buscó en los sitios públicos de Pubmed, LILACS, BRISA/REDETSA, CRD (del inglés Centre for Reviews and Dissemination- University of York), Cochrane; en "buscadores genéricos de internet" y sociedades científicas. En lo que respecta a agencias de Evaluación de Tecnología Sanitaria y reguladores de medicamentos se buscó en: NICE (del inglés, National Institute for Health and Clinical Excellence) del Reino Unido; PBAC (del inglés, The Pharmaceutical Benefits Advisory Committee) de Australia; CADTH (del inglés, Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health) de Canadá, CONITEC (del portugués, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologías no SUS) de Brasil, SIGNNHS de Escocia, HAS (del francés, Hauté Autorité de santé) de Francia, Cuadro General de Alemania (del alemán, Gemelnsamen Bundesausschusses), Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia de España, ANMAT de Argentina, FDA (del inglés, Food and Drug Administration) de Estados Unidos y EMA (del inglés, European Medicines Agency) de Europa. Se complementó con búsqueda en sitios de NCPE (del inglés, National Centre for Pharmacoeconomics) de Irlanda, ATTC (su sigla del inglés, Advanced Therapy Treatment Centre) Gales. Se realizó en primer término una búsqueda sensible de fuentes secundarias de evidencia (revisiones sistemáticas) en Medline, con las siguientes palabras clave: (cannabidiol) AND (epilepsy), con el filtro Revisiones sistemáticas y luego de ensayos clìnicos controlados aleatorizados, y luego estudios observacionales, sin restricciones de fecha ni idioma. Ver estrategia de búsqueda en anexo I. También se buscó en Cochrane, en Tripdatabase, en Epistemonikos y en LILACS (ver diagrama de flujo). Se revisó en ClinicalTrial.gov la próxima o reciente publicación de nuevos estudios en marcha. Se buscaron informes en la Base de Informes de ETS BRISA de OPS-RedETSA y se consultó en la página de OMS la última versión 2021 del Listado de Medicamentos Esenciales y la existencia de Guías Clínicas sobre epilepsia. RESULTADOS: Luego de realizar la estrategia de búsqueda exhaustiva de estudios siguiendo los criterios establecidos en el apartado metodológico, se procedió a la eliminación de artículos que no cumplían con los criterios de interés planteados en la pregunta PICO, tanto a través de la lectura del título y del resumen (en una primera instancia) como de la lectura crítica completa de los trabajos potencialmente relevantes (segunda instancia). Se identificaron 2 Meta-Análisis de estudios controlados randomizados. Uno de ellos no se encontraba actualizado, existiendo un nuevo ECCA publicado que no se estaba incluido y el otro Meta-análisis identificado se enfocaba solamente en un problema de salud (SGL). Además, se identificaron 6 ECCA que comparaban al CBD con placebo en add-on therapy (ver Anexo). No se identificaron ECCA donde se haya comparado CBD con otros MAC, lo que resulta de gran trascendencia para la interpretación de la evidencia disponible. Se realizó un meta-análisis de elaboración propia en el software RevMan. Los puntos finales fueron dicotómicos en su mayoría (control de crisis, reducción del 50% de las crisis, status epiléptico, muerte, eventos adversos que llevan a la suspensión del tratamiento, eventos adversos totales, eventos adversos serios). Los puntos finales reducción del número de crisis diarias, y la calidad de vida medida en la escala QoL Childhood Epilepsy se abordaron en los ECA como diferencia de medias, utilizándose el mismo abordaje en el meta-análisis. El estudio de Thiele 2020 contaba con tres ramas comparando placebo y dos dosis distintas de CBD, donde se lo incluyó en el meta-análisis como dos estudios distintos con su población correspondiente a cada rama de tratamiento. Inicialmente todos los pacientes fueron incluidos en el meta-análisis, realizándose luego análisis de subgrupos según el síndrome epiléptico causal (Dravet, Lennox-Gastaut y Esclerosis Tuberosa). CONCLUSIONES: No se halló evidencia que compare cannabidiol contra otros medicamentos anticrisis, como tampoco evidencia a largo plazo contra el agregado de placebo. Evidencia de moderada certeza mostró que probablemente el agregado de CBD, como terapia complementaria (add-on therapy) a medicamentos anticrisis, logró una reducción del número de crisis diarias y una reducción del 50% del número de crisis frente al agregado de placebo en personas mayores de dos años de edad con epilepsia resistente a fármacos con Síndrome de Lennox-Gastaut, Síndrome de Dravet y Complejo Esclerosis Tuberosa al mediano plazo. Mientras que con evidencia de baja a moderada certeza no se observaron mejoras en la calidad de vida o reducción total de las convulsiones para esta comparación en la población y seguimiento mencionados. Para los eventos adversos evaluados, existe evidencia de moderada certeza que muestra que el agregado de cannabidiol probablemente aumente los eventos adversos totales, gastrointestinales, eventos que llevan a la suspensión del tratamiento y como también serios respecto a agregado de placebo en la población y seguimiento mencionados. El precio de venta al público de las presentaciones de cannabidiol disponible en Argentina son superiores al de sus comparadores, resultando el impacto presupuestario de su incorporación en un desembolso adicional anual que superaría el umbral de alto impacto presupuestario para nuestro sistema de salud en la población evaluada. Las recomendaciones y políticas de cobertura identificadas mayormente de países de altos ingresos recomiendan el empleo de esta tecnología como una opción en epilepsia resistente a fármacos con Síndrome de Lennox-Gastaut y Síndrome de Dravet. Las políticas de cobertura identificadas que dan cobertura son muy precisas en cuanto a los síndromes, grupos etarios y número de medicamentos anticrisis previos, como también los criterios de suspensión, para poder acceder al cannabidiol. Aunque, los países de la región identificados no lo aprueban o no lo mencionan, Argentina cuenta con el Programa Nacional de Investigación sobre los Usos Medicinales de Cannabis en el Ministerio de Salud de la Nación que brinda cobertura para la tecnología en las poblaciones evaluadas.
Asunto(s)
Humanos , Cannabidiol/uso terapéutico , Epilepsia Refractaria/tratamiento farmacológico , Argentina , Eficacia , Análisis Costo-Beneficio/economíaRESUMEN
INTRODUÇÃO: Brincidofovir es un profármaco y un inhibidor de la polimerasa de ADN análogo de nucleótido de ortopoxvirus que se convierte intracelularmente en el análogo de nucleótido cidofovir, que se fosforila a difosfato de cidofovir, la fracción activa que tiene actividad antiviral contra el virus de la viruela. La incorporación de cidofovir en la cadena de ADN viral en crecimiento da como resultado reducciones en la tasa de síntesis de ADN viral. Se administra por vía oral en comprimidos o suspensión oral a 200 mg una vez a la semana en dos dosis para personas con 48 kg o más, mientras que para personas de 10 a 48 kg la suspensión oral se administra a 4 mg/kg una vez a la semana en dos dosis. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, su sigla del inglés Food and Drug Administration) de los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, su sigla del inglés European Medicines Agency) han autorizado para el año 2021 la comercialización brincidofovir (TEMBEXA®) para el tratamiento de la viruela, sin embargo, todavía no han ampliado su indicación a viruela símica. OBJETIVO: El objetivo del presente informe es evaluar parámetros de eficacia, seguridad, conveniencia y recomendaciones disponibles acerca del empleo de brincidofovir y cidofovir para el tratamiento de personas con viruela símica en Argentina. MÉTODOS: Teniendo en cuenta la velocidad con la que la información relacionada a la epidemia aparece y se modifica, se desarrollará un protocolo sustentado en proyectos que resume activamente la evidencia científica a medida que la misma se hace disponible. Desarrollaremos una síntesis de evidencia viva, dado el contexto actual de producción de la evidencia y necesidad actualizada de información de calidad para la toma de decisiones en salud.13,14 Con este fin se utilizará la plataforma L-ove de Epistemonikos (https://app.iloveevidence.com/topics) para identificar revisiones sistemáticas "vivas". Se seleccionarán aquellas con una calidad metodológica apropiada evaluada a través de la herramienta AMSTAR-2, y que a su vez llevaran un proceso de actualización frecuente. De cada una de las revisiones sistemáticas vivas identificadas se extractarán los efectos de la intervención sobre los desenlaces priorizados como importantes o críticos y la certeza en dichos efectos. Para la priorización de los desenlaces se adoptará una perspectiva desde el paciente considerando sus potenciales preferencias. La selección se realizará por consenso entre los autores y supervisores del informe considerando los protocolos de ensayos clínicos registrados y publicados, y las cohortes de pacientes con viruela símica. Se seleccionaron "mortalidad", "hospitalización", "mejoría clínica" (tiempo hasta la mejoría subjetiva, aparición de nuevas lesiones, todas las lesiones con costra y una capa de piel sana), "eventos adversos graves" como desenlaces críticos e importantes. Adicionalmente, se extractarán datos relacionados con efectos de subgrupo potencialmente relevantes para la toma de decisión, con especial énfasis en el tiempo de evolución, la severidad de la enfermedad y el estado inmunológico. Para confeccionar las conclusiones en el efecto de las intervenciones evaluadas sobre los desenlaces priorizados, utilizamos lineamientos publicados, específicamente desarrollados a tal fin. RECOMENDACIONES: Para la identificación de recomendaciones sustentadas en evidencia y actualizadas, se utilizarán motores de búsqueda de recomendaciones y directrices basadas en evidencia: ACCESSSS, ECRI, BIGG Database, MAGIC authoring and publication platform (MAGICapp), BIGG-REC, National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), National Guideline Clearinghouse (NGC), New Zealand Guidelines Group (NZGG), Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), American College of Physicians (ACP), Association of the Scientific Medical Societies in Germany (AWMF) Guidelines Register, Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI), Canadian Medical Association (CMA), GuiaSalud. Se seleccionarán aquellas guías con rigor metodológico apropiado (Dominios 3 y 4 según la herramienta AGREE II => 60%) y se incorporaron sus recomendaciones al informe. RESULTADOS: Se identificó una revisión sistemática que cumplió con los criterios de inclusión del presente informe y reportó resultados: Se identificó 1 ECA registrado en fase 1 que evalúa el uso de brincidofovir endovenoso. Las tecnologías no están autorizadas para su comercialización en Argentina y no se encuentran disponible al momento de la realización del presente informe. No se halló información relacionada con valores y preferencias de las personas con viruela símica. CONCLUSIONES: No se halló evidencia que permita evaluar los efectos en la salud relacionados con el empleo de brincidofovir y cidofovir en pacientes expuestos o con viruela símica. Las tecnologías no están autorizadas para su comercialización por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de nuestro país al momento de la fecha de realización del presente informe. Se estima que brincidofovir y cidofovir cumplen criterios para ser utilizados en el marco del uso de emergencia monitoreado de intervenciones no registradas y experimentales (MEURI). No se identificaron guías de práctica clínica de adecuada calidad metodológica actualizadas que mencionen las tecnologías en la indicación evaluada.
Asunto(s)
Humanos , Profármacos/uso terapéutico , Inhibidores de la Síntesis del Ácido Nucleico/uso terapéutico , Viruela del Mono/tratamiento farmacológico , Argentina , Eficacia , Análisis Costo-BeneficioRESUMEN
INTRODUÇÃO: O vírus da hepatite C (HCV) contempla ao menos sete genótipos diferentes e 67 subtipos de vírus. A hepatite C crônica é uma doença de caráter insidioso e se caracteriza por um processo inflamatório persistente. Na ausência de tratamento, há cronificação em 60% a 85% dos casos e, em média, 20% evoluem para cirrose. Na vigência da cirrose hepática, o risco anual para evolução para carcinoma hepatocelular é de 1% a 5%. Estimase que cerca de 58 milhões de pessoas estejam infectadas pelo HCV, com a doença crônica, em todo o mundo e, cerca de 400 mil por ano morrem devido a complicações da doença, principalmente em decorrência da cirrose. No Brasil estima-se prevalência de 0,7%, correspondendo a cerca de 700 mil casos na faixa etária de 15 a 69 anos, até o ano de 2016. Entre os anos 2000 e 2021, foram notificados no Brasil 279.872 casos confirmados de hepatite C. O medicamento desta demanda engloba os inibidores pangenotípico da RNA polimerase NS5B (sofosbuvir), da proteína NS5A (velpatasvir) e da protease NS3/4A (voxilaprevir) para retratar pacientes que não alcançaram resposta virológica sustentada com os tratamentos disponibilizados no SUS. PERGUNTA DE PESQUISA: Vosevi®(sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) é eficaz, seguro e economicamente viável para o tratamento de pacientes com hepatite C crônica sem cirrose ou com cirrose compensada (Child-Pugh A), para todos os genótipos (1 a 6) que tenham sido previamente tratados com antiviral de ação direta com um regime contendo ou não um inibidor de NS5A? EVIDÊNCIAS CLÍNICAS: : O demandante realizou as buscas na literatura utilizando as seguintes bases de dados: The Cochrane Library, Medline via PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Centre for Reviews and Dissemination (CRD), e resultou na inclusão de 3 publicações. Na análise conduzida pela Secretaria Executiva foram consideradas 2 publicações referentes a um ensaio clínico randomizado. O estudo POLARIS-1 comparou SOF/VEL/VOX com placebo, incluiu 415 pacientes com hepatite C, previamente tratados, sem cirrose ou com cirrose compensada. A proporção de pacientes que alcançaram resposta virológica sustentada (RVS) em 12 semanas de tratamento foi de 96,2% (IC 95% 93,1 a 98,2) no grupo que recebeu a intervenção. Os pacientes que receberam placebo na primeira fase do estudo, posteriormente receberam a intervenção, compondo a subanálise do estudo, que contemplou 143 pacientes. A RVS foi alcançada por 97% dos pacientes (IC 95% 93 a 99). No grupo que recebeu SOF/VEL/VOX, 78% dos pacientes tiveram pelo menos um evento adverso (EA), sendo os mais frequentes: cefaleia (25%), fadiga (21%), diarreia (18%) e náusea (14%). A maioria dos EA foram graus 1 e 2 (leve ou moderado). EA grau 3 ou grau 4 foram reportados em cinco pacientes (1,9%) no grupo SOF/VEL/VOX e em quatro pacientes (2,6%) no grupo placebo. Um total de cinco pacientes (1,9%) tiveram EA grave no grupo SOF/VEL/VOX e sete pacientes (4,6%) no grupo placebo. Não houve registro de mortes durante o estudo. AVALIAÇÃO ECONÔMICA: O demandante apresentou uma análise de custo-minimização utilizando como comparador o tratamento atualmente recomendado no SUS por meio do Ofício Circular nº 6/2022/CGAHV/DCCI/SVS/MS, glecaprevir/pibrentasvir com ou sem ribavirina. Com base nos valores de compras públicas, preço do medicamento SOF/VEL/VOX publicado pela CMED, e o tempo de tratamento de cada um dos medicamentos, o tratamento com SOF/VEL/VOX resultou em economia de R$ 336,84 por paciente, quando comparado com glecaprevir/pibrentasvir, e economia de R$ 1.232,84 por paciente se comparado com glecaprevir/pibrentasvir + ribavirina. ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO: O demandante comparou os custos atuais do tratamento glecaprenvir/pibrentasvir ± ribavirina com SOF/VEL/VOX. O demandante estimou um total de 2.129 pacientes elegíveis para 2022, e 1.362 pacientes para 2026. A Secretaria-Executiva com o apoio da Coordenação-Geral de Vigilância do HIV/Aids e das hepatites virais utilizou dados mais condizentes com a realidade e assim estimou a população mínimia e máxima elegível. Com base nos dados e no market-share proposto pelo demandante, a incorporação de SOF/VEL/VOX geraria economia de recursos equivalente a aproximadamente R$ 569 mil no primeiro ano de incorporação, totalizando economia de aproximadamente R$ 4,7 milhões no acumulado de cinco anos. Com a população recalculada, a economia seria de aproximadamente R$ 1,3 milhões ou aproximadamente R$ 934 mil em 5 anos, considerando a população mínima ou máxima respectivamente. MONITORAMENTO DO HORIZONTE TECNOLÓGICO: Não foram identificados medicamentos em desenvolvimento ou estudos clínicos em andamento com novos medicamentos para o retratamento de hepatite C crônica sem cirrose ou com cirrose compensada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados do ensaio clínico sugerem que o tratamento com sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir é eficaz e seguro no retratamento da hepatite C na população elegível. No estudo de custo-minimização o tratamento mostrou-se mais econômico em comparação ao tratamento atualmente disponibilizado no SUS. Na análise do impacto orçamentário, a incorporação do medicamento resultaria em economia de recursos, desde que o demandante mantenha o valor proposto. RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR DA CONITEC: Os membros do Plenário presentes na 112ª Reunião Ordinária da Conitec, realizada no dia 01 de setembro de 2022, sem nenhuma declaração de conflito de interesse, deliberaram por unanimidade, encaminhar o tema para consulta pública com recomendação preliminar favorável à incorporação de sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir para o retratamento de pacientes com hepatite C crônica, sem cirrose ou com cirrose compensada (Child-Pugh A), infectados por vírus com genótipos 1 a 6, previamente tratados com antivirais de ação direta (DAAs), com ou sem inibidor de NS5A. Os membros consideraram a evidência científica suficiente e favorável à tecnologia, mostrou-se econômica, tanto na análise de custo-minimização, quanto no impacto orçamentário, e será mais uma opção de tratamento, junto com glecaprevir/pibrentasvir, gerando assim, concorrência de mercado e acesso. CONSULTA PÚBLICA: Entre os dias 23/09/2022 e 13/10/2022 foram recebidas 32 contribuições, sendo sete pelo formulário para contribuições técnico-científicas e 25 pelo formulário para contribuições sobre experiência ou opinião de pacientes, familiares, amigos ou cuidadores de pacientes, profissionais de saúde ou pessoas interessadas no tema. Todos foram a favor da incorporação de sofosbuvir+velpastavir+voxilaprevir no SUS. O principal benefício apontado nas contribuições técnico-científicas versaram sobre a eficácia, tolerância ao tratamento, comodidade posológica, qualidade de vida dos pacientes, alternativa terapêutica, e economia de recursos. Não houve nenhum acréscimo de dados de evidência clínica, atualização na avaliação econômica ou impacto orçamentário. A empresa detentora do registro do medicamento reforçou seu compromisso em manter o preço teto de R$ 334,27 por comprimido, o qual representa um desconto de 79% sobre o PMVG 18%. Nas contribuições de experiência e opinião, um formulário foi excluído por não se tratar da tecnologia em análise. Assim, dos 24 participantes elegíveis, todos se manifestaram em acordo com a decisão preliminar da Conitec. Para demonstrar opinião favorável à incorporação dos medicamentos, os respondentes argumentaram a importância de garantir acesso aos medicamentos a todos; a importância dele para a recuperação dos pacientes; a alta taxa de resposta. Em relação à experiência com o medicamento, os participantes indicaram, entre os efeitos positivos do uso do medicamento, o aumento na qualidade de vida dos pacientes; a alta taxa de resposta e recuperação total dos pacientes. A experiência com outras tecnologias indicou outros medicamentos que têm condições e efeitos parecidos aos medicamentos avaliados, como ledispavir e daclatasvir. Apenas para o interferon foram destacados efeitos negativos relacionados aos efeitos colaterais. RECOMENDAÇÃO FINAL DA CONITEC: Os membros do Plenário da Conitec, em sua 114ª Reunião Ordinária, realizada no dia nove de novembro de 2022, deliberaram por unanimidade, recomendar a incorporação no SUS do sofosbuvir+velpastavir+voxilaprevir para o retratamento de pacientes com hepatite C crônica, sem cirrose ou com cirrose compensada (Child-Pugh A), infectados por vírus com genótipos 1 a 6, previamente tratados com antivirais de ação direta, com inibidor NS5A, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Foi assinado o Registro de Deliberação nº 779/2022. DECISÃO: Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir para o retratamento de pacientes com hepatite C crônica, sem cirrose ou com cirrose compensada (Child-Pugh A), infectados por vírus com genótipos 1 a 6, previamente tratados com antivirais de ação direta (DAAs), com inibidor de NS5A, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme a Portaria nº 163, publicada no Diário Oficial da União nº 226, seção 1, página 217, em 2 de dezembro de 2022.
Asunto(s)
Humanos , Hepatitis B Crónica/tratamiento farmacológico , Sofosbuvir/uso terapéutico , Inhibidores de Proteasas HCV NS3-4A/uso terapéutico , Sistema Único de Salud , Brasil , Análisis Costo-Beneficio/economía , Combinación de MedicamentosRESUMEN
CONDIÇÃO CLÍNICA: A Epidermólise Bolhosa (EB) é uma doença congênita, não contagiosa pertencente a um grupo de doenças cutâneas geneticamente transmitidas, cuja principal característica é a formação de bolhas após trauma mínimo espontâneo ou mecânico. Alguns indivíduos podem apresentar deformidades das mãos e nos pés (pseudosindactilia), anemia ferropriva, perdas de unhas e dentes, escaras na córnea, atrasos de desenvolvimento devido à desnutrição e risco de desenvolvimento de câncer nas lesões crônicas. A EB é causada por mutações em pelo menos 20 genes diferentes, sendo os KRT5, KRT14, PLEC e COL17A1 os principais genes citados na literatura. Ademais, sua classificação é complexa, porque mutações nesses mesmos genes podem resultar em fenótipos clínicos distintos. As mutações causam a ausência ou a diminuição da codificação de proteínas estruturais podendo levar a redução da resistência da pele à tração da ferida. TRATAMENTO: O tratamento atual da EB é principalmente preventivo e de suporte, incluindo proteção contra forças mecânicas evitando fricção, tratamento precoce de feridas para prevenir infecções e proteção da ferida com curativos não adesivos adequados para permitir a cicatrização. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da EB, publicado em 2021, descreve os principais tratamentos para os pacientes com essa condição. As medidas terapêuticas da EB inclui terapia medicamentosa e não medicam
Asunto(s)
Humanos , Triterpenos/uso terapéutico , Cannabinol/uso terapéutico , Queratinocitos , Antraquinonas/uso terapéutico , Epidermólisis Ampollosa/tratamiento farmacológico , Colágeno Tipo VII/uso terapéutico , Proyectos de Desarrollo Tecnológico e Innovación , Células Madre Mesenquimatosas , Fibroblastos , Brasil , Eficacia , Análisis Costo-Beneficio/economíaRESUMEN
INTRODUÇÃO: O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia hematológica maligna caracterizada pela proliferação descontrolada de plasmócitos alterados na medula óssea, resultando na produção aumentada de imunoglobulinas não funcional (proteína monoclonal). O acúmulo destas imunoglobulinas e a interação dos plasmócitos com outras células da medula óssea resultam em anemia, lesões ósseas, infecções, hipercalcemia, injúria renal, fadiga e dor. A incidência mundial informada pelo Globocan é de 2,2 novos casos por 100.000 habitantes em homens e 1,5/100.000 em mulheres, com ocorrência, a nível mundial, de 176 mil novos casos e 117 mil mortes em 2020. Carfilzomibe é um agente antineoplásico, inibidor de proteassoma que se liga seletiva e irreversivelmente nos sítios ativos. Tem atividade antiproliferativa e pró-apoptóticas. PERGUNTA DE PESQUISA: Kyprolis® (carfilzomibe) em combinação com dexametasona é eficaz e seguro no tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recidivado ou refratário que receberam uma terapia prévia quando em comparação a bortezomibe, ciclofosfamida, dexametasona, cisplatina, doxorrubicina, doxorrubicina lipossomal, etoposídeo, melfalana, vincristina ou talidomida? EVIDÊNCIAS CLÍNICAS: O demandante realizou as buscas na literatura utilizando as seguintes bases de dados: The Cochrane Library, Medline via PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Centre for Reviews and Dissemination (CRD), o que resultou na inclusão de 14 publicações. Na análise conduzida pela Secretaria Executiva foram consideradas 12 publicações referentes a um ensaio clínico randomizado e uma publicação de revisão sistemática. O estudo ENDEAVOR foi um ensaio clínico de fase III, multicêntrico, aberto, que incluiu 929 participantes randomizados para receber carfilzomibe+dexametasona ou bortezomibe+dexametasona. A mediana de SLP foi 18,7 meses (IC 95%, 15,6 a não estimável) no grupo que recebeu carfilzomibe comparado a 9,4 meses (IC 95%, 8,4 a 10,4) no grupo que recebeu bortezomibe, resultando em uma magnitude de benefício absoluto de 9,3 meses (HR 0,53 [IC95% 0,44 a 0,65]; p< 0,0001). A duração mediana de resposta foi 21,3 meses (IC95% 21,3 a não estimável) no grupo carfilzomibe e 10,4 meses (IC95% 9,3 a 13,8) no grupo bortezomibe. Em ambos os grupos, 98% dos participantes apresentaram eventos adversos (qualquer grau), sendo a anemia (43% versus 28%), diarreia (36,7% versus 40,6%) e febre (32,6% versus 15,4%) os eventos mais frequentes nos grupos carfilzomibe e bortezomibe, respectivamente. Os eventos adversos mais comuns grau 3 ou maior foram reportados em 81,9% dos participantes do grupo carfilzomibe (n=379) e 71,1% no grupo bortezomibe (n=324), sendo a anemia (17,3% no grupo carfilzomibe e 10,1% no grupo bortezomibe), hipertensão (14,9% versus 3,3%), trombocitopenia (12,5% versus 14,7%),os três eventos mais frequentes. Insuficiência cardíaca grau 3 ou superior, foi mais frequente no grupo carfilzomibe (6%) que no grupo bortezomibe (2%.). AVALIAÇÃO ECONÔMICA: O demandante apresentou uma análise de custo-efetividade. Na análise do cenário base, em um horizonte temporal de 30 anos, carfilzomibe acrescentou ganhos incrementais de 1,19 QALY, resultando em uma razão de custo utilidade incremental (RCEI) de R$ 195.310,00 por QALY. No cenário proposto pela Secretária-Executiva (horizonte temporal de 10 anos e valor de utilidade derivada do estudo ENDEAVOR), carfilzomibe gerou benefício de 0,63 QALY, com RCEI de R$ 365.830,00 por QALY. ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO: Com o desconto apresentado pelo demandante, a incorporação de carfilzomibe ao SUS implica em custos adicionais ao sistema de saúde no montante de aproximadamente R$ 365 milhões em cinco anos. A principal limitação da análise foi a estimativa da população. MONITORAMENTO DO HORIZONTE TECNOLÓGICO: Foram identificadas 10 tecnologias potenciais para compor o esquema terapêutico de pacientes adultos com mieloma múltiplo recidivado ou refratário: Belantamabe mafodotin, Ciltacabtageno autoleucel, Elranatamab, Iberdomida, Idecabtagene vicleucel, Isatuximabe, nivolumabe, selinexor, teclistamab, venetoclax. Tais medicamentos são anticorpo monoclonal ligado a um antineoplásico, anticorpo biespecífico, anticorpo monoclonal, imumodulador, terapias baseadas em células T autólogas geneticamente modificadas (CAR-T), inibidor SINE, ou inibidor de Bcl-2. A maioria não possui registro na FDA, EMA ou Anvisa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados sugerem eficácia e segurança do carfilzomibe na população elegível, porém, no horizonte temporal de 10 anos, com QALY < 1, RCEI de R$ 365.830,00 por QALY e impacto orçamentário de aproximadamente R$ 17 milhões no primeiro ano de incorporação e R$ 131 milhões no 5º ano da incorporação, totalizando R$ 365 milhões em cinco anos. RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR DA CONITEC: Os membros do Plenário presentes na 109ª Reunião Ordinária da Conitec, realizada no dia 08 de junho de 2022, sem nenhuma declaração de conflito de interesse, deliberaram por unanimidade, encaminhar o tema para consulta pública com recomendação preliminar desfavorável à incorporação de carfilzomibe para o tratamento de mieloma múltiplo recidivado ou refratário no SUS. Os membros consideraram a evidência científica boa e favorável ao carfilzomibe, porém, a RCEI e o impacto orçamentário foram considerados muito altos para o tratamento de uma doença que já tem outras opções terapêuticas disponíveis no SUS. CONSULTA PÚBLICA: Entre os dias 08/07/2022 e 27/07/2022 foram recebidas 421 contribuições, sendo 152 pelo formulário para contribuições técnico-científicas e 269 pelo formulário para contribuições sobre experiência ou opinião de pacientes, familiares, amigos ou cuidadores de pacientes, profissionais de saúde ou pessoas interessadas no tema. A maioria foi a favor da incorporação de carfilzomibe no SUS (97% via formulário técnico-científico e 100%). O principal benefício apontado nas contribuições técnico-científicas foi sobre a eficácia, aumento da sobrevida e qualidade de vida, além da disponibilidade de mais uma opção terapêutica e promoção da igualdade no tratamento nos sistemas público e privado de saúde. A empresa detentora do registro do medicamento atualizou o preço do medicamento, e consequentemente os valores do impacto orçamentário e avaliação econômica. No impacto orçamentário o valor ficou em R$ 95,3 milhões em cinco anos. Nas contribuições de experiência e opinião, a totalidade dos respondentes discordou da recomendação preliminar da Conitec. No âmbito das opiniões e experiências positivas, foi mencionada a necessidade de garantir o acesso ao carfilzomibe, especialmente por representar uma alternativa para pacientes recidivados e refratários. Também foi citada a eficácia da tecnologia. Como dificuldades, destacou-se a falta de acesso pelo SUS. Em relação a outros medicamentos, foram mencionados benefícios, mas, também, a eficácia limitada no caso de pacientes recidivados. RECOMENDAÇÃO FINAL DA CONITEC: Os membros do Plenário da Conitec, em sua 112ª Reunião Ordinária, realizada no dia 31 de agosto de 2022, deliberaram por maioria simples, recomendar a não incorporação no SUS de carfilzomibe para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recidivado ou refratário, que receberam terapia prévia, no SUS. Não houve apresentação de dados clínicos adicionais. Com o preço do medicamento atualizado, ainda assim não se mostrou custo-efetivo. Foi assinado o Registro de Deliberação nº 765/2022. DECISÃO: Não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o carfilzomibe para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recidivado ou refratário, conforme a Portaria nº 107, publicada no Diário Oficial da União nº 184, seção 1, página 75, em 27 de setembro de 2022.
Asunto(s)
Humanos , Talidomida/administración & dosificación , Vincristina/administración & dosificación , Dexametasona/uso terapéutico , Doxorrubicina/administración & dosificación , Cisplatino/administración & dosificación , Ciclofosfamida/administración & dosificación , Etopósido/uso terapéutico , Inhibidores de Proteasoma/uso terapéutico , Bortezomib/administración & dosificación , Melfalán/administración & dosificación , Mieloma Múltiple/tratamiento farmacológico , Sistema Único de Salud , Brasil , Análisis Costo-Beneficio/economía , Combinación de MedicamentosRESUMEN
CONDIÇÃO CLÍNICA: O termo doença falciforme representa um grupo de doenças hereditárias, com apresentação multissistêmica, caracterizada por hemácias de formato anormal (em formato de foice) resultante de uma alteração na estrutura da hemoglobina (Hb). As células afetadas apresentam uma maior fragilidade e são removidas da circulação e destruídas. Esse grupo de doenças se manifesta com episódios de agudização e traz repercussões que causam danos progressivos à maioria dos órgãos, incluindo cérebro, rins, pulmões, ossos e sistema cardiovascular. A anemia falciforme, um dos tipos de doença falciforme, é um dos distúrbios monogênicos graves mais comuns em todo o mundo. A anemia falciforme é causada pela presença de hemoglobina-S (HbS), ou hemoglobina falciforme, em homozigose (HbSS). A HbS ocorre quando há a substituição de uma única base nitrogenada no gene que codifica a subunidade beta da hemoglobina (ß-globina), levando a substituição de ácido glutâmico por valina na cadeia dessa proteína. Quando a HbS é desoxigenada, a troca dos aminoácidos gera interação hidrofóbica com outra molécula de hemoglobina, desencadeando uma agregação em grandes polímeros. A polimerização da HbS é o evento primário na patogênese molecular da doença falciforme, o que causa a distorção da forma da hemácia e diminuição acentuada de sua plasticidade com consequente rigidez celular. Essa rigidez prejudica a capacidade de as hemácias transitarem por pequenos vasos, o que causa vaso-oclusão, seguida de isquemia e infarto tecidual. O infarto pode ocorrer em qualquer parte do corpo e é responsável pela manifestação clínica mais precoce: a crise de dor aguda. TRATAMENTO: O gerenciamento da doença falciforme visa a melhora na perfusão tecidual, controle de dor e prevenção, e manejo de complicações associadas à anemia, crise vaso-oclusiva (CVO) e infecções. A terapia modificadora de doença com hidroxiureia é o tratamento mais eficaz para doença falciforme até o momento. O efeito primário da terapia com hidroxiureia está relacionado ao aumento da produção da hemoglobina-fetal (HbF), reduzindo os níveis de HbS e, consequentemente, a falcização de hemácias e vaso-oclusão. De acordo com uma revisão sistemática da Cochrane de estudos clínicos randomizados e quase-randomizados, os benefícios clínicos esperados do tratamento com hidroxiureia incluem a diminuição na frequência de episódios de dor, melhora nos valores de hemoglobina fetal e contagem de neutrófilos, redução de episódios de síndrome torácica aguda e da necessidade de transfusões sanguínea. ESTRATÉGIA DE BUSCA: Uma busca foi realizada no banco de dados eletrônico ClinicalTrials.gov, no dia 28 de março de 2022. O termo empregado foi "Sickle cell" visando a maior sensibilidade da busca. Foram considerados os ensaios clínicos de fase 2/3 e 3 de avaliação de medicamento para o tratamento da doença falciforme. Dos 893 cadastros de estudos, 92 atendiam ao critério de elegibilidade referente à fase da pesquisa. Destes, os estudos em andamento ou concluídos nos últimos cinco anos foram selecionados, restando 35 registros. Desses registros, foram excluídos aqueles que não envolviam medicamentos ou não estavam relacionados à causa-base da doença. Também foram excluídos registros envolvendo o medicamento hidroxiureia, uma vez que esse tratamento já está disponível no SUS. Deste modo, sete substâncias foram selecionadas. Uma oitava tecnologia, a L-glutamina, foi incluída por ter recebido autorização recente da FDA para a indicação abordada neste documento, embora seus registros de estudos não se enquadrem nos critérios de fase ou tempo de início e conclusão em cinco anos. MEDICAMENTOS: TECNOLOGIAS NOVAS: L-glutamina: A L-glutamina é um precursor para a síntese de glutationa, nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) e arginina, substâncias que protegem os eritrócitos do dano oxidativo. No organismo, o NAD está presente em uma forma oxidada (NAD+) e reduzida (NADH). Ele é um cofator de oxidorredução (redox) onipresente nas hemácias e desempenha um papel central na manutenção do equilíbrio redox. É sabido que o estresse oxidativo contribui na fisiopatologia da doença falciforme. Crizanlizumabe: O crizanlizumabe é um anticorpo monoclonal humanizado seletivo de IgG2 kappa que promove a redução da frequência de CVOs e a inibição das interações multicelulares adesivas mediadas pela P-selectina. Esse medicamento está registrado nas agências pesquisadas, com a indicação para pacientes adultos e pediátricos a partir de 16 anos de idade com doença falciforme. Sua eficácia e segurança foram avaliadas no estudo pivotal SUSTAIN (NCT01895361), um estudo clínico de fase 2, multicêntrico, duplo-cego, randomizado e controlado por placebo, que avaliou 198 pacientes com doença falciforme e com histórico de CVOs, por um período de 52 semanas. Voxelotor: O voxelotor é um inibidor da polimerização da HbS, desenvolvido para o tratamento da doença falciforme em adultos e crianças. No FDA está indicado para crianças de 4 a 11 anos. Na EMA está indicado como opção terapêutica em pacientes a partir de 12 anos de idade. O HOPE (NCT03036813), estudo que embasou os registros nas agências EMA e FDA é um estudo de fase 3, multicêntrico, duplo-cego, randomizado e controlado por placebo, projetado para avaliar a eficácia e segurança do voxelotor. TECNOLOGIAS EMERGENTES: LentiGlobin BB305 (bb1111): A terapia gênica lovotibeglogene autotemcel (LentiGlobin; bb1111), desenvolvida pela bluebird bio®, é um tratamento experimental para a doença falciforme. Até a última atualização deste informe, não havia registro deste medicamento nas agências regulatórias pesquisadas. O FDA, no entanto, concedeu designação de medicamento órfão, fast track, terapia avançada de medicina regenerativa e de doença pediátrica rara para o lovotibeglogene autotemcel para doença falciforme. CTX-001: A CTX-001 é uma terapia celular geneticamente modificada investigada como tratamento potencial voltado para doenças de causas genéticas. O medicamento recebeu designação de droga órfã pela EMA53 e FDA, que também concedeu designação de terapia avançada de medicina regenerativa e fast track54,55. Até a última atualização desse informe, o medicamento não havia recebido registro nas agências pesquisadas. Etavopivat: O etavopivat é um ativador da piruvato quinase eritrocitária (PKR), que está sendo investigado pela Forma Therapeutics® como terapia modificadora de doença para o tratamento da doença falciforme e de outras hemoglobinopatias. Que recebeu designação de droga órfã pelas agências EMA e FDA e fast track pelo FDA60,61. Até a última atualização deste informe, a terapia não possuía registro nas agências pesquisadas. Inclacumabe: O inclacumabe é um anticorpo monoclonal IgG4 totalmente humanizado investigado para a potencial redução da frequência de CVOs causadas pela doença falciforme e internações hospitalares associadas. O medicamento promove a diminuição da formação de agregados plaquetas-leucócitos mediada pela p-selectina, reduzindo a frequência e gravidade das CVOs63,64 . Até a última atualização deste informe, o inclacumabe ainda não possuía registro nas agências FDA e EMA. Mitapivat: O mitapivat é um ativador de piruvato quinase, que recebeu designação de droga órfã pelo FDA para o tratamento da doença falciforme. A ação do mitapivat para o tratamento da doença falciforme baseia-se na ativação alostérica da piruvato quinase de eritrócitos, promovendo a redução dos níveis de 2,3-DPG e da falcização das hemácias. Os resultados sobre o mitapivat publicados até o momento são referentes segurança e tolerabilidade em diferentes doses, obtidos através de um estudo de fase 1, intervencional e não randomizado (NCT04000165), realizado em 17 indivíduos entre 18 e 70 anos de idade, com diagnóstico confirmado de anemia falciforme. Estudos em andamento Os dados dos estudos em andamento e sem resultados publicados sobre o LentiGlobin BB305, crizanlizumabe, voxelotor, etavopivat, inclacumabe e mitapivat. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Crizanlizumabe (SEG101), L-glutamina e voxelotor são as três tecnologias recentemente aprovadas pelas agências FDA e/ou EMA para o tratamento da doença falciforme. Esses medicamentos estão associados à boa tolerabilidade apesar da alta incidência de EAs. Seus benefícios clínicos relacionam-se à diminuição de crises de dor, CVOs e aumento dos níveis de hemoglobina. As evidências acerca das demais tecnologias discutidas neste informe devem ser analisadas com cautela uma vez que, mesmo aparentemente bem toleradas e com resultados clínicos que demonstram melhora no quadro da doença, precisam de resultados mais robustos para que seja possível estabelecer um perfil concreto a respeito da segurança e benefícios esperados. Para que ocorra a oferta desses medicamentos no SUS, é necessária a análise pela Conitec, conforme disposto na Lei nº 12.401/2011, que alterou a Lei nº 8.080/1990. Os relatórios de recomendação da Conitec levam em consideração as evidências científicas sobre eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, e, também, a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas e o impacto da incorporação da tecnologia no SUS.
Asunto(s)
Humanos , Inmunoglobulina G/uso terapéutico , Terapia Genética/instrumentación , eIF-2 Quinasa/uso terapéutico , Tratamiento Basado en Trasplante de Células y Tejidos/instrumentación , Glutamina/uso terapéutico , Anemia de Células Falciformes/tratamiento farmacológico , Brasil , Eficacia , Análisis Costo-Beneficio , Proyectos de Desarrollo Tecnológico e InnovaciónRESUMEN
ANTECEDENTES: Mediante Decreto Supremo N° 004-2022-SA, de fecha 30 de marzo de 2022, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 31336, Ley Nacional del Cáncer; la cual establece disposiciones técnicas para implementar la Ley, entre ellas: El Instituto Nacional de Salud (INS) en coordinación con la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA), elaborará y aprobará los documentos normativos necesarios para realizar las evaluaciones de tecnologías sanitarias (ETS) multicriterio de tal forma que todos sus miembros estandaricen sus procesos de ETS; y el Ministerio de Salud (MINSA) elaborará y aprobará los documentos normativos que establezcan el umbral de alto costo para el tratamiento de enfermedades oncológicas. Sin embargo, a la fecha aún no se han publicado ninguno de estos documentos; por lo que, no se podría determinar qué medicamentos superarían el umbral de alto costo y tendrían que ser remitidos a RENETSA. Por lo tanto, con los elementos disponibles a la fecha, aún no se puede seguir el proceso establecido en el Decreto Supremo N° 004-2022-SA y para evitar retrasar la atención de los asegurados, el IETSI continua con el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 003- IETSI-ESSALUD-2016, "Normativa para la autorización y uso de productos farmacéuticos no incluidos en el Petitorio Farmacológico de EsSalud", proceso que se encuentra enmarcado en la normativa nacional. ASPECTOS GENERALES: Los aspectos generales del carcinoma hepatocelular (CHC) se han descrito previamente en el Dictamen Preliminar de Evaluación de Tecnología Sanitaria N.° 003-SDEPFyOTSDETS-IETSI-2016 (IETSI-EsSalud 2016). Brevemente, el cáncer de hígado y de las vías biliares intrahepáticas es el sexto cáncer diagnosticado con más frecuencia en todo el mundo, con aproximadamente 906 000 nuevos casos notificados en 2020. Además, el cáncer primario de hígado es la tercera causa más común de mortalidad relacionada con el cáncer en todo el mundo, con más de 830 000 muertes en 2020 (International Agency for Research on Cancer 2020). El CHC es un cáncer primario de hígado que normalmente se desarrolla en el contexto de una enfermedad hepática crónica, particularmente en pacientes con cirrosis o infección crónica por el virus de la hepatitis B. Aproximadamente el 75 % de los tumores hepáticos primarios son CHC (McGlynn, Petrick, and El-Serag 2021). METODOLOGÍA: Se realizó una búsqueda sistemática utilizando las bases de datos PubMed, Cochrane Library, Web of Science y LILACS. Además, se realizó una búsqueda dentro de bases de datos pertenecientes a grupos que realizan evaluaciones de tecnologías sanitarias (ETS) y guías de práctica clínica (GPC), incluyendo el Scottish Medicines Consortium (SMC), el National Institute for Health and Care Excellence (NICE), la Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), la Haute Autorité de Santé (HAS), el Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud de Colombia (IETS), la Comissáo Nacional de Incorpornáo de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), entre otros. Asimismo, se revisó la Base Regional de Informes de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas (BRISA) y páginas web de sociedades especializadas en oncología, tales como: National Comprehensive Cancer Network (NCCN), American Society of Clinical Oncology (ASCO), y European Society for Medical Oncology (ESMO). Adicionalmente, se hizo una búsqueda en las páginas web del registro de ensayos clínicos administrado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (https://clinicaltrials.gov/) y de la International Clinical Trial Registry Platform (ICTRP) (https://apps.who.int/trialsearch/), para identificar ensayos clínicos en curso o cuyos resultados no hayan sido publicados. Las estrategias de búsqueda utilizadas en las bases de datos PubMed, Cochrane Library, Web of Science y LILACS se encuentran en las Tablas A, B, C y D del Material Suplementario. La búsqueda de literatura se limitó a GPC, ETS, revisiones sistemáticas con metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y ECA que abordaran la pregunta PICO del presente dictamen. RESULTADOS: La búsqueda de literatura permitió identificar 12 publicaciones: cinco GPC realizadas por NCCN (NCCN 2022), American Gastroenterological Association (AGA) (Su et al. 2022), ESMO (Vogel and Martinelli 2021), Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) (Greten et al. 2021) y ASCO (Gordan et al. 2020); cinco ETS elaboradas por SMC (SMC 2021), IQWiG (IQWiG 2021), HAS (HAS 2021), CADTH (CADTH 2020) y NICE (NICE 2021); y dos publicaciones del ECA IMbrave150 (Finn et al. 2020; Cheng et al. 2022). CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, el IETSI aprueba el uso de atezolizumab en combinación con bevacizumab para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con carcinoma hepatocelular no resecable o metastásico, según lo establecido en el Anexo N° 1. La vigencia del presente dictamen preliminar es de 1 año a partir de la fecha de publicación. La continuación de dicha aprobación está sujeta a la evaluación de los resultados obtenidos y de nueva evidencia que pueda surgir en el tiempo.
Asunto(s)
Humanos , Carcinoma Hepatocelular/tratamiento farmacológico , Bevacizumab/uso terapéutico , Anticuerpos Monoclonales/uso terapéutico , Metástasis de la Neoplasia/tratamiento farmacológico , Eficacia , Análisis Costo-Beneficio , Combinación de MedicamentosRESUMEN
ANTECEDENTES: En el marco de la metodología ad hoc para evaluar solicitudes de tecnologías sanitarias, aprobada mediante Resolución de Institución de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 111-IETSI-ESSALUD-2021, se ha elaborado el presente dictamen que expone la evaluación de la eficacia y seguridad de bevacizumab más capecitabina para el tratamiento de pacientes adultos mayores con cáncer colorrectal metastásico, ECOG 0-2, sin tratamiento previo, no tributario a quimioterapia basada en platino (oxaliplatino) ni irinotecán. Así, el médico Nelson Cuevas Muñoz, especialista en oncología médica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, siguiendo la Directiva N° 003-IETSIESSALUD-2016, envió al Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSI la solicitud de uso por fuera del Petitorio Farmacológico de EsSalud el producto farmacéutico producto bevacizumab más capecitabina. ASPECTOS GENERALES: En el Dictamen Preliminar N° 002-SDEPFYOTS-DETS-IETSI-2017 se detallan los aspectos generales del cáncer colorrectal metastásico (CCRM). Brevemente, en Perú, en el 2020, el CCR fue la quinta causa de muerte por cáncer en pacientes mayores de 65 años, con una tasa de muerte estandarizada por edad de 52 muertes por cada 100000 habitantes, y una incidencia ajustada por edad de 95 casos por cada 100000 habitantes (GLOBOCAN, 2020). En Estados Unidos, se ha estimado que el 20 % de los pacientes con CCR presentan enfermedad metastásica (Siegel et al., 2022), y que la sobrevida de cinco años en pacientes con CCRM es del 15 %, siendo la más baja comparada con el CCR localizado o regional (NIH, 2022). METODOLOGÍA: La búsqueda bibliográfica exhaustiva se llevó a cabo con el objetivo de identificar la mejor evidencia disponible sobre la eficacia y seguridad de bevacizumab más capecitabina para el tratamiento de pacientes adultos mayores con cáncer colorrectal metastásico, ECOG 0-2, sin tratamiento previo, no tributario a quimioterapia basada en platino (oxaliplatino) ni irinotecán. La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos PubMed, The Cochrane Library y LiLACS. Adicionalmente, se amplió la búsqueda revisando la evidencia generada por grupos internacionales que realizan revisiones sistemáticas, evaluaciones de tecnologías sanitarias y guías de práctica clínica, tales como: The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), The National Comprehensive Cancer Network (NCCN), The European Society for Medical Oncology (ESMO), The American Society of Clinical Oncology (ASCO), The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG), Scottish Medicines Consortium (SMC), Haute Autorité de Santé (HAS), lnstitute for Clinical and Economic Review (ICER), Agency for Healthcare Research and Quality's (AHRQ), National Health and Medical Research Council (NHMRC), New Zealand Guidelines Group (NZGG), Canadian Medical Association (CMA), American College of Physicians Clinical Practice Guidelines, Registered Nurses Association of Ontario (RNAO), y Comissáo nacional de incorporagáo de tecnologías no sus (CONITEC). Adicionalmente, se realizó una búsqueda manual en las bases The Guidelines International Network (G-I-N), el portal de la Base Regional de Informes de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas (BRISA), y el repositorio institucional de la Dirección General de .... V Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Finalmente, se realizó una búsqueda ... A manual en el portal ClinicalTrials.govdel National Institutes of Health (NIH) para identificar ensayos clínicos en desarrollo o que aún no hayan sido publicados. RESULTADOS: Luego de la búsqueda bibliográfica, se incluyeron seis GPC elaboradas por The Cancer Council Australia Colorectal Cancer Guidelines Working Party (CCACCGWP) (Nott et al., 2017), ASCO (Chiorean et al., 2020), The Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) (Hashiguchi et al., 2020), SIGN (SIGN, 2016), y la NCCN, que elaboró dos GPC, una para pacientes con cáncer de colon (NCCN, 2022a) y otra para pacientes con cáncer rectal (NCCN, 2022b). Además, se incluyó una ETS elaborada por CADTH (CADTH, 2015), y el ECA de fase III, denominado AVEX (Cunningham et al., 2013). CONCLUSIÓN: Por lo expuesto, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación no aprueba el uso de bevacizumab más capecitabina para el tratamiento de pacientes adultos mayores con cáncer colorrectal metastásico, ECOG 0-2, sin tratamiento previo, no tributario a quimioterapia basada en platino (oxaliplatino) ni irinotecán.
Asunto(s)
Humanos , Neoplasias Colorrectales/tratamiento farmacológico , Combinación de Medicamentos , Capecitabina/uso terapéutico , Bevacizumab/uso terapéutico , Irinotecán/economía , Oxaliplatino/economía , Metástasis de la Neoplasia/tratamiento farmacológico , Eficacia , Análisis Costo-BeneficioRESUMEN
INTRODUCCIÓN El molnupiravir (EIDD-2801 o MK-4482-013) es un profármaco de un análogo de ribonucleósido antivírico, que se administra por vía oral, y tiene actividad contra el SARS-CoV-2 in vitro. Actualmente la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, su sigla del inglés Food and Drug Administration) ha aprobado, bajo el esquema de autorización de uso de emergencia, la comercialización de molnupiravir en adultos con COVID-19 de leve a moderado, que tienen un alto riesgo de progresión a enfermedad grave, incluida la hospitalización o la muerte, y para quienes los tratamientos alternativos autorizados por la FDA no son accesibles o clínicamente apropiadas.(14) La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, su sigla del inglés European Medicine Agency) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aún no han autorizado su comercialización para ninguna indicación. El 4 de noviembre del 2021 la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido se ha convertido en el primer país del Mundo en autorizar su comercialización en personas que tienen COVID-19 de leve a moderado y al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave (como obesidad, edad avanzada (> 60 años), diabetes mellitus o enfermedades cardíacas). OBJETIVO: El objetivo del presente informe es evaluar parámetros de eficacia, seguridad, conveniencia y recomendaciones disponibles acerca del empleo de molnupiravir para el tratamiento de pacientes con COVID-19 en Argentina. MÉTODOS: Efectos en la Salud: Se desarrolló un protocolo sustentado en proyectos que resume activamente la evidencia científica a medida que la misma se hace disponible. Implementación: Este dominio contempla dos subdominios: la existencia de barreras y facilitadores en nuestro contexto para la implementación de la tecnología evaluada no consideradas en los otros dominios analizados, y los costos comparativos en relación con otras intervenciones similares. Con el objetivo de emitir un juicio de valor sobre la magnitud de dichos costos, en pacientes hospitalizados se utilizó como comparador al tratamiento con dexametasona, que ha demostrado ser una intervención accesible y de beneficios importantes en el contexto analizado. Recomendaciones: Para la identificación de recomendaciones sustentadas en evidencia y actualizadas, se utilizó la plataforma COVID recmap. RESULTADOS: Se identificaron dos revisiones sistemáticas que cumplieron con los criterios de inclusión del presente informe. Se identificaron seis ECA que incluyeron 3.653 pacientes con COVID-19, en los que se administró molnupiravir en comparación con el mejor estándar de atención. Se describen los efectos absolutos y la certeza en dichos efectos de molnupiravir para pacientes con COVID-19. CONCLUSIONES: El cuerpo de la evidencia muestra que existe incertidumbre en el efecto de molnupiravir sobre la mortalidade. Molnupiravir probablemente reduzca las hospitalizaciones en pacientes con enfermedad leve de reciente comienzo y factores de riesgo para progresión a enfermedad severa. Sin embargo, la magnitud de la reducción solo resulta importante (mayor a 1%) para pacientes sin esquema de vacunación completo o con riesgo de respuesta inmune inapropiada. La tecnología no está autorizada para su comercialización por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de nuestro país al momento de la fecha de realización del presente informe y se encuentra disponible en forma limitada en una sola provincia. Asimismo, el costo estimado es elevado, más aún teniendo en cuenta la elevada población objetivo a ser tratada. Las guías de práctica clínica de alta calidad metodológica actualizadas sugieren a favor de usar molnupiravir en pacientes con alto riesgo de hospitalización, no vacunados y con factores de riesgo (edad e inmunocomprometidos).
Asunto(s)
Humanos , Ribonucleósidos/uso terapéutico , Profármacos/uso terapéutico , SARS-CoV-2/efectos de los fármacos , COVID-19/tratamiento farmacológico , Eficacia , Análisis Costo-BeneficioRESUMEN
INTRODUÇÃO: A osteoporose, doença que aumenta da fragilidade óssea e suscetibilidade à fratura, afeta cerca de 200 milhões de pessoas no mundo. No geral, a prevalência de osteoporose em estudos brasileiros varia de 6% a 33% dependendo da população e outras variáveis avaliadas. Entre os indivíduos com osteoporose, aqueles que apresentaram fratura osteoporótica têm duas vezes o risco para nova fratura. Para evitar novas fraturas, o tratamento preconizado deve incluir estratégias medicamentosas e não medicamentosas. Entre as medicamentosas, suplementação de cálcio e colecalciferol, alendronato, risedronato, pamidronato, raloxifeno, calcitonina e estrógenos conjugados são opções disponíveis no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Osteoporose do Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar da disponibilidade de tratamentos, estima-se que 25% dos pacientes continuam a apresentar falha terapêutica aos tratamentos disponíveis. Nesse contexto, as diretrizes clínicas nacionais e internacionais de sociedade médicas, recomendam o uso de denosumabe ou teriparatida a pacientes com osteoporose grave e falha terapêutica aos medicamentos disponíveis no SUS (alendronato, pamidronato, raloxifeno e risedronato). Entretanto, há incerteza se os benefícios identificados para população em tratamento de primeira linha, principal população incluída nos estudos, são sustentados em população com osteoporose grave e falha terapêutica em vigência de tratamento; e se a escolha, por estas opções terapêuticas, pode valer a pena e ser viável economicamente para o SUS. Assim, o objetivo do presente relatório é analisar as evidências científicas sobre eficácia, efetividade, segurança, bem como evidências econômicas do denosumabe e da teriparatida para o tratamento de pacientes com osteoporose grave com falha terapêutica aos medicamentos disponíveis no SUS (alendronato, pamidronato, raloxifeno e risedronato). TECNOLOGIAS: Denosumabe (Prolia®) e teriparatida (Fortéo®). PERGUNTA: Os medicamentos denosumabe e
Asunto(s)
Humanos , Osteoporosis/tratamiento farmacológico , Alendronato/efectos adversos , Teriparatido/uso terapéutico , Clorhidrato de Raloxifeno/efectos adversos , Ácido Risedrónico/efectos adversos , Denosumab/uso terapéutico , Pamidronato/efectos adversos , Sistema Único de Salud , Brasil , Análisis Costo-Beneficio/economíaRESUMEN
INTRODUÇÃO: A psoríase vulgar, também conhecida como psoríase em placas, é uma doença inflamatória crônica que impacta significativamente na qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Trata-se do tipo de psoríase mais prevalente na população (75-90%), caracterizada por lesões cutâneas localizadas principalmente nos joelhos, cotovelos, couro cabeludo e região lombossacra. O tratamento de primeira linha consiste na administração de medicamentos pela via tópica, incluindo ceratolíticos, emolientes e corticoides, isolados ou em associação. Contudo, após a falha terapêutica com corticoide tópico, recomenda-se a associação de análogos de vitamina D (ex: calcipotriol) ao esquema terapêutico, considerando que estudos prévios apontaram a superioridade, em termos de eficácia, desta combinação em relação à monoterapia com qualquer um eles. Porém, considerando que a adesão ao tratamento contribui significativamente para o sucesso do tratamento, a associação fixa de calcipotriol e corticoide, com uma única aplicação diária, pode representar uma estratégia terapêutica mais viável. TECNOLOGIA: Hidrato de Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona pomada (Daivobet®). PERGUNTA: A associação de hidrato de calcipotriol + dipropionato de betametasona pomada é eficaz, segura e viável e