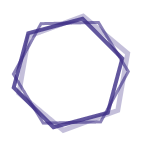RESUMO
Neste estudo procede-se a análise do processo de implementação descentralizada das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF) no âmbito do SUS. Considerando que se trata de Programa recém criado e que traz novas requisições para o setor saúde, interessa identificar fatores que facilitam e também essenciais obstáculos postos a este processo. Toma-se o município de Niterói para o estudo de caso por entender que esta localidade reúne atributos favoráveis à observação local da implementação das condicionalidades da saúde visto a história de consolidação da sistema local de saúde (notadamente a atenção básica), onde se destaca a experiência do Programa Médico de Família. O trabalho empírico realizado reporta-se na primeira dimensão à análise documental e entrevistas com gestores e profissionais executores diretos do PBF no município de Niterói- RJ, apoiando-se em demais procedimentos metodológicos entre os quais se destaca a observação participante. Num primeiro movimento analítico abordam-se as origens dos Programas de Transferência de Renda, seu desenvolvimento histórico e tendências recentes quer no plano internacional quer em uma focalização mais estrita no caso brasileiro. Destacam-se questões afetas à associação entre assistência e trabalho e a reconfiguração do direito social traduzida no percurso mais recente que vai da incondicionalidade do direito ao direito condicional. Neste debate acentua-se a polêmica em torno desta nova geração de programas sociais especialmente o Programa Bolsa Família e sua relação com a trajetória da política social entre nós. Em seguida procura-se estabelecer um quadro geral de reflexão acerca da concepção e desenho do Programa Bolsa Família pondo relevo nos seus principais eixos ordenadores e em aspectos que parecem apontar para inflexões no campo da política social. Analisam-se as características do desenho do PBF, bem como a estrutura de indução e estratégias de implementação formuladas pelo governo federal...
This study provides an analysis of the decentralized process of implementation of the conditionalities involved in Brazil's Family Allowance Program (PBF) within the scope of the National Health System (SUS). Considering that the program was recently created and places new demands on the health sector, it is important to identify facilitating factors and major obstacles in this process. The city of Niterói in Greater Metropolitan Rio de Janeiro is used as a case study, since the municipality presents favorable characteristics for local observation of the implementation of health conditionalities in the PBF, given the city's history of consolidation of the local health system, especially primary care, and featuring the experience with the Family Doctor Program. The first dimension of the empirical research drew on document analysis and interviews with administrators and professionals directly involved in the Family Allowance Program in the city of Niterói, supported by other methodological procedures, especially participant observation. The first analytical stage focused on the origins of income transfer programs, their historical development, and recent international and Brazilian trends, highlighting issues related to the association between assistance and work and the reconfiguration of social rights (recently moving from unconditional to conditional ones). This debate features the controversy surrounding the new generation of social programs especially the Family Allowance Program and their relationship to social policy history in Brazil. Next, the study attempts to establish an overview of the reflection concerning the concept and design of the Family Allowance Program, emphasizing its main organizational characteristics and aspects that appear to indicate important changes in the social policy field. Characteristics in the program's design are analyzed, along with the induction structure and implementation strategies developed by the Federal...
Assuntos
Colaboração Intersetorial , Política de Saúde , Renda , Programas Governamentais/organização & administração , Programas e Políticas de Nutrição e Alimentação , Política PúblicaRESUMO
Este artigo analisa a concepção e desafios em torno da exigência de contrapartidas do Programa Bolsa Família (PBF). A obrigatoriedade de inserção de crianças e adolescentes na escola e de crianças, gestantes e nutrizes nos serviços de saúde é central no desenho do PBF e, à semelhança do que ocorre em outros países, tem sido alvo de intensa polêmica. Busca-se, assim, mapear a discussão teórica que embasa os argumentos favoráveis e contrários aos programas de transferência monetária condicionada, utilizando como estratégia metodológica a sistematização bibliográfica e estudo da legislação do PBF. A análise demonstra que, se de um lado, estão aqueles que rejeitam as contrapartidas sob alegação de que estas feririam o direito incondicional de cidadania, de outro, situam-se os que defendem as condicionalidades sob argumentos distintos. Aqui estão tanto concepções que entendem que é preciso dar algo em troca do recebimento do benefício quanto aquelas que vêem tais exigências como estratégia para favorecer o acesso aos serviços sociais e romper o ciclo da pobreza. Esta última visão está presente nos documentos oficiais do programa. Porém, na legislação complementar, a operacionalização das condicionalidades é definida de forma coercitiva, distanciando-se da concepção de inserção social.
This paper analyzes the concepts and challenges of the counterpart contributions demanded by Brazil's Family Allowance Program, which requires mandatory school attendance for children and adolescents, and healthcare for children, pregnant women and breast-feeding mothers. These issues are prompting much discussion in Brazil and elsewhere in the world. This study charts theoretical aspects that underpin arguments for and against conditional cash transfer programs, through a review and systematization of the literature and a study of the related legislation. This analysis demonstrates that the opponents of counterpart obligations claim they breach unconditional rights to citizenship. Some supporters of these conditional transfers believe that a return is required for these benefits, while others see such requirements as a strategy for ensuring easier access to social welfare services, thereby breaking away from the cycle of poverty. Although latter view is present in Brazil's original Family Allowance Program, the manner in which supplementary legislation defines the application of the conditions is coercive and remote from the concept of social insertion.
Assuntos
Assistência Pública/economia , Apoio Social , Direito à Saúde , Pobreza , Programas Governamentais , Programas e Políticas de Nutrição e Alimentação , BrasilRESUMO
This paper analyzes the concepts and challenges of the counterpart contributions demanded by Brazil's Family Allowance Program, which requires mandatory school attendance for children and adolescents, and healthcare for children, pregnant women and breast-feeding mothers. These issues are prompting much discussion in Brazil and elsewhere in the world. This study charts theoretical aspects that underpin arguments for and against conditional cash transfer programs, through a review and systematization of the literature and a study of the related legislation. This analysis demonstrates that the opponents of counterpart obligations claim they breach unconditional rights to citizenship. Some supporters of these conditional transfers believe that a return is required for these benefits, while others see such requirements as a strategy for ensuring easier access to social welfare services, thereby breaking away from the cycle of poverty. Although latter view is present in Brazil's original Family Allowance Program, the manner in which supplementary legislation defines the application of the conditions is coercive and remote from the concept of social insertion.
Assuntos
Direitos Humanos , Previdência Social , Brasil , Humanos , Seguridade SocialRESUMO
Este texto tem como objetivo aprofundar a reflexão sobre problemas e vicissitudes da seguridade social brasileira, e está organizado da seguinte forma: a primeira parte trata do conceito de seguridade social, a partir de uma abordagem histórica: em seguida são discutidas a trajetória e algumas das especificidades do padrão brasileiro de políticas sociais; a terceira parte enfoca a inscrição da seguridade social no campo dos direitos garantidos na Constituição de 1988 e os desafios da articulação entre saúde, assistência e previdência social; posteriormente são apontados os impasses à conformação da seguridade social no país e o desmonte da ideia de seguridade social a partir dos anos 90. Por fim, o trabalho traz alguns elementos para a discussão das relações entre política de saúde e seguridade social. Aborda a construção histórica do conceito de seguridade social, apresenta um breve histórico das políticas sociais no Brasil, a emergência da proteção social no Brasil, a consolidação do sistema de proteção social no Brasil no pós-64, a Constituição Federal de 1988, a inscrição da seguridade social no campo dos direitos da cidadania no Brasil, o desmonte da noção de seguridade social brasileira.
Assuntos
Seguridade Social/história , Brasil , Política PúblicaRESUMO
A reflexão crítica sobre as contradições entre o público e o privado, a universalização e a focalização, a saúde coletiva e a clínica, a educação e culpabilização que atravessam o campo da saúde como política e prática, traz proveitos a todos os profissionais, técnicos e pesquisadores envolvidos com a implementação do Sistema Único de Saúde e a defesa da saúde como direito social. Mas até mesmo as questões particulares do Serviço Social lançam luz sobre o sentido do que fazer na saúde. Os autores perguntam-se sobre o projeto ético-político da profissão: diante das contradições assinaladas, o assistente social deve empenhar-se em responder às demandas dos serviços, envolver-se nas urgências do cotidiano e na especialização que lhes é requerida, cumprindo um papel de controle social, ou, inversamente, tomar estas experiências como pontos de partida para aprofundar a Reforma Sanitária, em defesa da saúde como seguridade social e da mudança mais ampla da própria ordem social?
Assuntos
Ética , Política de Saúde , Política Pública , Seguridade Social , Serviço Social , BrasilRESUMO
Este trabalho pretende contribuir para a discussão sobre a descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS), analisando a municipalização da saúde, que tem inicío na década de 1990 em todo o país. Toma como estudo de caso o município de São Gonçalo, situado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, buscando examinar as mudanças no padrão de gestão, sobretudo quanto aos impactos produzidos no perfil da oferta de saúde e no modelo assistencial local. A análise considera o período de dezembro de 1989, quando o município assina o convênio de municipalização, até o ano de 2000. Observa-se inegável expansão da oferta dos serviços de atenção básica à saúde, no entanto, alterações mais significativas no modelo esbarram características do poder local.
Assuntos
Humanos , Políticas, Planejamento e Administração em Saúde , Política , Política de Saúde , Sistemas Locais de Saúde , Atenção Primária à SaúdeRESUMO
Este artigo tem por objetivo analisar como os governos locais vêm, no contexto da descentralização do Estado brasileiro, respondendo às novas exigências relativas à implementação e gestão das políticas sociais. Destaca-se o caso da política de saúde, cuja centralidade da esfera local se consolida pari passu ao aprofundamento da reforma setorial em curso a partir dos anos 90. O texto problematiza a capacidade efetiva de os municípios brasileiros exercerem, de fato, a sua autonomia para elaborar e executar políticas, vis-à-vis à tradição política local brasileira e as desigualdades econômicas, sociais e regionais características do país. Tomamos o município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, como lócus de análise, buscando dimensionar o impacto da descentralização na reorganização da rede de serviços, a partir da composição dos serviços em termos da quantidade e qualidade da oferta de cuidados, bem como do padrão de referência e contra-referência entre os níveis de assistência do sistema local de saúde. (Observa-se que a produção da política de saúde nessa localidade esbarra em constrangimentos caracterizados pela interconexão entre elementos intrínsecos ao próprio ordenamento do sistema local de saúde e a maneira como se conforma o poder político no município).
Assuntos
Governo Local , Política , Inovação OrganizacionalRESUMO
Estuda a experiência cotidiana de implementaçäo da política de saúde no município de Niterói-RJ, a partir da análise da açäo dos atores que exercem papel central nas instituiçöes de saúde - os Médicos. O viés de análise adotado traz à cena os elementos de autonomia profissional, os interesses corporativos e os conflitos presentes nos espaços microinstitucionais, tendo como referência o atual quadro de mudanças setoriais. Elegemos como Locus de análise três unidades de saúde localizadas na zona norte do município, contemplando a diversidade de serviços em termos da complexidade da atençäo prestada, bem como as diversas especialidades médicas. O trabalho assinala as mediaçöes presentes na relaçäo dos médicos com as agências implementadoras da política de saúde, destacando a influência destes atores na conformaçäo do modelo assistencial. Destaca-se que o corporativismo profissional veiculado pela Sociedade Civil da Medicina e a açäo dos grupos de interesse realizam a articulaçäo entre os médicos e as instituiçöes, buscando incorporar as demandas da categoria profissional no dia-a-dia dos serviços locais de saúde, notadamente naqueles de maior complexidade. Nos chamados níveis primário e secundário, embora a autonomia médica e a intermediaçäo de interesses via corporativismo sejam relativizadas pela presença e proximidade da populaçäo, persiste o ideal de autonomia liberal que se traduz em dificuldades para o desenvolvimento de açöes de saúde mais requalificadas. Neste estudo verifica-se também que a ausência de propostas consistentes com relaçäo à gerência e organizaçäo dos serviços contribui para a configuraçäo de um determinado tipo de autonomia médica bastante ampliada e de articulaçäo de interesses que, em geral, säo desprovidas de criatividade e afastadas dos interesses públicos. Uma certa pluralidade de interesses na relaçäo entre médicos e instituiçöes é ressaltada através da experiência de execuçäo das açöes de saúde mental realizada por uma das instituiçöes pesquisadas, na qual destaca-se da construçäo de novos atores em torno de propostas alternativas no campo da atençäo à saúde. Este trabalho confirma a proposiçäo de que os chamados recursos humanos, com destaque especial para os médicos, se constituem em atores fundamentais na organizaçäo e execuçäo dos serviços de saúde, näo sendo passíveis de subordinaçäo mecânica ao planejamento e às normas administrativas.