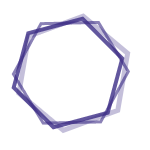RESUMO
Trata-se de estudo descritivo que teve como objetivo discutir as repercussões da mudança na metodologia de coleta da variável cor/raça no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) sobre as taxas de mortalidade infantil (TMI) segundo cor/raça no Brasil. Foram analisadas as variações anuais nas frequências de nascidos vivos e óbitos infantis por cor/raça entre 2009 e 2017. As TMI por cor/raça foram estimadas segundo três estratégias: (1) método direto; (2) fixando-se, em todos os anos, as proporções de nascidos vivos por cor/raça observadas em 2009; e (3) fixando-se, em todos os anos, as proporções de óbitos por cor/raça observadas em 2009. As estratégias visaram explorar o efeito isolado das variações nas proporções de nascidos vivos ou de óbitos por cor/raça sobre as estimativas de TMI antes e após a mudança da variável cor/raça no SINASC. De 2011 para 2012 (ano de mudança da variável cor/raça no SINASC), verificou-se súbito incremento das Declarações de Nascidos Vivos (DNV) de cor/raça preta, parda e indígena, acompanhado de redução de DNV de cor/raça branca, sem variações correspondentes nos óbitos. O incremento do denominador da TMI das categorias de cor/raça socialmente mais vulnerabilizadas resultou na atenuação das TMI de pretos e indígenas, no incremento da TMI de brancos e, consequentemente, na redução artificial das iniquidades na mortalidade infantil por cor/raça. A mudança da variável cor/raça no SINASC interrompeu a série histórica de nascidos vivos por cor/raça, afetando os indicadores que potencialmente dependem desses dados para seu cálculo, como a TMI. Argumenta-se que as TMI por cor/raça antes e após a mudança no SINASC são indicadores distintos e não comparáveis.
This descriptive study aimed to discuss the repercussions of the change in the methodology for recording the color/race variable in the Brazilian Information System on Live Births (SINASC) on infant mortality rates (IMR) according to color/race in Brazil. Annual variations were analyzed in the rates of live births and infant deaths according to color/race from 2009 to 2017. The IMR according to color/race were estimated using three strategies: (1) direct method; (2) for every year, setting the same proportions of live births by color/race as observed in 2009; and (3) for every year, setting the same proportions of deaths by color/race as observed in 2009. The strategies aimed to explore the single effect of the variations in the proportions of live births or of deaths according to color/race on the estimated IMR before and after the change in the color/race variable in the SINASC database. Between 2011 and 2012 (the year of the change in the color/race variable in SINASC), there was a sudden increase in birthdates with black, brown, and indigenous color/race, along with a reduction in birthdates with white color/race, without no corresponding variations in deaths. The increase of more socially vulnerable color/race categories in the IMR denominator resulted in the attenuation of IMR for black and indigenous infants and in an increase in the IMR for white infants and consequently an artificial reduction in iniquities in infant mortality according to color/race. The change in the color/race variable in SINASC interrupted the historical series of live births by color/race, affecting indicators that potentially depend on these data for their calculation, in this case the IMR. The resulting argument is that infant mortality rates by color/race before versus after the change in the SINASC database are distinct and noncomparable indicators.
Estudio descriptivo que tuvo como objetivo discutir las repercusiones del cambio en la metodología de recogida de la variable color/raza en el Sistema de Información sobre Nacidos Vivos (SINASC) sobre las tasas de mortalidad infantil (TMI), según color/raza en Brasil. Se analizaron las variaciones anuales en las frecuencias de nacidos vivos y óbitos infantiles por color/raza entre 2009 y 2017. Las TMI por color/raza se estimaron según tres estrategias: (1) método directo; (2) fijándose, en todos los años, las proporciones de nacidos vivos por color/raza observadas en 2009; y (3) fijándose, en todos los años, las proporciones de óbitos por color/raza observadas en 2009. Las estrategias tuvieron como objetivo explorar el efecto aislado de las variaciones en las proporciones de nacidos vivos o de óbitos por color/raza sobre las estimaciones de TMI antes y tras el cambio de la variable color/raza en el SINASC. De 2011 a 2012 (año de cambio de la variable color/raza en el SINASC), se verificó un súbito incremento de las Declaraciones de Nacidos Vivos (DNV) de color/raza negra, mestiza e indígena, acompañado de una reducción de DNV de color/raza blanca, sin variaciones correspondientes en los óbitos. El incremento del denominador de la TMI de las categorías de color/raza socialmente más vulnerabilizadas resultó en la atenuación de las TMI de negros e indígenas y en el incremento de la TMI de blancos y, consecuentemente, en la reducción artificial de las inequidades en la mortalidad infantil por color/raza. El cambio de la variable color/raza en el SINASC interrumpió la serie histórica de nacidos vivos por color/raza, afectando los indicadores que potencialmente dependen de esos datos para su cálculo, como la TMI. Se argumenta que las TMI por color/raza antes y después del cambio en el SINASC son indicadores distintos y no comparables.
Assuntos
Humanos , Feminino , Gravidez , Lactente , Sistemas de Informação em Saúde , Brasil/epidemiologia , Sistemas de Informação , Etnicidade , Mortalidade Infantil , Nascido Vivo/epidemiologiaRESUMO
Birth weight is an important predictor of perinatal, infant, and preschool-age children morbimortality. However, information about indigenous children's birth weight is still scarce. This study aimed to analyze the birth weight of indigenous children based on data from the First National Survey of Indigenous People's Health and Nutrition, Brazil (2008-2009). This is the first study to address indigenous children's birth weight based on a nationwide representative sample. Mean birth weights and the respective standard deviations were calculated according to geopolitical region, sex, type of birth, and birthplace. The chi-square test was used to analyze differences in proportions, and Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests in means, considering sample design and data normality. We found no records on birth weight in the researched documents for 26.7% of the 6,128 sampled children. The mean birth weight for the 3,994 children included in the analyses was 3,201g (standard deviation - SD ± 18.6g), regardless of sex, type of birth, and birthplace. The prevalence of low birth weight was 7.6% (n = 302) and was significantly higher among girls. Boys presented significantly higher mean birth weight than girls, regardless of the geopolitical region. Low birth weight was slightly less frequent among indigenous children when compared to Brazilian children in general. Our study indicates the need to improve prenatal care and the quality of consultation records for indigenous women as a strategy to promote safe pregnancy and childbirth.
O peso ao nascer é um importante preditor de morbimortalidade perinatal, infantil e pré-escolar. São escassas as informações sobre o peso ao nascer das crianças indígenas no Brasil. O estudo teve como objetivo analisar o peso ao nascer das crianças indígenas, com base nos dados do Primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, Brasil (2008-2009). Este é o primeiro estudo a avaliar o peso ao nascer de crianças indígenas com base em uma amostra nacional representativa. Foram calculadas as médias e desvios-padrão de acordo com macrorregião, sexo, tipo e parto e local do parto. Foram utilizados o teste de qui-quadrado para analisar as diferenças de proporções e os testes de Kruskal-Wallis e U de Mann-Whitney para diferenças nas médias, considerando o desenho amostral do estudo e a normalidade dos dados. Para 26,7% das 6.128 crianças da amostra, não foi possível localizar qualquer registro de peso ao nascer nos documentos consultados. Entre as 3.994 crianças incluídas nas análises, o peso médio ao nascer, independentemente de sexo, tipo de parto e local do parto, foi 3.201g (desvio padrão - DP ± 18,6g). A prevalência de baixo peso ao nascer foi 7,6% (n = 302), significativamente mais alta em meninas. Os meninos apresentaram peso médio ao nascer significativamente mais alto que as meninas, independentemente de região. A frequência de baixo peso ao nascer foi ligeiramente mais baixa que nas crianças brasileiras em geral. O estudo aponta para a necessidade de melhorar a assistência pré-natal e a qualidade dos registros das consultas das mulheres indígenas, como estratégia para promover a segurança na gravidez e no parto.
El peso al nacer es un predictor importante de morbimortalidad perinatal, infantil y preescolar. La información sobre el peso al nacer de niños indígenas es escasa. El objetivo de este estudio fue analizar el peso al nacer de los niños indígenas, basado en datos de la Primera Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Pueblo Indígenas, Brasil (2008-2009). Se trata del primer estudio dirigido al peso al nacer de niños indígenas, basado en una muestra representativa nacionalmente. Las medias y las respectivas desviaciones estándar del peso al nacer se calcularon según la región geopolítica, sexo, tipo de nacimiento y localización del mismo. Se usó un test chi-cuadrado para analizar las diferencias en proporciones y las pruebas Kruskal-Wallis y de la U de Mann-Whitney para las diferencias en las medias, considerando el diseño de la muestra del estudio y normalidad de los datos. Para un 26,7% de los 6.128 niños incluidos en la muestra no fue posible localizar ningún registro de peso al nacer en los documentos investigados. De los 3.994 niños incluidos en el análisis, la media de peso al nacer, independiente del sexo, tipo de nacimiento, y lugar de nacimiento, fue 3.201g (desviación estándar - SD ± 18,6g). La prevalencia del bajo peso al nacer fue 7,6% (n = 302) y fue significativamente más alta entre niñas. Los niños presentaron significativamente una media más alta de peso al nacer que las niñas, independientemente de la región. La frecuencia del bajo peso al nacer fue ligeramente más baja que la observada en niños brasileños en general. Este estudio presenta aspectos que se necesitan mejorar en el cuidado prenatal y en la calidad de los registros de las consultas de mujeres indígenas, como una estrategia para promover un embarazo y parto seguros.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Gravidez , Recém-Nascido , Lactente , Pré-Escolar , Criança , Estado Nutricional , Povos Indígenas , Peso ao Nascer , Brasil/epidemiologia , PrevalênciaRESUMO
Resumo Este estudo apresenta uma comparação entre domicílios indígenas e não indígenas no tocante à presença de infraestrutura de saneamento básico em áreas urbanas e rurais do Brasil a partir dos dados dos Censos de 2000 e 2010. As análises se basearam em estatísticas descritivas e modelos de Regressões Logísticas Múltiplas (RLM). Os resultados indicam o aumento da presença dos serviços analisados nos domicílios brasileiros ao longo da década. Não obstante, domicílios indígenas apresentaram piores condições sanitárias em 2010. Esgotamento sanitário foi o serviço mais precário registrado em ambos os Censos, com ocorrência ainda menos pronunciada nos domicílios indígenas. Os modelos de RLM confirmaram os resultados descritivos, no sentido de que os domicílios indígenas apresentaram piores condições quanto à presença de serviços de saneamento básico. Observou-se que, em algumas áreas, como o Norte urbano, Sudeste urbano e Centro-Oeste rural, houve o aumento das desigualdades entre domicílios indígenas e não indígenas de 2000 para 2010. O presente estudo não apenas aponta para condições de saneamento menos adequadas em domicílios indígenas no Brasil, como também evidencia a persistência de expressivas desigualdades associadas à cor ou raça.
Abstract This study compares the availability of basic sanitation infrastructure in indigenous and nonindigenous household located in urban and rural areas using data from the 2000 and 2010 Brazilian National Censuses. The analyses were based on descriptive statistics and modelling with multiple logistic regression. While there was an increase in the availability of basic sanitation in Brazilian households over the decade, indigenous households continued to have worse conditions in 2010. Sewage was the sanitation service with the lowest coverage in both censuses, and indigenous households had a lower rate of sewage services than nonindigenous households did. Logistic regression results confirmed the findings of the descriptive analyses, attesting to the fact that sanitation conditions are worse in indigenous households. In some areas, such as the urban North and Southeast and rural areas of the Central-West region, the gap in basic sanitation infrastructure between indigenous and nonindigenous households increased from 2000 to 2010. This study not only indicates the less-adequate sanitation conditions in indigenous households in Brazil but also attests to the persistence of major inequalities associated with race or color in the country.
Assuntos
Humanos , Saneamento , Censos , Fatores Socioeconômicos , Brasil , Características da Família , Grupos PopulacionaisRESUMO
ABSTRACT In Brazil, indigenous peoples present a complex reality characterized by a marked social vulnerability that is manifested in health and nutritional indicators. In this scenario, poor sanitary conditions prevail, with a high burden of chronic noncommunicable diseases; infectious/parasitic diseases; and nutritional disorders, including malnutrition and anemia. This situation is reflected in numerous aspects of food insecurity, placing this population in a position of particular vulnerability to the coronavirus disease 2019 pandemic and its effects. The objective of our study was to present a set of preliminary reflections on food insecurity and indigenous protagonism in times of Covid-19. The pandemic has deepened the inequalities that affect the indigenous peoples, with a direct impact on food security conditions. Amid the effects of the pandemic, indigenous protagonism has played a fundamental role in guaranteeing these peoples' rights and access to food, denouncing the absent and slow official responses as acts of institutional violence, which will have serious and lasting effects on the lives of indigenous peoples.
RESUMO No Brasil, os povos indígenas apresentam uma realidade complexa e caracterizada por uma acentuada vulnerabilidade social, manifesta em indicadores de saúde e de nutrição. Neste cenário prevalecem condições sanitárias precárias, com elevada carga de doenças crônicas não transmissíveis, doenças infecto-parasitárias e agravos nutricionais diversos, incluindo desnutrição e anemia. Esse quadro se reflete em inúmeras faces da insegurança alimentar, situando-os em uma posição particularmente vulnerável à pandemia e seus efeitos. O objetivo deste trabalho é apresentar um conjunto de reflexões, em caráter preliminar, sobre a insegurança alimentar e o protagonismo indígena em tempos de Covid-19. A pandemia vem aprofundando as iniquidades que os atingem, com impactos diretos nas condições de segurança alimentar. O protagonismo indígena tem tido um papel fundamental na garantia de seus direitos e acesso à alimentação, denunciando a ausência e a lentidão das respostas oficiais como ações de violência institucional, que terão graves e duradouros efeitos nas trajetórias destes povos.
Assuntos
Humanos , Infecções por Coronavirus/etnologia , Povos Indígenas , Organização SocialAssuntos
Humanos , Pneumonia Viral , Fome , Infecções por Coronavirus , Pandemias , Povos Indígenas , Psicometria , Brasil , Abastecimento de Alimentos , Betacoronavirus , SARS-CoV-2 , COVID-19RESUMO
This study assesses prenatal care for indigenous women 14-49 years of age with children under five years of age in Brazil. The First National Survey of Indigenous People's Health and Nutrition assessed 3,967 women who met these criteria, of whom 41.3% in the North, 21.2% in the Central, 22.2% in the Northeast, and 15% in the South/Southeast. Prenatal care was offered to 3,437 (86.6%) of these women. The North of Brazil showed the highest proportion of indigenous women who did not receive prenatal care. Coverage was 90.4%, but only some 30% began prenatal care in the first trimester, and only 60% of the eligible women were vaccinated for diphtheria and tetanus. Only 16% of indigenous pregnant women had seven or more prenatal visits. Access to at least one clinical-obstetric consultation was found in 97% of the records, except for breast examination (63%). Laboratory test rates were low (blood glucose 53.6%, urinalysis 53%, complete blood count 56.9%, Pap smear 12.9%, syphilis test 57.6%, HIV serology 44.2%, hepatitis B 53.6%, rubella 21.4%, and toxoplasmosis 32.6%), as was prescription of ferrous sulfate (44.1%). As a whole, the proportion of orders for recommended laboratory tests was only 53%. The percentages of prenatal care procedures for indigenous women are lower than for non-indigenous Brazilian women as a whole, and are even lower than among women in regions with high social vulnerability and low healthcare coverage, like the Legal Amazonia and the Northeast. The results confirm the persistence of ethnic-racial inequalities that compromise the health and well-being of indigenous mothers.
Este estudo avalia a atenção pré-natal de mulheres indígenas com idades entre 14-49 anos, com filhos menores de 60 meses no Brasil. O Primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas avaliou 3.967 mulheres que atendiam a tais requisitos, sendo 41,3% da Região Norte; 21,2% do Centro-oeste; 22,2% do Nordeste; e 15% do Sul/Sudeste. O pré-natal foi ofertado a 3.437 (86,6%) delas. A Região Norte registrou a maior proporção de mulheres que não fizeram pré-natal. A cobertura alcançada foi de 90,4%, mas somente cerca de 30% iniciaram o pré-natal no 1º trimestre e apenas 60% das elegíveis foram vacinadas contra difteria e tétano. Somente 16% das gestantes indígenas realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal. Ter acesso a pelo menos um cuidado clínico-obstétrico foi observado em cerca de 97% dos registros, exceto exame de mamas (63%). Foi baixa a solicitação de exames (glicemia 53,6%, urina 53%, hemograma 56,9%, citologia oncótica 12,9%, teste de sífilis 57,6%, sorologia para HIV 44,2%, hepatite B 53,6%, rubéola 21,4% e toxoplasmose 32,6%) e prescrição de sulfato ferroso (44,1%). No conjunto, a proporção de solicitações de exames laboratoriais preconizados não ultrapassou 53%. Os percentuais de realização das ações do pré-natal das indígenas são mais baixos que os encontrados para mulheres não indígenas no conjunto do território nacional, e até mesmo para as residentes em regiões de elevada vulnerabilidade social e baixa cobertura assistencial como a Amazônia Legal e o Nordeste. Os resultados reafirmam a persistência de desigualdades étnico-raciais que comprometem a saúde e o bem-estar de mães indígenas.
Este estudio evalúa la atención prenatal a mujeres indígenas con edades comprendidas entre los 14-49 años, con hijos menores de 60 meses en Brasil. La Primera Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas evaluó a 3.967 mujeres que reunían tales requisitos, procediendo un 41,3% de la Región Norte; un 21,2% del Centro-oeste; un 22,2% del Nordeste; y un 15% del Sur/Sudeste. El servicio prenatal se le ofreció a 3.437 (86,6%) de ellas. La Región Norte registró la mayor proporción de mujeres que no realizaron el seguimiento prenatal. La cobertura alcanzada fue de un 90,4%, pero solamente cerca de un 30% comenzaron el seguimiento prenatal durante el primer trimestre y sólo un 60% de las elegibles fueron vacunadas contra la difteria y tétanos. Solamente un 16% de las gestantes indígenas realizaron 7 o más consultas de prenatal. Alrededor de un 97% de los registros se observó que tuvieron acceso a por lo menos un cuidado clínico-obstétrico, excepto el examen de mamas (63%). Fue baja la solicitud de exámenes (glucemia 53,6%, orina 53%, hemograma 56,9%, citología oncológica 12,9%, test de sífilis 57,6%, serología para VIH 44,2%, hepatitis B 53,6%, rubeola 21,4% y toxoplasmosis un 32,6%) y la prescripción de sulfato ferroso (44,1%). En conjunto, la proporción de solicitudes de exámenes de laboratorio previstos no sobrepasó el 53%. Los porcentajes de realización de acciones del seguimiento prenatal por parte de las indígenas son más bajos que los encontrados en mujeres no indígenas, en el conjunto del territorio nacional, y hasta incluso en comparación con las residentes en regiones de elevada vulnerabilidad social y baja cobertura asistencial como la Amazonia Legal y el Nordeste. Los resultados reafirman la persistencia de desigualdades étnico-raciales que comprometen la salud y el bienestar de las madres indígenas.
Assuntos
Pesquisas sobre Atenção à Saúde/estatística & dados numéricos , Indígenas Sul-Americanos/estatística & dados numéricos , Cuidado Pré-Natal/estatística & dados numéricos , Avaliação de Programas e Projetos de Saúde/estatística & dados numéricos , Adolescente , Adulto , Brasil , Estudos Transversais , Feminino , Registros de Saúde Pessoal , Disparidades em Assistência à Saúde/etnologia , Disparidades em Assistência à Saúde/estatística & dados numéricos , Humanos , Pessoa de Meia-Idade , Gravidez , Fatores Socioeconômicos , Adulto JovemRESUMO
RESUMO Objetivo: Analisar a mortalidade infantil de indígenas e não indígenas nas microrregiões do Brasil. Método: Os dados são oriundos do Censo Demográfico 2010 e do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Taxas e proporções caracterizaram a mortalidade infantil nas 558 microrregiões existentes em 2010. Resultados: No Brasil, crianças indígenas apresentaram elevados riscos de morrer antes de completarem um ano de idade (60% maior em relação às não indígenas), sendo mais expressivo nas microrregiões com população indígena inferior a 1%. A cada 10 óbitos infantis indígenas, sete eram crianças com mais de um mês de vida acometidas por doenças infecciosas. Conclusão: Os óbitos infantis indígenas são, de modo geral, evitáveis através da realização de intervenções no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Há importantes diferenças nos níveis de mortalidade infantil entre indígenas e não indígenas, inclusive nos contextos geográficos onde se fazem presentes maiores contingentes de indígenas.
ABSTRACT Objective: To compare infant mortality rates of indigenous and non-indigenous children according to microregions in Brazil. Method: The study was based on data from the 2010 Population Census and from the Mortality Information System. Rates and proportions were calculated using data from 558 microregions. Results: Indigenous children presented a higher risk of dying before completing one year of age (60% higher compared to non-indigenous), and rates were higher in microregions with < 1% of indigenous population. Seven out of 10 deaths were in children over one month of age and were mostly caused by infectious diseases. Conclusion: In general, indigenous children die mostly due to preventable causes. The study shows that there are important differences in the levels of infant mortality between indigenous and non-indigenous children in Brazil, even in geographical areas with increased presence of indigenous population.
RESUMEN Objetivo: Analizar la mortalidad infantil de indígenas y no indígenas en las microrregiones de Brasil. Método: Los datos provienen del Censo Demográfico del 2010 y del Sistema de Información acerca de la Mortalidad. Las tasas y proporciones caracterizan la mortalidad infantil en las 558 microrregiones existentes en el 2010. Resultados: Los niños indígenas presentaron elevado riesgo de morir antes de cumplir un año de edad (un 60 % superior respecto a los no indígenas), y es más expresivo en las microrregiones con población indígena inferior al 1 %. Siete de cada 10 óbitos infantiles indígenas fueron de niños con más de un mes de vida, víctimas de enfermedades infecciosas. Conclusión Los óbitos infantiles indígenas, de modo general, podrían ser evitados por intervenciones en el ámbito da Atención Primaria a la Salud. Los niveles de mortalidad entre los indígenas y no indígenas se mantienen incluso en contextos geográficos con los mayores contingentes de población indígena.
Assuntos
Humanos , Recém-Nascido , Lactente , Indígenas Sul-Americanos/estatística & dados numéricos , Mortalidade Infantil/etnologia , Brasil/etnologia , Indígenas Sul-Americanos/etnologia , Mortalidade Infantil/tendênciasRESUMO
Oitavo livro da coleção Saúde dos Povos Indígenas, Entre Demografia e Antropologia: povos indígenas no Brasil apresenta profundas avaliações sobre as dinâmicas populacionais indígenas. A coletânea levanta contribuições que indicam que os escassos dados demográficos de décadas atrás se tornaram mais abundantes, passando a fomentar políticas públicas. Em suas abordagens, a obra passa por pesquisas e conhecimentos multidisciplinares, que vão de questões de migração, mobilidade e dinâmica territorial até a contextualização de dados censitários e a forma como a população indígena é retratada nos censos demográficos do Brasil. A antropóloga Marta Azevedo ressalta a importância de "buscar uma maior participação da população indígena na produção de dados e análises demográficas". Segundo ela, tão estratégico quanto continuar a fomentar a realização de uma demografia indígena é formar demógrafos indígenas no país. O anseio expressado pela autora e organizadora aparece no último capítulo do livro, que é dividido em três partes: Perspectivas a partir do Campo, Dados Censitários em Contexto e Trajetórias, Categorias, Implicações.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Saúde de Populações Indígenas/estatística & dados numéricos , Distribuição por Etnia , Povos Indígenas/estatística & dados numéricos , Características da População , Brasil/etnologia , Censos , Parto/etnologia , Saúde de Populações Indígenas/legislação & jurisprudência , Epidemias , Migração Humana/estatística & dados numéricosRESUMO
Resumo: Objetivou-se analisar a presença dos serviços de saneamento básico em domicílios com crianças de até cinco anos de idade, localizados em áreas urbanas do Brasil, com foco nos indígenas. Trata-se de um estudo transversal com base na amostra do Censo Demográfico de 2010. Calcularam-se as frequências de domicílios com abastecimento de água (rede geral), esgotamento sanitário (rede geral ou fossa séptica) e coleta de lixo (diretamente ou por caçamba do serviço público de limpeza). Modelos de regressão logística múltipla (RLM) estimaram a associação entre cor/raça e presença dos serviços por meio das razões de chance (RC). Foram consideradas as áreas urbanas e regiões metropolitanas do país, estratificando os resultados por região. Utilizou-se nível de significância de 5%. As menores frequências foram encontradas para esgotamento sanitário e, em geral, para os indígenas. Nas análises de RLM foram 29 comparações (48,3%) em que os domicílios com crianças indígenas, quando comparados às outras categorias de cor/raça, encontram-se em desvantagem, em especial no Sul, onde todas as comparações foram negativas para os indígenas. Resultados semelhantes foram encontrados para as regiões metropolitanas. Nesse sentido, os resultados coligidos por este trabalho sugerem a possível existência de iniquidades relacionadas à presença dos serviços de saneamento básico e cor/raça dos indivíduos, em que os indígenas, em geral, ocupam posição de desvantagem, particularmente no Sul do país. Diante da relação entre saneamento e saúde já estabelecida na literatura, esses resultados podem explicar, em parte, os baixos níveis de saúde apresentados por crianças indígenas no Brasil.
Abstract: This study aimed to analyze the presence of basic sanitation services in households with children under five years of age located in urban areas of Brazil, with a focus on indigenous children. This cross-sectional study was based on data from the 2010 Population Census. We calculated the rates of households with running water (public system), sewage disposal (public system or septic tanks), and garbage collection (directly or via public dumpsters). Multiple logistic regression (MLR) models were used to estimate associations between color/race and presence of sanitation services, based on odds ratios (OR). The study considered Brazil's urban metropolitan areas and stratified the results by major geographic region. Significance was set at 5%. The lowest frequencies were for sewage disposal, and all the rates were lower for indigenous people. MLR analyses included 29 comparisons (48.3%) in which households with indigenous children (compared to other color/race categories) were at a disadvantage, especially in the South of Brazil, where all comparisons were negative for indigenous households. Similar results appeared in metropolitan areas. The results thus suggest inequalities basic sanitation services based on color/race, where indigenous people are generally at a disadvantage, especially in the South of Brazil. Given the relationship between sanitation and health, as already demonstrated in the literature, these results can partly explain the low health levels in indigenous children in Brazil.
Resumen: El objetivo de este trabajo fue analizar la presencia de servicios de saneamiento básico en domicilios con niños de hasta cinco años de edad, localizados en áreas urbanas de Brasil, enfocándose en los de origen indígena. Se trata de un estudio transversal, basado en la muestra del Censo Demográfico de 2010. Se calcularon las frecuencias de domicilios con abastecimiento de agua (red general), alcantarillado (red general o fosa séptica) y recogida de basura (directamente o mediante camiones de basura del servicio público de limpieza). Los modelos de regresión logística múltiple (RLM) estimaron la asociación entre color/raza, y la presencia de los servicios se realizó a través de las razones de oportunidad (RC). Se consideraron áreas urbanas y regiones metropolitanas del país, estratificando los resultados por región. Se utilizó un nivel de significancia del 5%. Las frecuencias menores se encontraron en el alcantarillado y, en general, respecto a los indígenas. En los análisis de RLM se realizaron 29 comparaciones (48,3%) en las que los domicilios con niños indígenas, cuando se comparan con otras categorías de color/raza, se encuentran en desventaja, en especial en el Sur, donde todas las comparaciones fueron negativas en relación con los indígenas. Resultados semejantes se encontraron respecto a las regiones metropolitanas. En ese sentido, los resultados recopilados por este estudio sugieren la posible existencia de inequidades relacionadas con la presencia de los servicios de saneamiento básico y color/raza de los individuos, donde los indígenas, en general, ocupan una posición de desventaja, particularmente en el Sur del país. Ante la relación entre saneamiento y salud, ya establecidos en la literatura, estos resultados pueden explicar, en parte, los bajos niveles de salud presentados por niños indígenas en Brasil.
Assuntos
Humanos , Fatores Socioeconômicos , Indígenas Sul-Americanos , Saneamento/estatística & dados numéricos , Características da Família/etnologia , População Urbana/estatística & dados numéricos , Abastecimento de Água/estatística & dados numéricos , Brasil , Estudos Transversais , CensosRESUMO
Resumo: Este estudo avalia a atenção pré-natal de mulheres indígenas com idades entre 14-49 anos, com filhos menores de 60 meses no Brasil. O Primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas avaliou 3.967 mulheres que atendiam a tais requisitos, sendo 41,3% da Região Norte; 21,2% do Centro-oeste; 22,2% do Nordeste; e 15% do Sul/Sudeste. O pré-natal foi ofertado a 3.437 (86,6%) delas. A Região Norte registrou a maior proporção de mulheres que não fizeram pré-natal. A cobertura alcançada foi de 90,4%, mas somente cerca de 30% iniciaram o pré-natal no 1º trimestre e apenas 60% das elegíveis foram vacinadas contra difteria e tétano. Somente 16% das gestantes indígenas realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal. Ter acesso a pelo menos um cuidado clínico-obstétrico foi observado em cerca de 97% dos registros, exceto exame de mamas (63%). Foi baixa a solicitação de exames (glicemia 53,6%, urina 53%, hemograma 56,9%, citologia oncótica 12,9%, teste de sífilis 57,6%, sorologia para HIV 44,2%, hepatite B 53,6%, rubéola 21,4% e toxoplasmose 32,6%) e prescrição de sulfato ferroso (44,1%). No conjunto, a proporção de solicitações de exames laboratoriais preconizados não ultrapassou 53%. Os percentuais de realização das ações do pré-natal das indígenas são mais baixos que os encontrados para mulheres não indígenas no conjunto do território nacional, e até mesmo para as residentes em regiões de elevada vulnerabilidade social e baixa cobertura assistencial como a Amazônia Legal e o Nordeste. Os resultados reafirmam a persistência de desigualdades étnico-raciais que comprometem a saúde e o bem-estar de mães indígenas.
Abstract: This study assesses prenatal care for indigenous women 14-49 years of age with children under five years of age in Brazil. The First National Survey of Indigenous People's Health and Nutrition assessed 3,967 women who met these criteria, of whom 41.3% in the North, 21.2% in the Central, 22.2% in the Northeast, and 15% in the South/Southeast. Prenatal care was offered to 3,437 (86.6%) of these women. The North of Brazil showed the highest proportion of indigenous women who did not receive prenatal care. Coverage was 90.4%, but only some 30% began prenatal care in the first trimester, and only 60% of the eligible women were vaccinated for diphtheria and tetanus. Only 16% of indigenous pregnant women had seven or more prenatal visits. Access to at least one clinical-obstetric consultation was found in 97% of the records, except for breast examination (63%). Laboratory test rates were low (blood glucose 53.6%, urinalysis 53%, complete blood count 56.9%, Pap smear 12.9%, syphilis test 57.6%, HIV serology 44.2%, hepatitis B 53.6%, rubella 21.4%, and toxoplasmosis 32.6%), as was prescription of ferrous sulfate (44.1%). As a whole, the proportion of orders for recommended laboratory tests was only 53%. The percentages of prenatal care procedures for indigenous women are lower than for non-indigenous Brazilian women as a whole, and are even lower than among women in regions with high social vulnerability and low healthcare coverage, like the Legal Amazonia and the Northeast. The results confirm the persistence of ethnic-racial inequalities that compromise the health and well-being of indigenous mothers.
Resumen: Este estudio evalúa la atención prenatal a mujeres indígenas con edades comprendidas entre los 14-49 años, con hijos menores de 60 meses en Brasil. La Primera Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas evaluó a 3.967 mujeres que reunían tales requisitos, procediendo un 41,3% de la Región Norte; un 21,2% del Centro-oeste; un 22,2% del Nordeste; y un 15% del Sur/Sudeste. El servicio prenatal se le ofreció a 3.437 (86,6%) de ellas. La Región Norte registró la mayor proporción de mujeres que no realizaron el seguimiento prenatal. La cobertura alcanzada fue de un 90,4%, pero solamente cerca de un 30% comenzaron el seguimiento prenatal durante el primer trimestre y sólo un 60% de las elegibles fueron vacunadas contra la difteria y tétanos. Solamente un 16% de las gestantes indígenas realizaron 7 o más consultas de prenatal. Alrededor de un 97% de los registros se observó que tuvieron acceso a por lo menos un cuidado clínico-obstétrico, excepto el examen de mamas (63%). Fue baja la solicitud de exámenes (glucemia 53,6%, orina 53%, hemograma 56,9%, citología oncológica 12,9%, test de sífilis 57,6%, serología para VIH 44,2%, hepatitis B 53,6%, rubeola 21,4% y toxoplasmosis un 32,6%) y la prescripción de sulfato ferroso (44,1%). En conjunto, la proporción de solicitudes de exámenes de laboratorio previstos no sobrepasó el 53%. Los porcentajes de realización de acciones del seguimiento prenatal por parte de las indígenas son más bajos que los encontrados en mujeres no indígenas, en el conjunto del territorio nacional, y hasta incluso en comparación con las residentes en regiones de elevada vulnerabilidad social y baja cobertura asistencial como la Amazonia Legal y el Nordeste. Los resultados reafirman la persistencia de desigualdades étnico-raciales que comprometen la salud y el bienestar de las madres indígenas.
Assuntos
Humanos , Feminino , Gravidez , Adolescente , Adulto , Adulto Jovem , Cuidado Pré-Natal/estatística & dados numéricos , Avaliação de Programas e Projetos de Saúde/estatística & dados numéricos , Indígenas Sul-Americanos/estatística & dados numéricos , Pesquisas sobre Atenção à Saúde/estatística & dados numéricos , Fatores Socioeconômicos , Brasil , Estudos Transversais , Disparidades em Assistência à Saúde/etnologia , Disparidades em Assistência à Saúde/estatística & dados numéricos , Registros de Saúde Pessoal , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
RESUMO Em 23 de setembro de 1999, foi aprovada a criação do subsistema de saúde indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde. Neste trabalho, analisamos as bases discursivas de convergência e conflitos entre discursos indigenistas e da Reforma Sanitária, que nos permitem refletir sobre esse processo que consideramos configurar uma 'longa' Reforma Sanitária indígena. Utilizamos como referencial teórico a perspectiva da teoria de Stephen Ball, para analisar documentos produzidos por atores indigenistas (Fundação Nacional do Índio - Funai, Conselho Indigenista Missionário - Cimi e União das Nações Indígenas - UNI) e pelo Movimento da Reforma Sanitária. Apontamos evidências da utilização por indígenas e indigenistas dos argumentos e das propostas da Reforma Sanitária, e, por outro lado, o envolvimento estratégico de Sergio Arouca nos debates da saúde indígena. Os pontos de convergência se localizam principalmente na crítica ao modelo biomédico, à aproximação das propostas da atenção primária e do conceito ampliado de saúde. Os conflitos se relacionaram principalmente quanto à operacionalização do subsistema, mas o discurso indigenista, contrário à municipalização, encontrou na distritalização uma proposta legitimada na Reforma Sanitária.
ABSTRACT On September 23, 1999, the indigenous health subsystem was created within the scope of the Unified Health System. In this work, we analyze the discursive bases of convergence and conflicts between indigenist discourses and the health reform, which allow us to reflect on this process which we consider a 'long' indigenous health reform. We used as reference the perspective of Stephen Ball's theory, to analyze documents produced by indigenist actors (National Indian Foundation - Funai, Indian Missionary Council - Cimi and Union of Indigenous Nations - UNI) and the Health Reform Movement. We point to evidence of indigenous and indigenist use of arguments and proposals for sanitary reform and, on the other hand, the strategic involvement of Sergio Arouca in indigenous health events. The points of convergence are located mainly in the critique of the biomedical model, the approximation of primary care proposals, and the concept of health. Conflicts were mainly related to the operationalization of the subsystem, but the indigenist discourse, contrary to municipalization, found in the district process a proposal legitimized in the Health Reform.
Assuntos
Humanos , Antropologia Cultural , Museus , Publicações Periódicas como Assunto , Brasil , IncêndiosRESUMO
Resumo Os censos nacionais brasileiros empregam uma classificação de domicílios que se baseia nas categorias de "permanente", "improvisado" e "coletivo". Tal categorização é relevante para o campo da saúde, pois informações detalhadas sobre saneamento são coletadas somente para domicílios classificados como "permanentes". Este estudo descreve características sociodemográficas dos indígenas (sexo, idade, alfabetização, rendimento e etnia) que residiam em domicílios "improvisados" segundo o Censo Demográfico de 2010. A ocorrência de indígenas em domicílios "improvisados" (3,3 por mil indígenas) foi o dobro daquela observada para o país como um todo (1,5 por mil pessoas). Comparados aos indígenas em domicílios "permanentes", aqueles em "improvisados" apresentaram menores proporções de pessoas alfabetizadas e menores rendimentos, sobretudo em áreas urbanas e fora de terras indígenas. Guarani Kaiowá e Kaingang residentes fora de terras indígenas apresentaram as mais expressivas ocorrências de residentes em domicílios "improvisados" (82,0 e 90,9 por mil, respectivamente). Argumenta-se que, ao mesmo tempo que a caracterização de uma moradia indígena como "improvisada" pode decorrer de problemas na definição e aplicação das categorias, é possível que, sobretudo no contexto urbano e fora de terras indígenas, os indígenas residentes em domicílios "improvisados" apresentem maior vulnerabilidade socioeconômica.
Abstract Brazilian national censuses classify households according to three categories: "permanent", "improvised", and "collective". This classification scheme is relevant for analysis of health profiles because detailed sanitation data are only collected for the subset of "permanent" households. Based on data from the 2010 Brazilian National Census, in this paper we investigate sociodemographic characteristics (sex, age, literacy, per capita income, and ethnic affiliation) of Indigenous persons residing in households classified as "improvised". The occurrence of indigenous residents in "improvised" households (3.3 per thousand Indigenous individuals) was twice that observed for non Indigenous persons (1.5 per thousand individuals). Indigenous persons residing in "improvised" households presented lower literacy rates and per capita income, especially in urban areas and outside Indigenous reserves. Guarani Kaiowá e Kaingang in urban areas and outside Indigenous reserves had greater proportions of individuals residing in "improvised" households (82.0 and 90.9 per thousand, respectively). While the higher frequencies of Indigenous persons living in "improvised" households may involve problems in defining and applying these categories, it is possible that Indigenous persons living in "improvised" households, especially in urban areas and outside indigenous reservations, are more socioeconomically vulnerable.
Assuntos
Humanos , Brasil , Características de Residência , Saneamento , Censos , Saúde de Populações Indígenas , Fatores Socioeconômicos , HabitaçãoRESUMO
RESUMO: Objetivo: Os objetivos deste estudo foram analisar e descrever a presença da infraestrutura de saneamento básico nas áreas urbanas do Brasil, contrastando os perfis dos domicílios indígenas com os de não indígenas. Métodos: Trata-se de um estudo transversal com base nos microdados do Censo 2010. As análises foram baseadas em estatísticas descritivas (prevalências) e na construção de modelos de regressão logística múltipla (ajustados por covariáveis socioeconômicas e demográficas). Estimaram-se as razões de chance para a associação entre as variáveis explicativas (covariáveis) e de desfecho (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo e saneamento adequado). O nível de significância estatística estabelecido foi de 5%. Resultados: Entre os serviços analisados, o esgotamento sanitário mostrou-se o mais precário. Em relação à cor ou raça, os domicílios com responsáveis indígenas apresentaram as menores frequências de presença de infraestrutura sanitária no Brasil Urbano. Os resultados das regressões ajustadas mostraram que, em geral, os domicílios indígenas se encontram em desvantagem quando comparados aos de outras categorias de cor ou raça, especialmente quanto à presença do serviço de coleta de lixo. Essas desigualdades foram de maior magnitude nas regiões Sul e Centro-Oeste. Conclusão: As análises deste estudo não somente confirmam o perfil de precárias condições de infraestrutura de saneamento básico dos domicílios indígenas em área urbana, como também evidenciam a persistência de iniquidades associadas à cor ou raça no país.
ABSTRACT: Objective: The aims of this study were to analyze and describe the presence and infrastructure of basic sanitation in the urban areas of Brazil, contrasting indigenous with non-indigenous households. Methods: A cross-sectional study based on microdata from the 2010 Census was conducted. The analyses were based on descriptive statistics (prevalence) and the construction of multiple logistic regression models (adjusted by socioeconomic and demographic covariates). The odds ratios were estimated for the association between the explanatory variables (covariates) and the outcome variables (water supply, sewage, garbage collection, and adequate sanitation). The statistical significance level established was 5%. Results: Among the analyzed services, sewage proved to be the most precarious. Regarding race or color, indigenous households presented the lowest rate of sanitary infrastructure in Urban Brazil. The adjusted regression showed that, in general, indigenous households were at a disadvantage when compared to other categories of race or color, especially in terms of the presence of garbage collection services. These inequalities were much more pronounced in the South and Southeastern regions. Conclusion: The analyses of this study not only confirm the profile of poor conditions and infrastructure of the basic sanitation of indigenous households in urban areas, but also demonstrate the persistence of inequalities associated with race or color in the country.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Indígenas Sul-Americanos , Saneamento/normas , Saneamento/estatística & dados numéricos , Fatores Socioeconômicos , População Urbana , Brasil , Características da Família , Estudos Transversais , CensosRESUMO
RESUMO: Objetivo: Avaliar a prevalência de anemia, os níveis médios de hemoglobina e os principais fatores nutricionais, demográficos e socioeconômicos associados em crianças Xavante, em Mato Grosso, Brasil. Métodos: Realizou-se inquérito em duas comunidades indígenas Xavante na Terra Indígena Pimentel Barbosa visando avaliar todas as crianças com menos de dez anos. Foram coletados dados de concentração de hemoglobina, antropometria e aspectos socioeconômicos/demográficos por meio de avaliação clínica e questionário estruturado. Utilizaram-se os pontos de corte recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a classificação de anemia. Análises de regressão linear com hemoglobina como desfecho e regressão de Poisson com variância robusta com presença ou não de anemia como desfechos foram realizadas (intervalo de confiança de 95% -IC95%). Resultados: Os menores valores médios de hemoglobina ocorreram nas crianças com menos de dois anos, sem diferença significativa entre os sexos. A anemia atingiu 50,8% das crianças, prevalecendo aquelas com menos de dois anos 2 anos (77,8%). A idade associou-se inversamente à ocorrência de anemia (razão de prevalência - RP - ajustada = 0,60; IC95% 0,38 - 0,95) e os valores médios de hemoglobina aumentaram significativamente conforme o incremento da idade. Os maiores valores de escores z de estatura-para-idade reduziam em 1,8 vez a chance de ter anemia (RP ajustada = 0,59; IC95% 0,34 - 1,00). A presença de outra criança com anemia no domicílio aumentou em 52,9% a probabilidade de ocorrência de anemia (RP ajustada = 1,89; IC95% 1,16 - 3,09). Conclusão: Elevados níveis de anemia nas crianças Xavante sinalizam a disparidade entre esses indígenas e a população brasileira geral. Os resultados sugerem que a anemia é determinada por relações complexas e variáveis entre fatores socioeconômicos, sociodemográficos e biológicos.
ABSTRACT: Objective: To evaluate the prevalence of anemia, mean hemoglobin levels, and the main nutritional, demographic, and socioeconomic factors among Xavante children in Mato Grosso State, Brazil. Methods: A survey was conducted with children under 10 years of age in two indigenous Xavante communities within the Pimentel Barbosa Indigenous Reserve. Hemoglobin concentration levels, anthropometric measurements, and socioeconomic/demographic data were collected by means of clinical measurements and structured interviews. The cut-off points recommended by the World Health Organization were used for anemia classification. Linear regression analyses with hemoglobin as the outcome and Poisson regression with robust variance and with the presence or absence of anemia as outcomes were performed (95%CI). Results: Lower mean hemoglobin values were observed in children under 2 years of age, without a significant difference between sexes. Anemia was observed among 50.8% of children overall, with the highest prevalence among children under 2 years of age (77.8%). Age of the child was inversely associated with the occurrence of anemia (adjusted PR = 0.60; 95%CI 0.38-0.95) and mean hemoglobin values increased significantly with age. Greater height-for-age z-score values reduced the probability of having anemia by 1.8 times (adjusted PR = 0.59; 95%CI 0.34-1.00). Presence of another child with anemia within the household increased the probability of the occurrence of anemia by 52.9% (adjusted PR = 1.89; 95%CI 1.16-3.09). Conclusion: Elevated levels of anemia among Xavante children reveal a disparity between this Indigenous population and the national Brazilian population. Results suggest that anemia is determined by complex and variable relationships between socioeconomic, sociodemographic, and biological factors.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Lactente , Criança , Adolescente , Hemoglobinas/análise , Indígenas Sul-Americanos , Anemia/sangue , Anemia/epidemiologia , Fatores Socioeconômicos , Brasil/epidemiologia , PrevalênciaRESUMO
Resumo: Estimativas sobre os diferenciais de mortalidade adulta ou geral para a população indígena no Brasil são inexistentes, embora a construção destes indicadores seja de extrema importância para a redução das iniquidades sociais em termos de saúde verificada para este segmento populacional. Nas últimas décadas, avanços significativos ocorreram no Brasil na direção de reverter a falta de dados referentes aos indígenas nas estatísticas nacionais. O objeto desta comunicação é apresentar estimativas de mortalidade para indígenas e não indígenas em diferentes grupos de idades, baseadas nos dados do Censo Demográfico de 2010. Isso é feito com base no quesito de óbitos investigado em domicílios particulares. Os resultados encontrados indicam diferenças expressivas nas probabilidades de morte entre indígenas e não indígenas em todos os grupos de idades selecionados, para ambos os sexos. Observa-se que esses diferenciais são mais pronunciados na infância, principalmente para o sexo feminino. Os indicadores elaborados corroboram o fato de que os povos indígenas do Brasil encontram-se em uma situação de extrema vulnerabilidade em temos de saúde, estimando, de forma inédita, a magnitude destes diferenciais.
Abstract: There have been no previous estimates on differences in adult or overall mortality in indigenous peoples in Brazil, although such indicators are extremely important for reducing social iniquities in health in this population segment. Brazil has made significant strides in recent decades to fill the gaps in data on indigenous peoples in the national statistics. The aim of this paper is to present estimated mortality rates for indigenous and non-indigenous persons in different age groups, based on data from the 2010 Population Census. The estimates used the question on deaths from specific household surveys. The results indicate important differences in mortality rates between indigenous and non-indigenous persons in all the selected age groups and in both sexes. These differences are more pronounced in childhood, especially in girls. The indicators corroborate the fact that indigenous peoples in Brazil are in a situation of extreme vulnerability in terms of their health, based on these unprecedented estimates of the size of these differences.
Resumen: Las estimativas sobre los diferenciales de mortalidad adulta o general en los pueblos indígenas de Brasil son inexistentes, pese a que la construcción de estos indicadores sea de extrema importancia para la reducción de las inequidades sociales, en términos de salud verificada para este segmento poblacional. En las últimas décadas, se produjeron avances significativos en Brasil, con el fin de revertir la falta de datos referentes a las poblaciones indígenas en las estadísticas nacionales. El objeto de esta comunicación es presentar estimativas de mortalidad para indígenas y no indígenas en diferentes grupos de edades, basadas en los datos del Censo Demográfico de 2010. Esto se realiza basándonos en el apartado de óbitos investigado en domicilios particulares. Los resultados hallados indican diferencias expresivas en las probabilidades de muerte entre indígenas y no indígenas, en todos los grupos de edades seleccionados, para ambos sexos. Se observa que esos diferenciales son más pronunciados en la infancia, principalmente para el sexo femenino. Los indicadores elaborados corroboran el hecho de que los pueblos indígenas de Brasil se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad en términos de salud, estimando, de forma inédita, la magnitud de estos diferenciales.