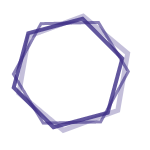RESUMO
OBJETIVO: Comparar o desempenho do PRISM (Pediatric Risk of Mortality) e o PIM (Pediatric Index of Mortality) em uma unidade de terapia intensiva pediátrica geral investigando a relação existente entre a mortalidade e a sobrevivência observadas com a mortalidade e sobrevivência estimadas pelos dois escores. MÉTODOS: Estudo de coorte contemporâneo realizado entre 1º de junho de 1999 a 31 de maio de 2000 na unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Os critérios de inclusão no estudo e o cálculo do PRISM e do PIM foram feitos conforme preconizado e utilizando as fórmulas de seus artigos originais. Para estatística, utilizou-se o teste z de Flora, teste de ajuste de Hosmer-Lemeshow, área sob a curva típica de um recebedor operador de características (curva ROC) e teste de correlação de Spearman. O estudo foi aprovado pelo Comitê da instituição. RESULTADOS: Internaram na unidade de terapia intensiva pediátrica 498 pacientes, sendo 77 excluídos. Dos 421 pacientes estudados, 33 (7,83 por cento) foram a óbito. A mortalidade estimada pelo PRISM foi de 30,84 (7,22 por cento), com standardized mortality rate 1,07 (0,74-1,50), z = -0,45. Pelo PIM, foi de 26,13 (6,21 por cento), com standardized mortality rate 1,26 (0,87-1,77), z = -1,14. O teste de ajuste de Hosmer-Lemeshow obteve um qui-quadrado 9,23 (p = 0,100) para o PRISM e 27,986 (p < 0,001) para o PIM. A área abaixo da curva ROC foi 0,870 (0,810-0,930) para o PRISM e 0,845 (0,769-0,920) para o PIM. Teste de Spearman r = 0,65 (p < 0,001). CONCLUSAO: Na análise dos testes podemos constatar que, embora o PIM apresente uma pior calibração no conjunto dos resultados, tanto o PRISM como o PIM apresentaram boa capacidade de discriminar entre sobreviventes e não sobreviventes, constituindo-se em ferramentas de desempenho comparáveis na avaliação prognóstica de pacientes pediátricos admitidos em nossa unidade.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Criança , Estado Terminal/mortalidade , Mortalidade Hospitalar , Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica/estatística & dados numéricos , Medição de Risco/métodos , Índice de Gravidade de Doença , Estudos de Coortes , Probabilidade , Prognóstico , Curva ROCRESUMO
OBJETIVO: Avaliar os modos de morte e fatores associados à limitação de suporte de vida em três unidades de terapia intensiva pediátrica do sul do Brasil. MÉTODO: Estudo transversal e retrospectivo em que foram revisados todos os óbitos ocorridos em 2002 em três unidades de terapia intensiva pediátrica de referência de Porto Alegre por uma equipe de pesquisadores treinados para esse fim. Foram avaliadas as características gerais, o modo de morte (ressuscitação cardiopulmonar, morte encefálica, ordem de não reanimar, não oferta e retirada de suporte vital - esses três últimos agrupados em limitação de suporte de vida), o tempo de internação - hospitalar e na unidade de terapia intensiva pediátrica -, o plano de final de vida e a participação da família nessa decisão. Para as comparações, foram utilizados o teste t de Student, Mann Whitney, qui-quadrado, odds ratio e análise multivariada. RESULTADOS: Aproximadamente 53,3 por cento dos óbitos receberam ressuscitação cardiopulmonar. A incidência de limitação de suporte de vida foi de 36,1 por cento, havendo diferença significativa (p = 0,014) entre os hospitais (25 versus 54,3 e 45,5 por cento). A forma de limitação de suporte de vida mais freqüente foi "ordem de não reanimar" (70 por cento). Observou-se associação entre limitação de suporte de vida com presença de doença crônica (odds ratio = 8,2; IC95 por cento = 3,2-21,3) e tempo de internação na unidade de terapia intensiva pediátrica > 24h (odds ratio = 4,4; IC95 por cento = 1,6-11,8). A participação da família e dos comitês de ética no plano de final de vida foi inferior a 10 por cento. CONCLUSÕES: A ressuscitação cardiopulmonar ainda é oferecida em uma freqüência maior do que a descrita nos países do hemisfério norte, enquanto que a limitação de suporte vital é realizada preferentemente através da ordem de não reanimar. Esses achados e a pequena participação da família refletem dificuldades em relação às decisões de final de vida enfrentadas por intensivistas do sul do Brasil.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Pré-Escolar , Criança , Morte , Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica , Cuidados para Prolongar a Vida , Assistência Terminal , Brasil , Reanimação Cardiopulmonar , Estudos Transversais , Ética Médica , Cuidados para Prolongar a Vida , Relações Profissional-Família , Ordens quanto à Conduta (Ética Médica) , Estudos Retrospectivos , Assistência TerminalRESUMO
OBJETIVO: Revisar e descrever os dados epidemiológicos dos pacientes admitidos em uma unidade de terapia pediátrica brasileira (UTIP) e compará-los aos aspectos clínicos associados aos índices de gravidade e mortalidade. Descrever as características desses pacientes, incluindo os dados demográficos, prevalência de doenças, índices de mortalidade e fatores associados. MÉTODOS: Os dados foram coletados retrospectivamente de todos os pacientes admitidos na UTIP de um hospital universitário entre 1978 e 1994. Os dados foram expressos em percentagens e comparados pelo teste qui-quadrado, calculando-se o risco relativo (RR) com um intervalo de confiança de 95 por cento, considerando-se um p<0,05. RESULTADOS: Foram selecionados 13.101 pacientes - em sua maioria meninos (58,4 por cento) - com doença clínica (73,1 por cento), menores de 12 meses de idade (40,4 por cento) e eutróficos (69,5 por cento). O índice geral de mortalidade foi de 7,4 por cento. Os pacientes menores de 12 meses de idade mostraram um RR de 1,86 (CI 1,65-2,10; p<0,0001), enquanto que a desnutriçäo mostrou um RR de 2,98 (IC 2,64-3,36; p<0,0001). CONCLUSÖES: O levantamento epidemiológico mostrou que a mortalidade é maior entre desnutridos e menores de 12 meses de idade. A sepse foi a principal causa de morte
Assuntos
Mortalidade Infantil , Pacientes Internados , Desnutrição Proteico-Calórica , Distribuição por Idade , Distribuição por Sexo , Prontuários Médicos , Unidades de Terapia Intensiva PediátricaRESUMO
Objetivo: Descrever os mecanismos fisiopatológicos da insuficiência respiratória na infância, assim como tecer comentários quanto ao diagnóstico diferencial das diferentes etiologias e ao seu tratamento. Fonte de dados: Foram utilizados como base de dados para pesquisa os principais textos nacionais e internacionais sobre insuficiência respiratória na infância. Resultados: A insuficiência respiratória é definida como a incapacidade de manter uma paO2 acima de 50 mmHg associada ou näo com um paCO2 maior de 50 mmHg em crianças respirando ar ambiente no nível do mar. Pode ser classificada em hipoxêmica e ou hipercápnica ou ainda em aguda ou crônica. Tem como alteraçöes principais a hipoventilaçäo, os distúrbios da ventilaçäo peerfusäo e os defeitos da difusäo. Pode ser de progem central, de vias aéreas superiores ou inferiores, de alteraçäo parenquimatosa ou do espaço pleural e da caixa torácica. A avaliaçäo da hipoxemia pode ser realizada através da saturaçäo da hemoglobina (saturômetros), calculando-se o gradiente alvéolo arterial de oxigênio (D[A-a]O2) ou pelo índice paO2/FiO2. Comentários: O conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos causadores da insuficiência respiratória na infância propicia que se estabaleça uma estratégia terapêutica mais eficaz para cada uma das várias de suas múltiplas causas.