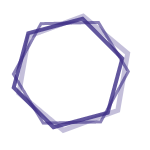RESUMO
Ambientes alimentares domésticos condicionam oportunidades e práticas que se relacionam à nutrição e à promoção da alimentação saudável. Devido às construções de gênero, as mulheres têm papel fundamental nesses contextos, estando associadas histórica e culturalmente ao cuidado alimentar nos domicílios. Considera-se que fatores como raça e classe social proporcionam diferentes experiências e níveis de agência feminina em ambientes alimentares domésticos, reverberando sobretudo na alimentação e na saúde. A partir disto, este ensaio propõe uma reflexão sobre as repercussões das relações entre gênero e ambientes alimentares domésticos. Discute-se também como os desdobramentos das interações entre as desigualdades de gênero, raciais e econômicas incidem na organização e no cuidado com a alimentação, a partir de aspectos que vão desde a aquisição e preparo de alimentos saudáveis, a padrões de consumo criados. Conclui-se que a falta de compartilhamento do trabalho doméstico, a dupla jornada, a sobrecarga, a dificuldade de acesso a recursos e alimentos e a vulnerabilidade socioeconômica são alguns dos fatores que desafiam a constituição de ambientes alimentares domésticos justos e saudáveis.
Home food environments provide opportunities and practices related to food and nutrition and the promotion of healthy eating patterns. Due to gender constructions, women play a key role in these contexts, being historically and culturally associated with food care at home. Race and social class are considered factors that provide different experiences and levels of female agency in home food environments, with special impact on nutrition and health. Based on this, the present study proposes a reflection about the repercussions of relations between gender and home food environments. It also discusses how unfolded interactions between gender, race and economic inequalities affect food organization and care based on aspects that range from purchase and preparation of healthy foods to created consumption patterns. It is concluded that some factors such as unshared household chores, double work shift, overload, difficulty of accessing resources and foods and socioeconomic vulnerability are challenges to be overcome to build fair and healthy home food environments.
Assuntos
Humanos , Feminino , Fatores Socioeconômicos , Mulheres Trabalhadoras , Dieta Saudável , Equidade de Gênero , Ambiente Domiciliar , Classe Social , Fatores Culturais , Racismo , Fatores Raciais , Enquadramento Interseccional , Vulnerabilidade Social , ZeladoriaRESUMO
Abstract In this study, we evaluated socioeconomic inequalities in the consumption of in natura/minimally processed and ultra-processed foods among adolescents. We used data from the Brazilian National Survey of School Health (PeNSE), 2015. According to the self-reported consumption of beans, vegetables and fruits, a score of in natura/minimally processed foods was generated (0-21 points). Sodas, sweets, instant noodles, and ultra-processed meat were used for the score of ultra-processed foods (0-21 points). Equality indicators were gender, maternal education, and socioeconomic level. Absolute difference, ratios, concentration index and slope index of inequality were calculated. Adolescents (n=101,689, 51% girls, 14.2 years) reported a mean score of 9.97 and 11.46 for ultra-processed foods and in natura/minimally processed foods, respectively. Absolute and relative differences between adolescents with the highest and lowest socioeconomic level, there were differences of 2.64 points and 33% for consumption of in natura/minimally processed foods; and 1.48 points and 15% for ultra-processed foods. Adolescents from higher socioeconomic level ate more in natura/minimally processed foods and ultra-processed foods.
Resumo Nesse estudo, avaliamos as desigualdades socioeconômicas no consumo de alimentos in natura/minimamente processados e ultraprocessados entre adolescentes. Foram utilizados dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), 2015. De acordo com o consumo autorrelatado de feijão, hortaliças e frutas, foi gerado um escore de alimentos in natura/minimamente processados (0-21 pontos). Refrigerantes, doces, macarrão instantâneo e carnes ultraprocessadas prontos para o consumo foram utilizados para a pontuação dos alimentos ultraprocessados (0-21 pontos). Os indicadores de equidade foram gênero, educação materna e nível socioeconômico. Foram calculados a diferença absoluta, razões, índice de concentração e índice de inclinação de desigualdade. Os adolescentes (n=101.689, 51% meninas, 14,2 anos) relataram escore médio de 9,97 e 11,46 para alimentos ultraprocessados e in natura/minimamente processados, respectivamente. As diferenças absolutas entre os adolescentes de alto e baixo nível socioeconômico foram mais altos e mais baixos, houve diferenças de 2,64 pontos e 33% para o consumo de alimentos in natura/minimamente processados; e 1,48 pontos e 15% para alimentos ultraprocessados. Adolescentes de níveis socioeconômicos mais elevados comeram mais alimentos in natura/minimamente processados e alimentos ultraprocessados comparado aos seus pares.
RESUMO
ABSTRACT Objective Characterize the community food environment through the different types of food outlets in the city of Fortaleza and associate their distribution according to sociodemographic indicators. Methods This is an ecological study carried out in the city of Fortaleza in which data from the Health Surveillance Service were used with the location of all licensed food stores in the city in the years 2018 and 2019. Georeferenced maps were set up to illustrate the spatial distribution of the establishments. Correlation analyses were performed to verify the association between food outlets and socioeconomic data. Values of p≤0.005 were considered significant. Results We identified a greater concentration of food stores in the neighborhoods with better socioeconomic levels. Snack bars (n=2051; 27.7%) and restaurants (n=1945; 26.3%), were in greater quantity and exhibited a positive correlation with the Human Development Index and average income. Supermarkets and hypermarkets (n=288; 3.9%) and street markets (n=81; 1.1%) were in a smaller number and had the worst spatial distribution. Conclusion We observed socioeconomic inequalities in the distribution of different types of food outlets. The little diversity and the limited number of establishments in peripheral neighborhoods, besides the centralization of outlets that sell food that is harmful to health, constitute obstacles for the population to make healthy food choices.
RESUMO Objetivo Caracterizar o ambiente alimentar comunitário por meio dos diferentes tipos de estabelecimentos de venda de alimentos existentes na cidade de Fortaleza e relacionar sua distribuição de acordo com indicadores sociodemográficos. Métodos Trata-se de um estudo ecológico realizado na cidade de Fortaleza em que foram utilizados dados da Vigilância Sanitária com a localização de todos os comércios de alimentos licenciados para funcionamento no município nos anos de 2018 e 2019. Foram construídos mapas georreferenciados para ilustrar a distribuição espacial dos estabelecimentos. Análises de correlação foram realizadas para verificar associação entre os estabelecimentos de venda de alimentos e dados socioeconômicos. Consideraram-se significativos valores de p≤0,005. Resultados Foi possível identificar maior concentração de comércios de alimentos nos bairros com melhores níveis socioeconômicos. Lanchonetes (n=2051; 27,7%) e restaurantes (n=1945; 26,3%) apresentaram-se em maior quantidade e obtiveram correlação positiva com o Índice de Desenvolvimento Humano e a renda média. Supermercados e hipermercados (n = 288; 3,9%) e feiras livres (n=81; 1,1%) existiam em menor proporção e apresentaram a pior distribuição espacial. Conclusão Desigualdades socioeconômicas foram observadas na distribuição dos diferentes tipos de pontos de venda de alimentos. A pouca diversidade e a limitada quantidade de estabelecimentos em bairros periféricos, além da centralização da oferta de comércios que vendem alimentos prejudiciais à saúde, constituem-se obstáculos para que a população faça escolhas alimentares saudáveis.
Assuntos
Fatores Socioeconômicos , Abastecimento de Alimentos , Restaurantes/estatística & dados numéricos , Fast Foods , Supermercados , Acesso a Alimentos SaudáveisRESUMO
ABSTRACT Objective To verify the association between cooking habits, socioeconomic data, and food choices of individuals with Type 1 Diabetes Mellitus during the pandemic of COVID-19. Methods Transversal study with individuals with Type 1 Diabetes Mellitus carried out in July 2020. Socioeconomic data and information about social distancing and food practices were collected with an online form. The research was approved by the university's Ethics and Research Committee (Process number 4.147.663). Results Out of the 472 participants, 50.9% reported that they have been cooking more during the pandemic. An association between cooking more and having a university degree (p<0.000) was observed. Not being able to comply with social distancing rules because of work necessities was associated with not cooking (p=0.006). Cooking more during the quarantine was associated with eating less than five meals per day (p=0.04), having an appropriate consumption of fruits (p=0.02) and vegetables (p=0.04), and increased water intake (p=0.01). Conclusion In Brazil, the habit of cooking during the pandemic may represent an increase in domestic work, reinforced by social inequalities. Therefore, comprehending the cooking habits and food choices of people with diabetes may widen the perspectives of health professionals involved in the treatment of the disease and contribute to the elaboration of public policies that take the country's inequalities into account. We emphasize the importance of investing in policies that encourage the development of culinary skills, as well as the habit of cooking as part of the actions of Food and Nutrition Education.
RESUMO Objetivo Verificar associação entre o hábito de cozinhar, dados socioeconômicos e escolhas alimentares de indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 1 durante a pandemia de COVID-19. Método Estudo transversal realizado com indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 1 durante julho de 2020. A partir de um formulário on-line foram coletados dados socioeconômicos, demográficos, informações sobre o distanciamento social e práticas alimentares durante a quarentena. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (parecer 4.147.663). Resultados Dos 472 participantes, 50,9% relataram estar cozinhando mais durante a quarentena. Observou-se uma associação entre cozinhar mais e ter ensino superior (p<0,000). Não estar realizando distanciamento social porque precisava trabalhar esteve associado a não cozinhar (p=0,006). Quanto à alimentação, cozinhar mais durante a quarentena estava associado a consumir menos de cinco refeições ao dia (p=0,04), ter consumo adequado de frutas (p=0,02) e hortaliças (p=0,04) e ter aumentado a ingestão de água (p=0,01). Conclusão No Brasil, o hábito de cozinhar durante a pandemia pode representar um aumento do trabalho doméstico, ocasionado pelas desigualdades sociais. Portanto, compreender esse hábito e as escolhas alimentares de pessoas com diabetes, pode ampliar a visão dos profissionais de saúde envolvidos no tratamento e contribuir com a elaboração de políticas públicas que levem em consideração as desigualdades do país. Ressaltamos a importância do investimento em políticas que estimulem o desenvolvimento das habilidades culinárias, bem como do hábito de cozinhar no âmbito das ações de Educação Alimentar e Nutricional.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Pessoa de Meia-Idade , Idoso , Isolamento Social , Culinária , Diabetes Mellitus , Diabetes Mellitus Tipo 1 , Dieta , Comportamento Alimentar , COVID-19RESUMO
Resumo O estudo descreve as coberturas de planos de saúde e compara a ocorrência de fatores de risco (FR) e proteção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, na população com e sem planos de saúde nas capitais brasileiras. Foram analisados dados do inquérito telefônico Vigitel. Foi utilizado o modelo de regressão de Poisson para estimar a razão de prevalência (RP), comparando FR entre quem tem ou não plano de saúde. A cobertura de planos foi de 49,1%, mais elevada em Goiania, Vitória, Florianópolis e Belo Horizonte, entre adultos acima de 55 anos e com maior escolaridade. A população com planos de saúde apresenta prevalências mais elevadas de fatores de proteção como consumo de frutas e hortaliças (RP = 1,3 IC95% 1,2-1,3), prática de atividade física no tempo livre (RP = 1,2 IC95% 1,2-1,3), mamografia (RP = 1,2 IC95% 1,1-1,3) e Papanicolau (RP = 1,1 IC95% 1,2-1,3), e menor prevalência de FR como tabagismo (RP = 0,7 IC95% 0,6-0,8), avaliação de saúde ruim (RP = 0,8 IC95% 0,6-0,9), obesidade (RP = 0,8 IC95% 0,7-0,9), carne com gordura (RP = 0,9 IC95% 0,8-0,9) e leite com gordura (RP = 0,9 IC95% 0,8-0,9). Independentemente da escolaridade, a população que tem planos de saúde apresenta geralmente, melhores indicadores, como hábitos mais saudáveis e maior cobertura de exames preventivos.
Abstract This study describes the coverage of health insurance and compares the occurrence of risk factors (RF) and protective factors of noncommunicable diseases in the population with and without health insurancesin Brazilianstate capitals. Data from the telephone survey Vigitel was analyzed. The Poisson regression model was used to estimate the prevalence ratio (PR), comparing RF among those who did or did not have a health insurance. Plan coverage was 49.1%, and the highest prevalences were in Goiania, Vitória, Florianópolis, and Belo Horizonte. Adults over 55 years of age and with higher education were more likely to have an insurance. The population with health insurance hada higher prevalence of protective factors, such as fruit and vegetable consumption (PR = 1.3 95% CI 1.2-1.3), physical activity in their free time (PR = 1.2 (95% CI: 1.2-1.3), mammographies (RP = 1.2 IC95% 1.1-1.3) and pap smears (PR = 1.1 IC95% 1.2-1.3), and lower prevalence of RFs such as smoking (RP = 0.7, 95% CI 0.6-0.8), poor health (RP = 0.8 CI95% 0.6-0.9), obesity (RP = 0.8 IC95% 0.7-0.9), consumption of meat with fat (RP = 0.9 IC95% 0.8-0.9) and whole milk (RP = 0.9 IC95% 0,8-0.9). Regardless of educational level, the population that has health insurancesgenerally has better indicators, such as healthier habits and greater coverage of preventive exams.
Assuntos
Humanos , Feminino , Adulto , Doenças não Transmissíveis/epidemiologia , Fatores Socioeconômicos , Brasil/epidemiologia , Exercício Físico , Prevalência , Estudos Transversais , Fatores de Risco , Fatores de Proteção , Seguro SaúdeRESUMO
ABSTRACT Objective This study aimed at knowing and analyzing sociocultural meanings of the daily dietary practices revealed by a university community, in the context of a wellness program to their community and its surroundings. Methods The research team ran 28 workshops with the participation of 34 university units and 558 subjects in total. All workshops were recorded and transcribed verbatim. Content analysis was performed with the identification of emerging themes and categories. Results From the analysis of this material four categories emerged. There is the desire caused by the pleasure of having meals in a group of people and consuming foods rich in fat and sugar, but with its consumption shrouded by guilt. Healthy foods were considered important but related to obligation and displeasure. The community also wants to consume healthy foods daily in the academic environment, however, pointed out barriers such as an increasing pace of work and lack of time. Conclusion It was possible to identify barriers and desires related to food practices in the daily life of the university. This study demonstrated that changing the eating behavior of an academic community is a major challenge for wellness programs, even for an institution that produces and disseminates scientific knowledge.
RESUMO Objetivo Este trabalho teve como objetivo conhecer e analisar os significados socioculturais das práticas alimentares cotidianas revelados pela comunidade de uma universidade brasileira no contexto de um programa de bem estar para sua comunidade e entornos. Métodos Foram realizadas 28 oficinas com a participação de 34 unidades universitárias e 558 pessoas. Todas as oficinas tiveram seu áudio gravado e transcrito. Foi realizada análise de conteúdo com a identificação de temas e categorias emergentes. Resultados A partir da análise do material transcrito, emergiram os significados em quatro categorias. Há o desejo pelo prazer de realizar as refeições em grupo e consumir alimentos ricos em gordura e açúcar, mas envolto por culpa. Alimentos saudáveis foram considerados importantes, mas seu consumo foi relacionado à obrigação e desprazer. Contudo, a comunidade deseja consumi-los diariamente no ambiente acadêmico, mas aponta barreiras como o aumento do ritmo de trabalho e falta de tempo. Conclusão Foi possível identificar barreiras e desejos relacionados às práticas alimentares no cotidiano da universidade. Este estudo mostrou que transformar o comportamento alimentar de uma comunidade acadêmica é um grande desafio para os programas de bem-estar, mesmo para instituições que produzem e disseminam conhecimentos científicos.
Assuntos
Comportamento Alimentar , Fatores Socioeconômicos , Universidades , Fatores Culturais , Dieta Saudável , Promoção da SaúdeRESUMO
Resumo Esta revisão sistemática objetivou analisar metodologias de estudos brasileiros que utilizam índices para avaliação da qualidade da dieta. Realizou-se busca sistemática em bases eletrônicas de dados (Lilacs, Medline, SciELO e Scopus), sem fazer restrição ao ano de publicação dos estudos. Foram selecionados artigos originais, nacionais, que avaliassem a qualidade da dieta pelo Healthy Eating Index (HEI) ou suas versões revisadas. Utilizou-se os descritores: qualidade da dieta, índice de alimentação saudável, índice de qualidade da dieta e respectivos termos em inglês. Foram selecionados 45 artigos, dos quais, 60% analisaram a qualidade da dieta por instrumento denominado índice de alimentação saudável e o restante por índice de qualidade da dieta. Dos estudos analisados, 68,9% classificaram a qualidade da dieta. A maioria dos estudos utilizou 10 itens para avaliação da qualidade da dieta e não apresentaram padronização quanto às metodologias. Dos estudos, 33,3% relacionaram o índice com fatores socioeconômicos e demográficos, itens alimentares e condições de saúde. Diferenças de nomeação e metodologias dificultam comparações entre os estudos de avaliação da qualidade da dieta.
Abstract This systematic review analyzes the methodologies of Brazilian studies that have used indices to evaluate dietary quality. A systematic search was performed of electronic databases (Lilacs, Medline, SciELO and Scopus) with no restriction on the year of publication of the studies. Original, Brazilian articles were selected that assessed dietary quality using the Healthy Eating Index (HEI) or its revised versions. The descriptors were as follows: dietary quality; healthy eating index; and dietary quality index. Atotal of 45 articles were selected, of which 60% analyzed dietary quality using an instrument called the Healthy Eating Index and the rest used an index of dietary quality. Of the analyzed studies, 68.9% classified dietary quality. Most of the studies used ten items to evaluate dietary quality and were not standardized regarding methodologies. A total of 33.3% of the studies related the index to socioeconomic and demographic factors, food items and health conditions. Differences in terms of nomenclature and methodologies made it difficult to compare these studies of dietary quality.
Assuntos
Humanos , Dieta/normas , Dieta Saudável , Fatores Socioeconômicos , Brasil , Avaliação NutricionalRESUMO
Objetivos: Avaliar a associação entre síndrome metabólica e Índice de Alimentação Saudável em idosos em atendimento em um serviço de atenção terciária pelo Sistema Único de Saúde. Métodos: Estudo transversal, realizado no ambulatório do Serviço de Geriatria do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, RS, entre novembro de 2009 e novembro de 2010. Foram convidados a participar do estudo todos os idosos atendidos no período, sendo excluídos aqueles com declínio cognitivo, transtornos psiquiátricos severos, grande restrição de mobilidade ou deficiência auditiva severa que comprometessem a avaliação nutricional. O diagnóstico de síndrome metabólica foi estabelecido pelo Third Report of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (NCEP-ATPIII) revisado e o padrão alimentar foi avaliado por meio do Índice de Alimentação Saudável adaptado para a população brasileira. Resultados: A amostra incluiu 186 idosos, a maioria mulheres (81,7%). A frequência de síndrome metabólica foi de 58,6%. Não houve diferença entre os escores do Índice de Alimentação Saudável de idosos com e sem síndrome metabólica. Na maioria dos idosos, a dieta necessitava de adequações. Idosos com síndrome metabólica tinham escore inferior somente para legumes e verduras (p=0,026). Na amostra total, o escore de cereais, pães, tubérculos e raízes foi diretamente associado com obesidade central (p=0,005); o de legumes e verduras inversamente com triglicerídeos (p=0,002) e diretamente com colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidade (HDL-c) (p=0,004); o de frutas, diretamente com obesidade central (p=0,048), glicemia (p=0,024), triglicerídeos (p=0,001) e inversamente com HDL-c (p=0,015); o de leguminosas com glicemia (p=0,019); o de gordura total indiretamente com obesidade central (p=0,004) e glicemia (p=0,041); e variedade da dieta inversamente com glicemia (p=0,002) e pressão arterial diastólica (p=0,031). Conclusões: A dieta dessa amostra de idosos da atenção terciária necessitava de adequação. Não se observou associação entre o escore total do Índice de Alimentação Saudável e síndrome metabólica. Contudo, entre dez componentes do índice, seis mostraram-se associados com os critérios diagnósticos da síndrome metabólica. Assim, destaca-se a necessidade de intensificar o cuidado em relação à adequação nutricional em todos os níveis da atenção à saúde, uma vez que a nutrição é um fator importante na modulação da síndrome metabólica e de seus componentes.
Aims: To evaluate the association of metabolic syndrome with the Healthy Eating Index in elderly patients treated in a tertiary care facility affiliated with the Brazilian public health system. Methods: A cross-sectional study was performed at the geriatric outpatient clinic of Sao Lucas Hospital of the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil, between November 2009 and November 2010. All elderly patients treated during this period were invited to participate in the study. Those with cognitive decline, severe psychiatric disorders, severe mobility restriction, or severe hearing impairment that could compromise nutritional assessment were excluded. The diagnosis of metabolic syndrome was established according to the revised "Third Report of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults" (NCEP-ATPIII), and the dietary pattern was evaluated using the Healthy Eating Index adapted to the Brazilian population. Results: The sample included 186 elderly patients, mostly women (81.7%). The frequency of metabolic syndrome was 58.6%. No difference was found between the Healthy Eating Index scores of elderly individuals with and without metabolic syndrome. The diet had to be adjusted in most of the patients. Elderly patients with metabolic syndrome presented lower scores only for the intake of legumes and vegetables (p=0.026). In the total sample, the score for cereals, breads, tubers, and roots was directly associated with central obesity (p=0.005); the score for legumes and vegetables was inversely associated with triglycerides (p=0.002) and directly with high-density lipoprotein cholesterol (HDL-c) (p=0.004); the score for fruits was directly associated with central obesity (p=0.048), blood glucose (p=0.024), and triglycerides (p=0.001), and inversely associated with HDL-c (p=0.015); the score for pulses was associated with blood glucose (p=0.019); total fat was indirectly associated with central obesity (p=0.004) and blood glucose (p=0.041); and dietary variety was inversely associated with blood glucose (p=0.005) and diastolic blood pressure (p=0.031). Conclusions: The diet of this sample of elderly from tertiary health care needed some adjustment. No association was observed between the total score of the Healthy Eating Index and metabolic syndrome. However, among 10 components of the index, six were associated with some diagnostic criteria of metabolic syndrome. Thus, it is important that nutritional adequacy be met at all levels of health care, since nutrition is an important factor in the modulation of metabolic syndrome and its components.
Assuntos
Geriatria , Avaliação Nutricional , Saúde do Idoso , Síndrome MetabólicaRESUMO
O objetivo deste artigo é apresentar algumas análises compreensivas acerca das concepções sobre alimentação saudável em um grupo de idosos. A alimentação é uma interface entre o biológico e o cultural, sem limites precisos sobre essa complexa imbricação. Assim, o que pode ser uma alimentação saudável diz respeito tanto às normas fisiológicas do corpo humano como às regras sociais em torno do que é saudável. Este estudo é um recorte das análises sobre as concepções de alimentação saudável de idosos que frequentam universidades da terceira idade, realizadas a partir de pesquisa qualitativa de cunho etnográfico com observação direta nas aulas de nutrição para os idosos. No grupo observado houve produção de uma concepção de alimentação saudável identitária de uma terceira idade que busca envelhecer com menos limitações, portanto, com melhores condições de saúde que proporcionem a possibilidade de diversas experiências na maturidade. Uma comida saudável para os idosos é expressa como "aquela que não faz mal", já que eles percebem que nem todas as comidas fazem bem, que o corpo envelhecido não suporta qualquer excesso alimentar e que as doenças produzem limitações do comer. Havia uma diferença entre a limitação do corpo (norma interna) e as recomendações médicas (norma externa). Ao mesmo tempo, a praticidade aparece como uma determinante da alimentação desses idosos, que, conectados ao ritmo de vida moderno, "não têm tempo para perder". Há um consenso no grupo de que é preciso aprender como se alimentar na idade avançada na busca de um equilíbrio entre as descobertas científicas em prol da longevidade, as exigências do mundo moderno, o envelhecimento do corpo e os prazeres da vida.
AbstractThe aim of the present study was to describe a range of comprehensive analyzes of conceptions of healthy nourishment among a group of elderly persons. Nourishment represents a complex overlapping of the biological and the cultural spheres, and as a result ideas of healthy nourishment are defined by both social and psychological guidelines. This study is a selection of analyzes of the conceptions of healthy nourishment of elderly persons attending the University of the Third Age, performed via a qualitative ethnographic approach based on the direct observation of nutrition classes for the elderly. The group displayed a conception of healthy nourishment related to growing old with as few limitations as possible, or in other words, with better health conditions, that allowed the possibility of a range of life experiences. The elderly persons considered healthy food to be "that which doesn't make one ill", as they understood that not all types of food were good for them, that the older body cannot withstand excess eating and that diseases result in dietary restrictions. There was a perception of the difference between body limitations (internal rule) and medical recommendations (external rule). At the same time, practicality was also a determinant in the eating habits of the elderly persons who, in keeping with the pace of modern life "did not have time to waste". There was a consensus among the group that learning about nutrition was necessary in later life, in order to find a balance between scientific knowledge relating to a longer life, the demands of the modern world, the aging of the body and the pleasures of eating.
RESUMO
The purpose of this study was to define the Healthy Eating Index (HEI) of the elderly of Southern Brazil and its association with energy, macronutrients and micronutrients intake. A cross-sectional study was conducted with 186 elderly aged 60 and older of the Geriatric Service of São Lucas Hospital, Porto Alegre , Brazil. Dietary data were collected by two 24-hour recalls, and diet quality was assessed by HEI adapted to the Brazilian population. The HEI total score was divided into three categories: inadequate diet (below 51 points), diet needs improvement (between 51 and 80 points), and healthy diet (over 80 points). The results showed that the mean HEI score was 58.8±10.5 points (ranging from 31.4 to 79.8). Most elderly (74.2%) showed a diet that needed modification and no elderly individual had a healthy diet. The quality of the diet was associated with greater intake of carbohydrates, and lower intake of total lipids, saturated fatty acids, cholesterol, and sodium. Consumption of vitamins C and D and calcium was shown to be positively correlated with the quality of the diet. Less than 1.1% of the elderly consumed a varied diet. The findings suggest that the diet of the majority of the elderly needs improvement, reinforcing the importance of care in relation to adequate nutrition in this population, and can help in guiding the activities and programs of nutritional education and public policies that stimulate increasingly healthy eating.
Índice de alimentação saudável de idosos: descrição e associação com ingestão de energia, macronutrientes e micronutrientes. O objetivo deste estudo foi descrever o Índice de Alimentação Saudável (IAS) de idosos do Sul do Brasil e sua associação com a ingestão de energia, macronutrientes e micronutrientes. Foi realizado um estudo transversal com 186 idosos com 60 anos ou mais, do Serviço de Geriatria do Hospital São Lucas, Porto Alegre, Brasil. Os dados relativos ao consumo alimentar foram coletados através de dois recordatórios de 24 horas, e a qualidade da dieta foi avaliada pelo IAS, adaptado à população brasileira e o escore total foi dividido em três categorias: dieta inadequada (abaixo de 51 pontos), dieta necessitando de adequação (entre 51 e 80 pontos), e dieta saudável (mais de 80 pontos). Os resultados mostraram que a média do IAS foi 58,8±10,5 pontos (variando de 31,4 a 79,8 pontos). A maioria dos idosos (74,2%) apresentou uma dieta que necessitava de modificação e nenhum idoso tinha uma dieta saudável. A qualidade da dieta foi associada com maior ingestão de carboidrato e baixa ingestão de gordura total, gordura saturada, colesterol e sódio. O consumo de vitaminas C e D e cálcio mostrou-se positivamente correlacionado com a qualidade da dieta. Menos de 1,1% dos idosos consumia uma dieta variada. Os resultados sugerem que a dieta da maioria dos idosos necessita de adequação, reforçando a importância dos cuidados em relação à nutrição adequada desta população e podem auxiliar na orientação de atividades e programas de educação nutricional e políticas públicas que estimulem a prática de uma alimentação mais saudável.