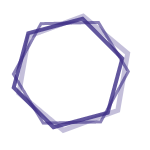RESUMO
RESUMO Por meio da antropologia da saúde, podemos compreender o terreiro de umbanda como parte de um sistema popular de cuidado. Este estudo teve por objetivo investigar as concepções de saúde e doença produzidas por zeladores de terreiro de umbanda. Participaram dez zeladores de terreiro da cidade de Uberaba (MG/Brasil), sendo três mulheres e sete homens, com idades entre 40 e 76 anos. O tempo médio de atuação como dirigente foi de 18,4 anos, variando de cinco a 43 anos. Os terreiros chefiados por esses participantes atendem entre 15 e 280 pessoas por dia de funcionamento. Pela análise das entrevistas, destaca-se que o cuidado em saúde oferecido pelos zeladores ultrapassa os limites rituais, nas cerimônias públicas, sendo prestado de modo contínuo nos terreiros. As posturas assumidas pelos entrevistados envolvem ações de escuta, acolhimento e proximidade física no momento da urgência. Pelas narrativas, pode-se concluir que o zelar, no sentido de gerenciar o espaço do terreiro, espiritual e materialmente, não pode ser dissociado do cuidar, significando os zeladores como importantes agentes populares de saúde.
RESUMEN A través de la antropología de la salud podemos entender el terreiro de umbanda como parte de un sistema de atención popular. Este estudio tuvo como objetivo investigar las concepciones de salud y enfermedad producidas por los cuidadores del terreiro de umbanda. Participaron diez cuidadores de terreiro de la ciudad de Uberaba (MG/Brasil), tres mujeres y siete hombres, con edades comprendidas entre 40 y 76 años. El tiempo promedio como gerente fue de 18.4 años, que van de cinco a 43 años. Los terreiros encabezados por estos participantes atienden entre 15 y 280 personas por día de operación. Del análisis de las entrevistas, se destaca que la atención médica ofrecida por los cuidadores va más allá de los límites rituales, en ceremonias públicas, que se brindan continuamente en los terreiros. Las actitudes asumidas por los entrevistados implican escuchar, acoger y proximidad física en el momento de urgencia. A través de las narrativas, se puede concluir que el cuidado, en el sentido de administrar el espacio del terreiro, espiritual y materialmente, no se puede disociar del cuidado, lo que significa que los cuidadores son importantes agentes de salud populares.
ABSTRACT Through health anthropology we can understand the umbanda terreiro (specific place for the religious ritual) as part of a popular system of care. This study aimed to investigate the conceptions of health and illness produced by saint keepers of umbanda terreiro. Ten leaders of the terreiros in the city of Uberaba (MG/Brazil) participated, being three women and seven men, between 40 and 76 years old. The average time of performance as a manager was 18.4 years, ranging from 5 to 43 years. The terreiros led by these participants attend between 15 and 280 people working day. The health care offered by saint keepers exceeds ritual limits in public ceremonies and is provided on a continuous basis in the terreiros. The postures assumed by the interviewees involve actions of listening, welcoming and physical proximity at the moment of urgency. From the narratives, it can be concluded that care, in the sense of managing the space of the terreiro, both spiritually and materially, can not be dissociated from caring, meaning saint keepers as important popular health.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Pessoa de Meia-Idade , Idoso , Terapêutica , Saúde Mental/ética , Cura pela Fé/ética , Autocuidado/psicologia , Comportamento Ritualístico , Emoções/ética , Acolhimento , Etnopsicologia/ética , Antropologia CulturalRESUMO
Resumo O trabalho buscou compreender a percepção de pessoas idosas em processo de fragilização sobre seus itinerários terapêuticos de cuidados. Esta pesquisa qualitativa, ancorou-se na antropologia médica crítica. A coleta dos dados ocorreu por meio de entrevistas no domicílio de 22 pessoas idosas, com média etária de 79 anos. A análise êmica foi guiada pelo modelo dos signos, significados e ações. Todos os(as) entrevistados(as) expressam acessar cuidados profissionais em sua trajetória que são interpretados como: insuficientes, despreparados, preconceituosos, incômodos, contraditórios, (in)acessíveis, um achado, respeitosos e excessivos. Os itinerários terapêuticos revelam-se também nos âmbitos psicossociais e culturais. Diversas ações do dia a dia vão sendo avaliadas e interpretadas no registro do cuidado consigo e justificadas por esse fim: o horário que acorda, que dorme, o que come, como se comporta. Em suas trajetórias, deparam-se com a falta de políticas de cuidados, com o enquadramento de seus corpos como indesejáveis, com barreiras físicas, simbólicas, comunicacionais, atitudinais, sistemáticas, culturais e políticas. Desse modo, revelam o pluralismo terapêutico, os desafios, os enfrentamentos, a insistência e a resistência na manutenção de cuidados ao experienciar velhices com fragilidades.
Abstract The present study sought to understand how frail older adults perceive their therapeutic care itineraries. This qualitative research was based on Critical Medical Anthropology. Data were collected through interviews in the homes of 22 older adults, whose average age was 79. The emic analysis was guided by the model of Signs, Meanings, and Actions. All interviewees expressed access to professional care in their trajectories, which are understood as insufficient, unprepared, prejudiced, uncomfortable, contradictory, (un)accessible, realization, respectful, and excessive. Therapeutic itineraries were also revealed in the psychosocial and cultural spheres. Several day-to-day actions were evaluated and interpreted in the record of self-care and justified by this end: the time they wake up, sleep, what they eat, and how they behave. They face the lack of care policies in their trajectories, labeling their bodies as undesirable due to physical, symbolic, communicational, attitudinal, systematic, cultural, and political barriers. Thus, they bring to light therapeutic pluralism, challenges, confrontations, insistence, and resistance in maintaining care when experiencing old age with frailties.
RESUMO
Resumo Objetivo Analisar os significados das masculinidades durante a vivência do câncer peniano e seus tratamentos. Métodos Abordagem qualitativa de pesquisa amparada em referencial teórico da antropologia médica e das masculinidades, com o emprego do método narrativo. Foram entrevistados em profundidade 18 homens com neoplasia peniana em um hospital referência em uro-oncologia do estado de São Paulo. Cada participante foi entrevistado com roteiro de investigação, em média três vezes, sendo as entrevistas audiogravadas, transcritas e analisadas conforme a análise temática indutiva. Resultados Seis participantes realizaram a penectomia parcial e 12 total. Em relação ao estado civil, participaram dois viúvos, dois solteiros, três divorciados e 11 casados, com média de idade de 54 anos. A extirpação do pênis promoveu mudanças significativas na forma como os homens performavam suas masculinidades, sobretudo a hegemônica. Portanto, essa experiência lhes permitiu reinterpretar suas condições de saúde na tentativa de identificar outros elementos hegemônicos que sustentassem suas imagens masculinas. Para alguns foi possível representar um homem inteiro, porém outros se consideram agora meio-homens. Conclusão O adoecimento rompeu com o fluxo biográfico dos participantes, pois antes do câncer peniano a hegemonia os representava como masculinos, entretanto, após a penectomia, eles perdem um órgão que socialmente traz atributos como força, poder, trabalho e virilidade, situação que lhes trouxe a necessidade de reinterpretar o ser masculino em suas culturas. A enfermagem, para promover o cuidado integral ao homem, deve considerar que as masculinidades interferem no processo saúde e doença.
Resumen Objetivo Analizar los significados de las masculinidades durante la vivencia del cáncer de pene y sus tratamientos. Métodos Enfoque cualitativo de investigación respaldado en el marco referencial teórico de la antropología médica y de las masculinidades, con el uso del método narrativo. Fueron entrevistados en profundidad 18 hombres con neoplasia de pene en un hospital de referencia en urología oncológica del estado de São Paulo. Cada participante fue entrevistado con guion de investigación, tres veces en promedio. Las entrevistas fueron grabadas, transcriptas y analizadas de acuerdo con el análisis temático inductivo. Resultados Seis participantes realizaron penectomía parcial y 12 total. Respecto al estado civil, participaron dos viudos, dos solteros, tres divorciados y 11 casados, con un promedio de edad de 54 años. La extirpación del pene generó cambios significativos en la forma como los hombres practicaban su masculinidad, sobre todo la hegemónica. Por lo tanto, esta experiencia les permitió interpretar sus condiciones de salud en el intento de identificar otros elementos hegemónicos que sostengan su imagen masculina. Para algunos fue posible representar un hombre entero, pero otros ahora se consideran medio hombres. Conclusión La enfermedad rompió con el flujo biográfico de los participantes, ya que antes del cáncer de pene, la hegemonía los representaba como masculinos; sin embargo, después de la penectomía, perdieron un órgano que socialmente trae atributos como fuerza, poder, trabajo y virilidad, situación que les produjo la necesidad de reinterpretar el ser masculino en su cultura. Para promover el cuidado integral del hombre, la enfermería debe considerar que las masculinidades interfieren en el proceso salud y enfermedad.
Abstract Objective To analyze masculinity meanings during penile cancer experience and its treatments. Methods Qualitative approach supported in the theoretical framework of medical anthropology and masculinities, with the use of the narrative method. We interviewed in-depth 18 men with penile cancer in a referential Urologic Oncology hospital from the state of São Paulo. Each participant was interviewed on average three times, with a structured script, being the interviews audio-recorded, transcribed, and analyzed according to the inductive thematic analysis. Results Six patients were submitted to the partial penectomy and 12 to the total penectomy. Regarding the marital status, six were widowers, two single, three divorced, and 11 married, with an average age of 54 years old. The penis extirpation fostered significant change in the way men performed their masculinities, even the hegemonic. Thus, this experience allowed them to reinterpret their health conditions to identify other hegemonic elements that sustained their masculine images. For a few, it was possible to represent a full man however, others considered themselves half-men. Conclusion The illness broke the participant's biographic flow because, before penile cancer, the hegemony represented them as masculines, however, after the penectomy, they have lost an organ that is socially related to attributes such as strength, power, work, and virility, situation that brought them the necessity to reinterpret being masculine in their culture. To promote integrality of care to man the nursing must consider that masculinities interfere in the process of health and disease.
Assuntos
Humanos , Masculino , Adolescente , Pessoa de Meia-Idade , Neoplasias Penianas/cirurgia , Processo Saúde-Doença , Masculinidade , Antropologia Médica , Amputação Cirúrgica , Enfermagem Oncológica , Entrevistas como Assunto , Assistência Integral à Saúde , Estudos de Avaliação como AssuntoRESUMO
RESUMO Desde principios de la década del 2000, se ha desarrollado una expansión de cultivo de soja transgénica en el Conosur que ha implicado un incremento exponencial de los volúmenes de plaguicidas utilizados en la región. Desde las ciencias sociales, se ha enfatizado el análisis de los conflictos socio- -ambientales para resistir ante los diversos proble-mas que conlleva este modelo productivo. Uruguay, aunque menos visible en los debates internacionales, no estuvo ajeno a dicho proceso. Este artículo tiene como objetivo introducir el caso uruguayo en el debate regional sobre los problemas ocasionados por la expansión de plaguicidas asociada al avance de la sojización y discutir las posibilidades de la participación social en salud ambiental como forma de resistencia. La metodología combina un estudio etnográfico en el núcleo agrícola del país con análisis documental. Se discuten los resultados a la luz de la antropología médica crítica, evidenciando que si bien las denuncias son mecanismos que permiten visibilizar públicamente los problemas ocasionados por el uso de plaguicidas, en el marco de las relaciones de hegemonía- -subalternidad que estructuran las relaciones sociales en una economía agraria, los alcances y límites de la participación social en salud ambiental las trascienden.
ABSTRACT Since the early 2000s, there has been an expansion of transgenic soybean cultivation in the Conosur, which has involved an exponential increase in the volumes of pesticides used in the region. Social sciences have emphasized the analysis of socio-environmental conflicts to resist the various problems that this productive model entails. Uruguay, although less visible in international debates, was not exempt from this process. This article aims to introduce the Uruguayan case in the regional debate on the problems caused by the spread of pesticides associated with the advance of soybean production and to discuss the possibilities of social participation in environmental health as a form of resistance. The methodology combines an ethnographic study in the agricultural core of the country with documentary analysis. The results are discussed in the light of critical medical anthropology, evidencing that although public complaints are mechanisms that allow public visibility of the problems caused by the use of pesticides, within the framework of hegemonysubalternity relations that structure social relations in an agrarian economy, the scope and limits of social participation in environmental health transcend them.
RESUMO
Resumo A partir da experiência do projeto Respostas Indígenas à COVID-19 no Brasil: arranjos sociais e saúde global (PARI-c), na região do Alto Rio Negro (AM), buscamos refletir neste artigo sobre as possibilidades e implicações da produção colaborativa de conhecimento com pesquisadoras indígenas, levando em consideração a emergência sanitária, as imobilidades territoriais, as desigualdades sociais e as diferenças epistemológicas e de políticas ontológicas. A partir da ideia de Cestos de conhecimento, pensamos as formas e possibilidades dessa colaboração, à luz de discussões contemporâneas sobre processos de "descolonização" da saúde pública (global, planetária) e do conhecimento em saúde. A base empírica para este artigo é uma descrição da experiência metodológica, de produção de conhecimento, focada em duas faces: o campo e a escrita. Esse material nos permite tecer algumas considerações em torno da relevância e do sentido de formas de geração de "saberes híbridos", para lidar com contextos de crises globais ou sindemias. Estas formas, como veremos, atravessam o realinhamento das alianças e têm na escrita de mulheres um lugar especial de atenção.
Abstract From the experience of the project Indigenous Responses to COVID-19 in Brazil: social arrangements and global health (PARI-c), in the region of Alto Rio Negro (AM), we seek to reflect in this article on the possibilities and implications of collaborative knowledge production with indigenous researchers, taking into account the health emergency, territorial immobilities, social inequalities, and epistemological and ontological policy differences. From the idea of Baskets of knowledge, we think about the forms and possibilities of this collaboration, in the light of contemporary discussions on processes of "decolonization" of public health (global, planetary) and health knowledge. The empirical basis for this article is a description of the methodological experience of knowledge production, focused on two aspects: the field and writing. This material allows us to make some considerations around the relevance and meaning of ways of generating "hybrid knowledge", to deal with contexts of global crises or syndemics. These ways, as we shall see, cross the realignment of alliances and find a special focal point on women's writing.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Saúde de Populações Indígenas , Pesquisa Participativa Baseada na Comunidade , Identidade de Gênero , COVID-19 , Antropologia , Antropologia CulturalRESUMO
Abstract Objectives: to understand the experiences of women from Brazilian northeastern semi-arid in accessing obstetric care. Methods: qualitative research conducted by the methodological framework of ethnonursing, carried out with 13 key informants in a public maternity hospital located in the Cariri region of Ceará in the Brazilian Northeast semiarid. The Observation-Participation-Reflection enablers was adopted for data collection, with observations recorded in a field diary and individual interviews, such as "tell me about". The immersion process in the field lasted five months. The empirical material was submitted to procedures of the data analysis guide for ethno-nursing. Results: from the patterns that emerged empirically, three cultural themes became evident: "It has to be delivered in the hands of God": discursive constructions about prenatal care; "We stay in this endless coming and going": antepartum pilgrimage; "If I were rich, I wouldn't be here": attention received in accessing maternity. Conclusions: in the cultural scenario analyzed, women were inserted in the context of clinical and social weaknesses, violation of rights and dignity, resorting to divine designs in the face of difficulties in accessing obstetric services and pilgrimage to guarantee consultations, exams, and hospitalization for childbirth.
Resumo Objetivos: compreender as experiências de mulheres do semiárido nordestino brasileiro no acesso à assistência obstétrica. Métodos: pesquisa qualitativa conduzida pelo referencial metodológico da etnoenfer-magem, realizada com 13 informantes-chave em maternidade pública localizada na região do Cariri cearense no semiárido nordestino brasileiro. Adotou-se para coleta de dados o capacitador Observação-Participação-Reflexão com registro das observações em diário de campo e entrevistas individuais do tipo "conte-me sobre". O processo de imersão no campo durou cinco meses. O material empírico foi submetido aos procedimentos do guia de análise de dados da etnoenfermagem. Resultados: a partir dos padrões que emergiram empiricamente evidenciaram-se três temas culturais: "Tem que entregar nas mãos de Deus": construções discursivas acerca do acompanhamento pré-natal; "A gente fica nesse vai e vem sem fim": peregrinação anteparto; "Se eu fosse rica, não estaria aqui": atenção recebida no acesso à maternidade. Conclusões: no cenário cultural analisado as mulheres encontravam-se inseridas em contexto de fragilidades clínica e social, de violação de direitos e da dignidade, recorrendo aos desígnios divinos diante das dificuldades de acesso aos serviços obstétricos e peregrinação para garantia de consultas, exames e internamento para o parto.
Assuntos
Humanos , Feminino , Gravidez , Cuidado Pré-Natal , Fatores Socioeconômicos , Equidade no Acesso aos Serviços de Saúde , Acessibilidade aos Serviços de Saúde , Antropologia Cultural , Enfermagem Obstétrica , Brasil , Trabalho de Parto , Serviços de Saúde Materno-InfantilRESUMO
Obesidade e sobrepeso são conceitos médicos para a classificação do excesso de gordura corporal, que se dá a partir de determinados parâmetros numéricos de referência como, principalmente, o Índice de Massa Corporal (IMC). Para a medicina, os indivíduos devem manter seu peso dentro da margem estipulada, tendo em vista que o corpo gordo é considerado doença crônica e fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades. Nesse sentido, o corpo magro é valorizado como um corpo saudável e o corpo gordo desvalorizado como doente. Ao mesmo tempo, estar gordo ou gorda é uma condição considerada evitável, o que faz com que estes indivíduos sejam responsabilizados pessoalmente por seu estado físico. Com isso, são desvalorizados também moralmente e estigmatizados, não só pela medicina, mas em todos os âmbitos sociais, sobretudo nas sociedades ocidentais contemporâneas. O corpo magro, por outro lado, do ponto de vista social, é sinal de beleza e signo de distinção, tanto de classe quanto moral. Dessa forma, a magreza fica idealizada num polo e o excesso de gordura corporal repudiado no outro, ou seja, com isso, temos corpo gordo x corpo ideal. Esta dicotomia impacta as relações sociais e políticas, assim como é também uma construção social e resultado de ações políticas. Então, a partir da visão socioantropológica, buscamos pesquisar sobre os atravessamentos sociais acerca do que a medicina chama de sobrepeso e obesidade, problematizando a questão da medicalização do corpo gordo. O nosso campo de investigação foi uma pesquisa bibliográfica de publicações recentes relacionadas à esta temática. O presente trabalho está organizado em três capítulos: o primeiro, dedicado aos pressupostos conceituais; o segundo, ao percurso metodológico e o terceiro, finalmente, trata da análise e discussão dos artigos resultarantes da pesquisa. Os principais temas e conceitos abordados nestes artigos são: obesidade e sobrepeso como questões de gênero, especificamente feminino; sociedades ocidentais como lipofóbicas e obesogênicas; consumo e hiperconsumo; publicidade; indústrias ligadas à alimentação, saúde e moda; corpo magro como ideal; estigma; cultura; racionalidade nutricional como forma de medicalização da comida; corpo gordo como fator de risco em saúde e estilo de vida saudável como meio de prevenção e responsabilização individual. A nossa análise destas abordagens mostrou que a medicalização do corpo gordo tem função para além da promoção da saúde e gestão de riscos, pois envolve a possibilidade de maior aceitação e mobilidade social. Dessa forma, sustenta-se uma intensa pressão social para adequação estética. Consideramos que pode ser positivo promover a diversidade de corpos e politizar a medicalização do corpo gordo, discutindo os diversos interesses em jogo, como os lucros da indústria do emagrecimento.
Obesity and overweight are medical concepts for the classification of excess body fat, which is based on certain numerical reference parameters such as, mainly, the Body Mass Index (BMI). For medicine, individuals must maintain their weight within the stipulated range, considering that the fat body is considered a chronic disease and a risk factor for the development of comorbidities. In this sense, the thin body is valued as a healthy body and the fat body is devalued as sick. At the same time, being fat or fat is a condition considered to be preventable, which makes these individuals personally responsible for their physical condition. As a result, they are also morally devalued and stigmatized, not only by medicine, but in all social spheres, especially in contemporary Western societies. The thin body, on the other hand, from a social point of view, is a sign of beauty and a sign of distinction, both class and moral. In this way, thinness is idealized in one pole and excess body fat is repudiated in the other, that is, with that, we have a fat body x ideal body. This dichotomy impacts social and political relations, as well as being a social construction and a result of political actions. So, from the socio-anthropological point of view, we seek to research about the social crossings about what medicine calls overweight and obesity, questioning the issue of medicalization of the fat body. Our field of investigation was bibliographic research of recent publications related to this theme. The present work is organized into three chapters: the first, dedicated to conceptual assumptions; the second, to the methodological course and the third, finally, deals with the analysis and discussion of the articles resulting from the research. The main themes and concepts addressed in these articles are: obesity and overweight as gender issues, specifically female; western societies as lipophobic and obesogenic; consumption and hyperconsumption; publicity; industries linked to food, health and fashion; slim body as ideal; stigma; culture; nutritional rationality as a form of medicalization of food, a fat body as a risk factor in health and a healthy lifestyle as a means of prevention and individual accountability. Our analysis of these approaches showed that the medicalization of the fat body has a function beyond health promotion and risk management, as it involves the possibility of greater acceptance and social mobility. In this way, an intense social pressure for aesthetic adequacy is sustained. We believe that it can be positive to promote the diversity of bodies and politicize the medicalization of the fat body, discussing the various interests at stake, such as the profits of the slimming industry.
Assuntos
Humanos , Corpo Humano , Sobrepeso , Antropologia Médica , Medicalização , Fatores Sociais , ObesidadeRESUMO
Abstract Interested in exploring the construction of the negotiations present in the decision relationships in complex chronic care in pediatric outpatient settings, we approach Anselm Strauss and the concept of negotiated order and Annemarie Mol with the concept of decision logic associated with Latour actor-network theory. We used an ethnographic perspective of health research in the pediatric and stomatherapy outpatient clinics of a hospital located in the city of Rio de Janeiro, from July to December 2017. The interpretation of the field converged to two major axes: diagnosis and therapeutic itineraries, where care was performed through negotiation networks. These concerned the organization of the lives of people related to this care. This whole negotiation process took place in a hybrid scenario, marked by blurring across borders, where caregivers constantly negotiated the recognition of their children. Depending on the spaces and times of interaction, the actors moved through different identities, in a negotiation between how they recognized themselves and how they were recognized by people in complex chronic care. Negotiations in the observed care relationships took place between the uncertainties inherent to the health condition and the possibilities of living with that diagnosis.
Resumo Interessados em explorar a construção das negociações presentes nas relações de decisões no cuidado crônico complexo em pediatria em ambiente ambulatorial, acessamos Anselm Strauss e o conceito de ordem negociada e Annemarie Mol com o conceito das lógicas das decisões associada à teoria ator-rede de Latour. Fizemos uso de uma perspectiva etnográfica da pesquisa em saúde nos ambulatórios de pediatria e estomaterapia de um hospital localizado na cidade do Rio de Janeiro, no período de julho a dezembro de 2017. A interpretação do campo convergiu para 2 grandes eixos: diagnóstico e itinerários terapêuticos, onde o cuidado foi performado por meio de redes de negociação. Estas disseram respeito à organização da vida das pessoas relacionadas a este cuidado. Todo este processo de negociação se deu num cenário híbrido, marcado por borramento entre fronteiras, onde os envolvidos com o cuidado negociavam constantemente o reconhecimento de suas crianças. Na dependência dos espaços e tempos de interação, os atores transitavam por diversas identidades, numa negociação entre como eles se reconheciam e como eram reconhecidos pelas pessoas no cuidado crônico complexo. As negociações no cuidado observadas se deram entre as incertezas inerentes à condição de saúde e às possibilidades de viver com aquele diagnóstico.
Assuntos
Humanos , Lactente , Pré-Escolar , Criança , Cuidado da Criança , Doença Crônica , Negociação , Cuidadores , Itinerário Terapêutico , Brasil , Assistência Ambulatorial , Antropologia CulturalRESUMO
A Antropologia moderna entende a cultura como a construção de uma série de elementos simbólicos ao longo da vida pelos indivíduos (conceito importante para a superação de determinismos vigentes anteriormente). Atualmente, as ciências médicas são entendidas também como parte das dinâmicas sociais. Desta forma, grupos historicamente minoritários por sua marginalização social, como as mulheres, encontram uma lógica muito semelhante no campo da saúde. A Saúde da Mulher pouco humanizada e não centrada na paciente é um problema ainda não superado no campo das ciências médicas, sendo uma batalha sobretudo de cunho social. É importante que as mulheres se apropriem da linguagem técnico-científica que rege o mundo contemporâneo e sejam também desmanteladoras de armadilhas sociais que estão constantemente agindo no subjugo de minorias sociais. A Antropologia moderna, como instrumento de ressignificação da cultura e de luta pela superação de problemas sociais, é um importante subsídio para as ciências médicas.
Modern Anthropology understands that culture is the construction of a series of symbolic elements throughout the lifespan of an individual (important concept to overcome previously existing determinisms). Medical science is also currently understood as being a part of social dynamics. Therefore, groups that are historically considered minority due to social marginalization, including women, encounter a very similar logic in the field of healthcare. Failure to be humanized and patient-centered in women's healthcare is a problem that remains to be overcome in the field of medical science. Furthermore, it is a battle of a social nature, in particular. The appropriation of technical-scientific language governing the contemporary world by women is also important to dismantle the social traps which are constantly acting to subdue social minorities. Modern Anthropology plays an important role in medical science, as a tool for reframing culture and struggling to overcome social problems
Assuntos
Humanos , Feminino , Saúde da Mulher , Cultura , Ciências da Saúde , Antropologia , Direitos da Mulher , Equidade de Gênero , Grupos MinoritáriosRESUMO
Objective: to understand how the relationships between chronicity and politics shape sociability and mutual help among people living with HIV/AIDS. Method: This is a virtual ethnography in a closed group on Facebook. To collect the information, on-lineparticipant observation and documental analysis were utilized. 37 posts were analyzed using the softwareNVivo 12 Pro and the thematic coding technique. Results: Two thematic categories emerged: Do the treatment and time will take care of the rest: Mutual help and HIV/AIDS as a chronic condition; and Yes, there is danger around the corner, my dear: Politics, conflicts and sociability in the group. The most relevant aspect of this study concerns the evidence of the fragility of the discourse on the chronicity of HIV/AIDS. Conclusion: Through the analysis of sociability and mutual help produced among the members of the investigated group, it was possible to apprehend the ways in which, in their experiences on living with HIV/AIDS as a chronic condition, the relationships between health-disease, politics and time showed the dependence between chronicity and the State, and its impacts on daily life.
Objetivo: compreender como as relações entre cronicidade e política modelam a sociabilidade e a ajuda mútua entre pessoas que vivem com HIV/aids. Método: trata-se de uma etnografia virtual em um grupo fechado no Facebook. Para coligir as informações, utilizaram-se observação participante on-line e análise documental. Analisaram-se 37 postagens por meio do software NVivo 12 Pro e pela técnica de codificação temática. Resultados: emergiram duas categorias temáticas: Faça o tratamento e o tempo se encarregará do resto: ajuda mútua e HIV/aids como condição crônica; e Sim, há perigo na esquina, meu bem: política, conflitos e sociabilidade no grupo. O aspecto mais relevante deste estudo diz respeito à evidência da fragilidade do discurso da cronicidade do HIV/aids. Conclusão: por meio da análise da sociabilidade e da ajuda mútua produzidas entre os membros do grupo investigado foi possível apreender os modos como, em suas experiências de viver com o HIV/aids como condição crônica, as relações entre saúde-doença, política e tempo evidenciaram a dependência entre cronicidade e Estado, e seus impactos na vida cotidiana.
Objetivo: comprender cómo las relaciones entre cronicidad y política configuran la sociabilidad y la ayuda mutua entre las personas que viven con el VIH/SIDA. Método: una etnografía virtual en un grupo cerrado en Facebook. Para recopilar la información, se utilizó la observación participante en línea y el análisis de documentos. Se analizaron 37 publicaciones utilizando el software NVivo 12 Pro y la técnica de codificación temática. Resultados: surgieron dos categorías temáticas: Haga el tratamiento y el tiempo se encargará del resto: ayuda mutua y VIH/SIDA como condición crónica; y Sí, hay peligro en la esquina, cariño: política, conflictos y sociabilidad en el grupo. El aspecto más relevante de este estudio se refiere a la evidencia de la fragilidad del discurso sobre la cronicidad del VIH/SIDA. Conclusión: a través del análisis de la sociabilidad y la ayuda mutua producida entre los miembros del grupo investigado, fue posible comprender las formas en que, en sus experiencias de vivir con el VIH/SIDA como una condición crónica, las relaciones entre salud-enfermedad, política y tiempo mostró la dependencia entre la cronicidad y el Estado, y su impacto en la vida diaria.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Doença Crônica , Síndrome da Imunodeficiência Adquirida , HIV , Rede Social , Antropologia MédicaRESUMO
Validada para o contexto nacional brasileiro em 2004, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) tem desde então avaliado e mensurado a experiência de insegurança alimentar de domicílios rurais e urbanos, inicialmente na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e posteriormente na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. No entanto, os povos indígenas não foram especificamente examinados nesses levantamentos, a despeito do reconhecimento das suas vulnerabilidades alimentar e nutricional. Nesse cenário, analisamos e discutimos a aplicação da EBIA entre povos indígenas do país, com base em um conjunto de questões aqui consideradas fundamentais para a compreensão e a mensuração de sua experiência de insegurança alimentar e "fome". É realizada uma análise sociopolítica e etnográfica de um conjunto de documentos oficiais e artigos significativos sobre o uso de escalas psicométricas de insegurança alimentar entre povos indígenas brasileiros, em contraste com artigos internacionais sobre a validação e aplicação das escalas em outros contextos socioculturais. As iniciativas de adaptação e aplicação da EBIA aos contextos indígenas brasileiros indicam que compreender e mensurar a insegurança alimentar entre esses povos é um desafio de magnitude considerável. Particularmente complexa é a proposta de garantir a comparabilidade entre contextos distintos sem deixar de contemplar as plurais singularidades locais. Propomos que estudos etnográficos constituam componentes específicos de futuras iniciativas dedicadas ao tema, e que contemplem aspectos como a sazonalidade da produção de alimentos, seus processos diferenciais de monetarização e o dinamismo de seus sistemas alimentares.
The Brazilian Food Insecurity Scale (EBIA) was validated for the Brazilian context in 2004. Since then, the scale has evaluated and measured the experience of food insecurity in rural and urban households, initially in the Brazilian National Household Sample Survey and later in the Brazilian National Survey of Demographic and Health. However, indigenous peoples have not been examined specifically in these surveys, despite recognition of their food and nutritional vulnerability. In this scenario, we analyze and discuss the application of the EBIA among indigenous peoples in Brazil, based on a set of fundamental questions for understanding and measuring their experience with food insecurity and "hunger". We conduct a sociopolitical and ethnographic analysis of a set of official documents and significant articles on the use of psychometric scales of food insecurity among Brazilian indigenous peoples, compared to international studies on the validation and application of scales in other sociocultural contexts. The initiatives with adaptation and application of the EBIA to indigenous peoples in Brazil indicate that understanding and measuring food insecurity in these peoples poses a major challenge. Particularly complex is the proposal to guarantee comparability of different contexts while taking into account the multiple local singularities. We propose that ethnographic studies should serve as specific components of future initiatives on this topic and that they should cover aspects such as the seasonality of indigenous peoples' food production, different processes of food monetization, and the dynamics of their food systems.
Validada para el contexto nacional brasileño en 2004, la Escala Brasileña de Inseguridad Alimentaria (EBIA) ha evaluado y calculado desde entonces la existencia de inseguridad alimentaria en domicilios rurales y urbanos, inicialmente mediante la Encuesta Nacional por Muestra Domiciliaria y, posteriormente, a través de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. No obstante, los pueblos indígenas no fueron específicamente examinados en estas encuestas, a pesar del reconocimiento de su vulnerabilidad alimentaria y nutricional. En este escenario, analizamos y discutimos la aplicación de la EBIA entre pueblos indígenas del país, a partir de un conjunto de cuestiones consideradas aquí fundamentales para la comprensión y medición de su experiencia de inseguridad alimentaria y "hambre". Se realiza un análisis sociopolítico y etnográfico de un conjunto de documentos oficiales, así como de artículos significativos sobre el uso de escalas psicométricas de inseguridad alimentaria entre pueblos indígenas brasileños, en contraste con artículos internacionales sobre la validación y aplicación de las escalas en otros contextos socioculturales. Las iniciativas de adaptación y aplicación de la EBIA en contextos indígenas brasileños indican que comprender y medir la inseguridad alimentaria entre estos pueblos es un desafío de magnitud considerable. Particularmente compleja es la propuesta de garantizar la comparabilidad entre contextos distintos, sin dejar de considerar las plurales singularidades locales. Proponemos que los estudios etnográficos establezcan componentes específicos para las futuras iniciativas dedicadas a este tema, así como que contemplen aspectos como: estacionalidad de la producción de alimentos, sus procesos diferenciales de monetarización, y dinamismo de sus sistemas alimentarios.
Assuntos
Humanos , Fome , Insegurança Alimentar , Psicometria , Fatores Socioeconômicos , Brasil , Abastecimento de Alimentos , Povos IndígenasRESUMO
O Exército Zapatista de Liberação Nacional (EZLN) e suas bases de apoio são formados predominantemente por indígenas que vivem na região de Chiapas, no México. O movimento constrói uma profunda experiência de autonomia, o que passa por diferentes dimensões da vida coletiva. Neste artigo, pretendemos, a partir de um trabalho de campo realizado na região, nos focar na saúde autônoma. A concepção de saúde está estritamente relacionada com a noção de terra, já que para ter saúde é preciso pertencer a um cosmos, permeado pelo respeito recíproco entre os mais diferentes seres, em uma luta constante para engrandecer o ch'ulel (espírito) e, com isso, caminhar rumo ao lekil kuxlejal (Bem Viver). Para colocar em prática esses princípios, o cuidado em saúde é protagonizado pelos promotores autônomos de saúde e pelas assembleias comunitárias.
The Zapatista Army of National Liberation (EZLN, in Spanish) and its bases are formed predominantly by indigenous languages living in the region of Chiapas, Mexico. The movement builds a profound experience of autonomy, which goes through different dimensions of collective life. In this article, we intend, from a fieldwork carried out in the region, to focus on autonomous health. The conception of health is closely related to the notion of land, since in order to have health it is necessary to belong to a cosmos, permeated by mutual respect between the most different beings, in a constant struggle to ennoble the ch'ulel (spirit) and thus to walk to the lekil kuxlejal (Good Living). To put these principles into practice, healthcare is carried out by autonomous health promoters and communal assemblies.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo son formados predominantemente por indígenas que viven en la región de Chiapas, México. El movimiento construye una experiencia profunda de autonomía, que atraviesa diferentes dimensiones de la vida colectiva. En este artículo, nos proponemos, a partir de un trabajo de campo realizado en la región, enfocar la salud autónoma. La concepción de salud guarda una estrecha relación con la noción de tierra, ya que para tener salud es necesario pertenecer a un cosmos, impregnado por el respeto mutuo entre los seres más diferentes, en una lucha constante para engrandecer el ch'ulel (espíritu) y, de este modo, caminar hasta el lekil kuxlejal (Buen Vivir, también llamado Vivir Bien). Para poner en práctica estos principios, la asistencia en salud se lleva a cabo por los promotores autónomos de salud y por las asambleas comunitarias.
Assuntos
Humanos , Colonialismo , Capitalismo , Povos Indígenas , Antropologia Médica , Antropologia Cultural , Organização Comunitária , Racismo , Direitos Humanos , Cultura Indígena , Promoção da Saúde , MéxicoRESUMO
Resumo Este artigo pretende, a partir da Antropologia, apresentar dados etnográficos construídos no bairro da Guariroba/DF. Entre 2008 e 2014, moradores, em geral sexagenários, migrantes e de classe popular, compartilharam suas percepções sobre o que chamavam de pressão alta e problema de pressão, como os sentiam, explicavam e tratavam. A relação estreita e significativa entre a pressão e os nervos surgiu claramente e ajuda a balizar a dificuldade que os profissionais de saúde e os pesquisadores da área têm em considerar essa relação. Sugiro que considerar essa relação tanto aprimorará a prática clínica e farmacêutica quanto os resultados científicos sobre a hipertensão arterial. Conhecer as percepções em primeira pessoa, de quem experiencia adoecimentos prolongados e crônicos, é uma medida relevante para modular mais estrategicamente as ações de prevenção e cuidado.
Abstract This article, driving from Anthropology, presents ethnographic data elaborated in Guariroba, a neighborhood in the capital of Brazil. Between 2008 and 2014, dwellers, usually in their sixties, migrants and blue-collar workers, shared their perceptions on what they called high blood pressure and pressure problems, how they felt, explained and treated them. A very significant relation between pressure and nerves was clearly stated and helps clarify health professionals and also researchers in dealing with cardiovascular diseases. I suggest this relation can improve clinical and pharmaceutical practice and also the scientific results on hypertension. Knowing the perceptions from first person perspective, from those who live with long and chronic illnesses, is a relevant measure to strategically modulate actions of prevention and care.
Assuntos
Humanos , Pressão Sanguínea , Doenças Cardiovasculares/epidemiologia , Hipertensão/epidemiologia , Brasil/epidemiologia , Doença Crônica , Antropologia Cultural , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
Resumo A antropologia brasileira tem se debruçado sobre o multiculturalismo, a diversidade social e a desigualdade econômica no país. Os estudos antropológicos sobre essas questões muito contribuíram para inseri-las nos debates mais amplos sobre os problemas sociais brasileiros. Este artigo trata de um relato de experiência de ensino em duas ofertas da disciplina Atividades Integradas em Saúde Coletiva (Aisc) II para bacharelandos do segundo período do curso de graduação em saúde coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A disciplina busca trazer à discussão problemas sociais emergentes da sociedade brasileira, como racismo, intolerância religiosa, saúde da população transexual e violência doméstica. Por meio de rodas de conversa com ativistas e visitas a locais de militância, os alunos realizam observação participante e conhecem suas lutas e reivindicações. Introduzindo conceitos caros à antropologia, como etnocentrismo, relativismo e movimentos sociais, pretende-se estimular nos estudantes uma reflexão crítica sobre dilemas sociais contemporâneos. Os debates, os relatos e as trocas de experiências advindos no decorrer da disciplina mostram que a antropologia tem muito a contribuir para uma formação e atuação mais dialógica desses futuros sanitaristas com as populações às quais prestarão cuidado, além de favorecer uma compreensão mais aplicada do impacto das desigualdades sociais no processo saúde-doença.
Abstract The Brazilian anthropology has focused on multiculturalism, social diversity and economic inequality in the country. Anthropological studies on these issues have greatly contributed to inserting it into broader debates about Brazilian social problems. This article deals with a report taken from two semesters teaching experience of the Integrated Activities of Collective Health II discipline for second period bachelor's degree students of the graduate course in collective health of Universidade Federal do Rio de Janeiro. The discipline aims at discussing emerging social problems in Brazilian society such as racism, religious intolerance, health of the transsexual population and domestic violence. Through conversations with activists and meetings in militance sites, students engage in participant observation and know their struggles and demands. Introducing important concepts to anthropology, such as ethnocentrism, relativism and social movements, it is intended to stimulate a critical reflection on contemporary social dilemmas in the students. The debates, reports and experiences exchanges emerged during the discipline course reveal that anthropology has a lot to contribute to a more dialogical formation and action of these future public health workers among the population of whom they will take care, besides favoring a more applied understanding on the impact of the social inequalities on the health-disease process.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Problemas Sociais , Saúde Pública , Antropologia , Ativismo PolíticoRESUMO
Objetivo: Investigar as práticas de percepção e saúde bucal entre as mulheres quilombolas idosas (grupo da população negra, descendentes de escravos no Brasil). Métodos: Pesquisa qualitativa com mulheres idosas que vivem em uma comunidade rural formada por descendentes de escravos no Brasil. Estudo realizado por meio de entrevista semiestruturada com nove moradoras da comunidade e posterior análise de conteúdo das narrativas. Resultados: Todas as mulheres idosas são desdentadas (parcialmente ou totalmente) e identificaram problemas dentários que as levaram a usar meios naturais de alívio da dor. Com a análise das transcrições, surgiram três categorias principais: as idosas da Comunidade Rural Quilombola Julia Mulata e o edentulismo; autopercepção da saúde bucal das mulheres idosa da Comunidade Rural Quilombola Julia Mulata; Práticas populares utilizadas na presença de problemas de saúde. Conclusão: Idosos quilombolas consideram a perda de dentes como envelhecimento natural; apresentam histórias de vida ligadas a problemas dentários; procuram resolver os seus problemas dentais com o uso de terapias populares tradicionais.
Objective: To investigate the perception and oral health practices among older quilombola women (black population group, descendants of slaves in Brazil). Methods: Qualitative research with elderly women living in a rural community formed by descendants of slaves in Brazil. The study was performed through a semi-structured interview with nine of the rural community residents and following content analysis of the narratives. Results: All elderly women are edentulous (partially or totally) and dental problems that led them to use natural means of pain relief were identified. With the analysis of the transcripts, three main categories emerged: the elderly of Quilombola Rural Community Julia Mulata and edentulism; self-perceived oral health of older women of the Quilombola Rural Community Julia Mulata; Popular practices used in the presence of health problems. Conclusion: Quilombola elderly consider the loss of teeth as natural aging; they present life stories linked to dental problems; seek to solve their dental problems with the use of traditional folk therapies.
Objetivo: Investigar la percepción y las prácticas de salud oral entre las mujeres quilombolas mayores (grupo de población negra, descendientes de esclavos en Brasil). Métodos: Investigación cualitativa con ancianas que viven en una comunidad rural formada por descendientes de esclavos en Brasil. Resultados: Todas las mujeres de edad avanzada son desdentadas (parcial o totalmente) e identificaron problemas dentales que las llevaron a utilizar medios naturales para aliviar el dolor. Con el análisis de las transcripciones, surgieron tres categorías principales: la comunidad rural de mujeres ancianas Julia Mulata y edentulismo; autopercepción de la salud oral de las mujeres mayores de la Comunidad Rural Quilombola Julia Mulata; Prácticas populares utilizadas en presencia de problemas de salud. Conclusión: Ancianos quilombolas consideran la pérdida de dientes como envejecimiento natural; presentan historias de vida relacionadas con problemas dentales; tratan de resolver sus problemas dentales con el uso de terapias populares tradicionales.
Assuntos
Humanos , Feminino , Pessoa de Meia-Idade , Idoso , Idoso de 80 Anos ou mais , Autoimagem , Idoso , Saúde Bucal , Assistência Odontológica , Antropologia MédicaRESUMO
Objective: To understand how elderly persons perceive subjective aspects linked to current and other life experiences related to the process of becoming frail. Method: A qualitative study, anchored in interpretative anthropology, was performed. The elderly were selected from the FIBRA Network database from those classified as robust or pre-frail, according to the frailty phenotype of Fried et al., in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil in 2009. We interviewed 15 elderly people of different genders, ages, income, religion and functional status, in 2016. In data collection and analysis, the "signs, meanings and actions" analysis model was used, which allows the understanding of the elements that are significant for a population to read a given situation and to position themselves in relation to it. Results: From the analysis the following categories emerged: a) suffering throughout life and b) suffering and the resources to deal with them. Conclusion: The interviewees described sufferings of different aspects that constitute their life, from birth to aging, according to experiences related to pain, loss and learning. The perception of current frailty refers to their life history, marked by physical or mental suffering, whether insidious or temporary - as well as illnesses, how they manifest themselves today, and a lack of financial resources and urban security. The narratives bring us closer to the perception of frailty as being constitutive of human beings, who can easily break.
Objetivo: Compreender como a pessoa idosa percebe aspectos subjetivos ligados a sofrimentos atuais e outros experimentados ao longo da vida e que se remetem ao processo de fragilização. Método: Estudo qualitativo, ancorado na Antropologia interpretativa. Foram selecionados idosos participantes no banco de dados da Rede FIBRA - entre aqueles classificados como robustos ou pré-frágeis em 2009, no polo Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, segundo o referencial do fenótipo de fragilidade de Fried et al. Foram entrevistados 15 idosos, de diferentes sexos, idades, renda, religião, condição funcional. Foi utilizado o modelo de análise "Signos, significados e ações que possibilitam a compreensão dos elementos significativos para uma população ler uma determinada situação e se posicionar diante dela". Resultados: Da análise emergiram as categorias: a) o sofrimento ao longo da vida e b) adoecimentos e os recursos para lidar com eles. Conclusão: Os entrevistados narram sofrimentos de diferentes aspectos que constituem a sua vida, do nascer ao envelhecer, conforme experiências que significam dores, perdas, aprendizado. A percepção de fragilização atual remete à história de vida marcada por sofrimentos físicos e/ou mentais, insidiosos ou pontuais - bem como aos adoecimentos, como se manifestam hoje, e à falta de recursos financeiros e de segurança urbana. As narrativas nos aproximam da percepção da fragilidade como sendo constitutiva do ser humano - que pode facilmente trincar.
Assuntos
Idoso , Idoso de 80 Anos ou mais , Percepção , Idoso Fragilizado , Antropologia Médica , FragilidadeRESUMO
Resumo O artigo analisa a experiência de pessoas que vivem com a Síndrome de Berardinelli-Seip no Nordeste brasileiro. Este estudo qualitativo foi desenvolvido com onze interlocutores, sendo nove pessoas vivendo com a síndrome e duas mães. Para coligir as informações, utilizaram-se observação participante, caracterização social e entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados por meio da técnica de codificação temática. Emergiram duas categorias: (1) 'o segredo é fechar a boca': gerenciamento da alimentação na vida cotidiana; e (2) 'ah, é uma travesti?' Corpo, gênero e masculinização. Concluiu-se que na experiência dos interlocutores seus agenciamentos e criatividade se traduziram em estratégias para gerenciamento da alimentação que integravam gostos, valores, hábitos, prescrições biomédicas e prazeres envolvidos em situações de comensalidade. No que tange à corporeidade, evidenciou-se que as representações e as experiências com o corpo apresentam desigualdades de gênero, na medida em que a mulher passa a ser alvo privilegiado de estigmas, preconceitos e discriminação na vida adulta.
Abstract This paper analyzes the experience of people living with the Berardinelli-Seip Syndrome in the Brazilian Northeast. This qualitative study was developed with eleven informants, namely, nine people living with the syndrome and two mothers. Information was gathered using participant observation, social characterization and semi-structured interviews. Data were analyzed by means of a thematic coding technique. Two categories emerged: (1) 'the secret is to shut your mouth': food management in daily life; and (2) 'Ah, is it a transvestite?' body, gender, and masculinization. We concluded that, in the experience of the informants, their negotiations and creativity translated into strategies for food management that integrated tastes, values, habits, biomedical prescriptions and pleasures involved in commensality situations. Regarding corporeality, it has been shown that representations and experiences with the body show gender inequalities, insofar as women become privileged targets of stigmas, prejudices and discrimination in adult life.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Lipodistrofia Generalizada Congênita/fisiopatologia , Estigma Social , Discriminação Social , Brasil , Entrevistas como Assunto , Lipodistrofia Generalizada Congênita/psicologiaRESUMO
Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo do tipo etnográfico sobre a autonomia do paciente hospitalizado no processo de viver com doença crônica não transmissível. Os objetivos foram: discutir o cuidado de enfermagem centrado no paciente com DCNT, como suporte e incentivo à autonomia para o autocuidado no âmbito da atenção hospitalar; descrever o processo de cuidar da equipe de enfermagem aos pacientes com DCNT hospitalizados em enfermaria de clínica médica; identificar a concepção de autonomia de pacientes hospitalizados com DCNT e da equipe de enfermagem que atua em enfermaria de clínica médica. A coleta de dados foi desenvolvida no período de janeiro a junho de 2017 nas clínicas médica masculina e feminina do hospital universitário, mediante as técnicas de observação simples, observação participante e entrevista semi-estruturada seguida de análise de conteúdo. Foram realizadas 50 entrevistas, sendo 30 com profissionais da enfermagem e 20 com pacientes hospitalizados com DCNT. Os temas comuns emergentes foram agrupados em quatro categorias temáticas, dentre as quais: autonomia e liberdade; autonomia e inform(Ação); autonomia e realiz(Ação); e autonomia e cultura. Quanto à caracterização dos profissionais: 86,7% do sexo feminino, média de 41,12 anos, 66,7% de técnicos de enfermagem, 40% com tempo de atuação no cenário do estudo de seis meses a cinco anos. Já na caracterização dos pacientes: 60% do sexo masculino, média de 56 anos, 60% casados, 40% com ensino fundamental completo, 45% apresentavam como diagnóstico principal doenças do aparelho circulatório, 80% já tiveram hospitalização anterior e a média de permanência hospitalar foi de 8,04 dias. Quanto à análise das entrevistas: a categoria autonomia e liberdade identificou na maioria das falas dos pacientes que estava relacionada com a liberdade de realizar as atividades e fazer as suas próprias escolhas sem depender de outras pessoas, ou seja, não faziam a associação da autonomia com a atual condição de estar hospitalizado. Na categoria autonomia e inform(Ação) observou-se uma contradição no discurso dos pacientes com os profissionais. Os primeiros dizem precisar de mais informações, que estão relacionadas ao estado de saúde e o esclarecimento das dúvidas. Enquanto os profissionais relatam que a forma de considerar a autonomia do paciente é oferecer orientações e informações relacionadas ao tratamento e ao estado de saúde. Na terceira categoria autonomia e realiz(Ação) a maioria dos pacientes hospitalizados disseram não depender de outras pessoas para realizar as suas atividades de vida diária. Em contrapartida, trazem em seus discursos que os cuidados relacionados às necessidades básicas estão focados no outro, como por exemplo, tomar conta da mãe, de netos, ajudar os filhos e cônjuges. Já a última categoria aborda as várias formas de cultura, dentre elas a organizacional, por meio das rotinas e regras institucionais; a do modelo biomédico e o processo saúdedoença e a do gênero e papéis sociais. Assim, face aos resultados do estudo apreende-se a cultura do modelo biomédico centrado na doença e tratamento ainda é o norteador da prática da equipe de enfermagem que são guiadas por atendimento de necessidades do paciente por meio de procedimentos técnicos sem, entretanto, estabelecer intervenções para além do tratamento das doenças com ações efetivas que possibilitem a conquista do bem-estar e autonomia do paciente
This is a qualitative, descriptive, ethnographic study about the autonomy of the hospitalized patient in the process of living with a non-transmissible chronic disease. The objectives were: to discuss nursing care centered on the patient with CNCD, as support and encouragement to self-care autonomy in the context of hospital care; Describe the process of caring for the nursing team to patients with CNCD hospitalized in a medical clinic; To identify the conception of the autonomy of hospitalized patients with CNCD and the nursing team that operates in a medical clinic ward. Data collection was developed from January to June 2017 in the male and female medical clinics of the University Hospital, using simple observation techniques, participant observation and semi-structured interview followed by analysis of Content. We conducted 50 interviews, 30 with nursing professionals and 20 with patients hospitalized with CNCD. The emerging common themes were grouped into four thematic categories, among which: autonomy and freedom; Autonomy and inform (action); Autonomy and perform (action); and autonomy and culture. Regarding the characterization of the professionals: 86.7% female, mean 41.12 years, 66.7% of nursing technicians, 40% with time of work in the scenario of the study from six months to five years. In the characterization of the patients: 60% male, mean 56 years, 60% married, 40% with complete elementary education, 45% had the main diagnosis of circulatory system diseases, 80% had previous hospitalization and the mean Hospital stay was 8.04 days. Regarding the analysis of the interviews: the category autonomy and freedom identified in most of the speeches of the patients that was related to the freedom to perform the activities and make their own choices without relying on other people, that is, they did not do the Association of Autonomy with the current condition of being hospitalized. In the category autonomy and inform (action) there was a contradiction in the discourse of patients with the professionals. The first are said to need more information, which are related to health status and clarification of doubts. While professionals report that the way to consider patient autonomy is to provide guidance and information related to treatment and health status. In the third category autonomy and perform (action) most hospitalized patients said they did not depend on other people to perform their activities of daily living. On the other hand, they bring in their discourses that the care related to basic needs are focused on the other, for example, taking care of the mother, grandchildren, helping the children and spouses. The latter category discusses the various forms of culture, among them the organizational, through the routines and institutional rules; The biomedical model and the health-disease process and that of gender and social roles. Thus, in view of the results of the study, the culture of the biomedical model centered on the disease and treatment is still the guiding practice of the nursing team that are guided by care of patient needs through technical procedures without, However, to establish interventions beyond the treatment of diseases with effective actions that enable the achievement of the patient's well-being and autonomy
Assuntos
Doença Crônica , Enfermagem , Cultura , Autonomia Pessoal , Hospitalização , Antropologia Cultural , Cuidados de EnfermagemRESUMO
ABSTRACT OBJECTIVE: To analyze how physicians, as part of a sociocultural group, handle the different types of death, in a metropolitan emergency service. METHODS: This is an ethnography carried out in one of the largest emergency services in Latin America. We have collected the data for nine months with participant observation and interviews with 43 physicians of different specialties - 25 men and 18 women, aged between 28 and 69 years. RESULTS: The analysis, guided by the model of Signs, Meanings, and Actions, shows a vast mosaic of situations and issues that permeate the medical care in an emergency unit. The results indicate that physicians may consider one death more difficult than another, depending on the criteria: age, identification or not with the patient, circumstances of the death, and medical questioning as to their responsibility in the death process. CONCLUSIONS: For physicians, no death is easy. Each death can be more or less difficult, depending on different criteria that permeate the medical care in an emergency unit, and it reveals different social, ethical, and moral issues.
RESUMO OBJETIVO: Analisar a forma como médicos, enquanto parte de um grupo sociocultural, lidam com diferentes tipos de morte, em um serviço de pronto socorro metropolitano. MÉTODOS: Trata-se de uma etnografia realizada em um dos maiores serviços de pronto socorro da América Latina. A coleta dos dados deu-se ao longo de nove meses de observação participante e entrevistas com 43 médicos de diferentes especialidades - 25 homens e 18 mulheres, entre 28 e 69 anos. RESULTADOS: À análise, guiada pelo modelo dos Signos, Significados e Ações, nota-se um vasto mosaico de situações e questões que medeiam o cuidado médico em uma unidade de pronto socorro. Os resultados apontaram que os médicos podem considerar uma morte mais difícil se comparada a outras, a depender de critérios: o etário; a identificação ou não com o paciente; as circunstâncias da morte e o questionamento médico quanto a sua responsabilidade no processo de morte. CONCLUSÕES: Para os médicos, nenhuma morte é fácil. Cada morte pode ser mais ou menos difícil, a depender de diferentes critérios que medeiam o cuidado médico em uma unidade de pronto socorro e revelam questões de ordem social, ética e moral das mais diversas.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Idoso , Adulto Jovem , Atitude Frente a Morte , Serviço Hospitalar de Emergência , Corpo Clínico Hospitalar/psicologia , Brasil , Antropologia Médica , Pessoa de Meia-Idade , Princípios MoraisRESUMO
O objetivo deste artigo é debater o uso de drogas como um fenômeno sociocultural e, a partir desse enfoque, a constituição de uma perspectiva de territorialidades de cuidados, visando ampliar olhares para um modelo sociocultural de atenção aos usuários de drogas. Trata-se de estudo de reflexão de natureza teórica, que problematiza a importância de se pensar a relação do indivíduo com o uso de drogas em diferentes aspectos socioculturais, incluindo espaços econômicos e sociais, os significados, a cultura, a formação de redes e estilos de vida. Nesse sentido, introduzimos a ideia de territorialidades de cuidado baseada em um modelo sociocultural, em que se reconhece a importância de uma dinâmica/ dialógica estabelecida entre profissionais e usuários no espaço vivo do cuidado.(AU)
The objective of this article is to discuss the use of drugs as a sociocultural phenomenon and, from this approach, work on the constitution of a territoriality perspective of care, aiming to widen the perspective to a sociocultural model of care to drug users. It is a study of theoretical reflection, which problematizes the importance of thinking about the relationship of the individual with the use of drugs in different sociocultural aspects, including economic and social spaces, meanings, culture, the creation of networks and lifestyles. In this sense, we introduce the idea of care territorialities based on a sociocultural model, in which the importance of a dynamic/dialogic established between professionals and users in the living space of care is recognized.