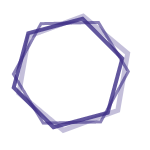RESUMO
A difusão de padrões alimentares ditos "não saudáveis" são fatores de risco independentes para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Considerando essa importância, foi realizada uma revisão integrativa com o objetivo de analisar as evidências científicas atuais que retratam a qualidade da dieta do idoso no Brasil e seus fatores associados. O levantamento bibliográfico abrangeu publicações brasileiras, no período de 2011 a 2020, nas bases de dados LILACS e Pubmed, sendo selecionados ao final da pesquisa documental 18 documentos originais. Os resultados apontaram que a dieta da população idosa brasileira encontra-se monótona e pobre em nutrientes, sendo um potencial fator de risco para o desenvolvimento e/ou agravamento de doenças. Deve-se, portanto, enfatizar a importância do desen-volvimento de novos estudos, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, a fim de subsidiar o planejamento de políticas públicas voltadas à alimentação e nutrição desse grupo populacional. Ações concentradas nesse sentido poderão contribuir, sobremaneira, com a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da população envelhecida.(AU)
The propagation of unhealthy eating patterns is an independent risk factor for Chronic Noncommunicable diseases. Given this importance, an integrative review was conducted, and has as aim to analyze the current scientific evidence that portrays the quality of the elderly's diet in Brazil and its associated factors. The biblio-graphic survey covered Brazilian publications, from 2011 to 2020, in the LILACS and Pubmed databases; 18 original documents were selected after the review. The articles showed that the diet of the elderly Brazilian is monotonous and poor in nutrients, being a poten-tial risk factor for the development and/or worsening of diseases. Therefore, it is necessary to emphasize the importance of developing new es, mainly in the North, Northeast and Midwest regions for the purpose of subsidizing the planning of public policies for food and nutrition for this population group. Targeted actions in this direc-tion may contribute, significantly, with the promotion of health and improvement of the quality of life of elderly.(AU)
Assuntos
Idoso , Inquéritos sobre Dietas , Ingestão de AlimentosRESUMO
ABSTRACT OBJECTIVES To identify dietary patterns among Brazilian adults based on the National Dietary Surveys (INA - Inquéritos Nacionais de Alimentação) in 2008-2009 and 2017-2018, and to verify in the second period the adherence to the patterns according to sociodemographic factors and Brazilian regions. METHODS We analyzed the first of two days of adults' food consumption (19-59 years) in INA data from 2008-2009 (n = 21,630) and 2017-2018 (n = 28,901). Dietary patterns were derived by exploratory factor analysis from 19 food groups, considering the complexity of the sample design. We evaluated the factor scores according to sex, age group, region, per capita income, and education for the INA data in 2017-2018. RESULTS We identified three patterns in the two surveys: (1) "traditional", characterized by rice, beans, and meat; (2) "breads and butter/margarine", characterized by breads, oils, and fats (including margarine/butter) and, coffee and teas in 2008-2009; and (3) "western", characterized by sodas, pizzas, snacks, flour, pasta, and sweets in 2017-2018. The "traditional" pattern had greater adherence among men, residents of the Midwest region and individuals with incomplete primary education. "Bread and butter/margarine" pattern had greater adherence among males, individuals aged between 40 and 59 years, from the Southeast region, and with income between 1 and 2 minimum wages per capita. Male individuals, aged between 19 and 39 years, from the South region, with per capita income greater than two minimum wages, and education level equal to or greater than primary education showed greater adherence to the "western" pattern. CONCLUSION The dietary patterns identified in 2008-2009 and 2017-2018 were similar, and we observed the maintenance of the "traditional" pattern, which includes rice, beans, and meat. Adherence to the dietary patterns varies according to sex, age group, region, per capita income, and education level.
RESUMO OBJETIVOS Identificar padrões alimentares entre adultos brasileiros a partir dos Inquéritos Nacionais de Alimentação (INA) 2008-2009 e 2017-2018, verificando, nesse último período, a aderência aos padrões de acordo com fatores sociodemográficos e regiões brasileiras. MÉTODOS Foram analisados dados do primeiro de dois dias de consumo alimentar de adultos (19-59 anos de idade) entrevistados nos INA 2008-2009 (n = 21.630) e 2017-2018 (n = 28.901). Os padrões alimentares foram derivados por análise fatorial exploratória a partir de 19 grupos de alimentos, considerando a complexidade do desenho amostral. Para o INA 2017-2018, os escores fatoriais foram avaliados de acordo com sexo, faixa etária, região, renda per capita e escolaridade. RESULTADOS Foram identificados três padrões nos dois inquéritos: (1) "tradicional", caracterizado por arroz, feijão e carnes; (2) "pães e manteiga/margarina", caracterizado por pães, óleos e gorduras (incluindo margarina/manteiga) e, em 2008-2009, café e chás; e (3) "ocidental", caracterizado por refrigerantes e pizzas e salgados, além de farinhas e massas e doces em 2017-2018. O padrão "tradicional" teve maior aderência entre homens, moradores da região Centro-Oeste e indivíduos com ensino fundamental incompleto. Para o padrão "pães e manteiga/margarina", observou-se maior aderência entre o sexo masculino, indivíduos com idade entre 40 e 59 anos, da região Sudeste e com renda entre 1 e 2 salários-mínimos per capita. Indivíduos do sexo masculino, com idades entre 19 e 39 anos, da região Sul, com renda per capita maior que dois salários-mínimos e escolaridade igual ou maior que o ensino fundamental foram os que apresentaram maior adesão ao padrão "ocidental". CONCLUSÃO Os padrões alimentares identificados em 2008-2009 e 2017-2018 foram similares, com manutenção do padrão "tradicional", que inclui arroz, feijão e carnes. A adesão aos padrões varia de acordo com sexo, faixa etária, região, renda per capita e escolaridade.
Assuntos
Humanos , Masculino , Adulto , Pessoa de Meia-Idade , Adulto Jovem , Comportamento Alimentar , Fatores Socioeconômicos , Brasil , Estudos TransversaisRESUMO
ABSTRACT BACKGROUND: Adequate fiber intake is associated with digestive health and reduced risk of several noncommunicable diseases and is recognized as essential for human health (World Health Organization, 2003). The World Health Organization (WHO) recommends a daily fiber consumption of ≥25 g, but previous studies observed a fiber intake in Brazil lower than recommended. OBJECTIVE: We aimed to describe fiber intake among adults in Brazil and also respondents' knowledge and perceptions about their fiber intake. METHODS: National online survey with community-dwelling Brazilian individuals. The survey was conducted during September 2018, using an online platform with closed-ended questions. A representative sample of Brazilian internet users stratified by sex, age, socioeconomic status and geographic region was adopted. Sample size was calculated using a 2% error margin and 95% confidence interval (n=2,000). Data was descriptively analyzed using measures of frequency, central tendency and dispersion. RESULTS: Sample included 2,000 individuals who were well-balanced in terms of sex (51.2% female), with mean age of 35.9 years (most represented age group was 35-54 years, 39.6%) and from all country geographic regions (49.4% from Southeast). A total of 69.7% of them consider their usual diet as healthy and 78.4% reported consuming fibers regularly. Fibers from natural sources are consumed at least once a day by 69.5% of the sample, while daily fiber supplements were reported by 29.9%. Absence of regular fiber intake was reported by 21.7% of respondents and the most common reason was "lack of knowledge about fiber sources" (39.3%). When informed about the food sources of each type of fiber (soluble and insoluble) and asked about the regular intake, only 2.5% answered that they do not consume any of them regularly (as opposed to 21.7% before receiving information about specific fiber sources). CONCLUSION: Our findings indicate that fiber intake in Brazil is probably insufficient with a high proportion of individuals reporting irregular or absent ingestion of fiber sources in their daily lives. Lack of knowledge about fiber sources and fiber types seems to play a role in this inadequate intake, highlighting the need for nutritional education to achieve healthy dietary patterns in the country.
RESUMO CONTEXTO: A adequada ingestão de fibras está diretamente associada à saúde digestiva e é reconhecida como essencial à saúde humana (World Health Organization, 2003). A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda consumo diário de fibras de ≥25 g, mas estudos prévios observaram uma ingesta de fibras no Brasil abaixo do recomendado. OBJETIVO: Descrever a ingestão, o conhecimento e as percepções sobre o consumo de fibras entre adultos brasileiros. MÉTODOS: Inquérito nacional online com indivíduos brasileiros na comunidade. O inquérito foi conduzido em setembro de 2018, usando uma plataforma online com questões fechadas. Uma amostra representativa dos usuários de internet no Brasil estratificada por sexo, idade, status socioeconômico e região geográfica foi utilizada. O tamanho da amostra foi calculado usando uma margem de erro de 2,0% em um intervalo de confiança de 95% (n=2.000). Os dados foram analisados descritivamente usando medidas de frequência, tendência central e dispersão. RESULTADOS: A amostra incluiu 2.000 indivíduos equilibrados em termos de sexo (51,2% mulheres), com idade média de 35,9 anos (faixa etária mais representada foi 35-54 anos, 39,6%) e de todas as regiões geográficas do país (49,4% do Sudeste). Dos respondentes, 69,7% consideram sua dieta usual como saudável e 78,4% relataram consumir fibras regularmente. Fibras de fontes naturais são consumidas pelo menos uma vez ao dia por 69,5% da amostra, enquanto que suplementos de fibras, por 29,9%. O não consumo regular de fibras foi relatado por 21,7% dos respondentes e a causa mais comum para tal foi "falta de conhecimento sobre fontes de fibras" (39,3%). Quando informados sobre fontes de fibra de cada tipo (solúvel e insolúvel) e interrogados sobre a ingestão regular, apenas 2,5% responderam não consumir nenhuma delas regularmente (por oposição a 21,7% antes de receberem informação sobre fontes específicas de fibras). CONCLUSÃO: Nossos achados indicam que a ingestão de fibras no Brasil é provavelmente insuficiente com uma alta proporção de indivíduos relatando consumo ausente ou irregular de fontes de fibras no cotidiano. Falta de conhecimento sobre fontes e tipos de fibras parece desempenhar um papel relevante nesta ingestão inadequada, reforçando a necessidade de educação nutricional para alcançar padrões alimentares saudáveis no país.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Fibras na Dieta/estatística & dados numéricos , Brasil , Ingestão de Energia , Inquéritos Nutricionais , Inquéritos e Questionários , Dieta/estatística & dados numéricos , Ingestão de AlimentosRESUMO
ABSTRACT Objective To assess the relationship between food availability, food insecurity and socioeconomic and demographic characteristics of households in the urban area of the state of Tocantins. Methods Population-based, cross-sectional study conducted in 594 households in the urban area of 22 municipalities in the state of Tocantins. A survey was carried out in the households, to collect socioeconomic and data, and assess food insecurity using the Brazilian Food Insecurity Scale. Further a food availability questionnaire was applied by the interviewer with the head of the family, who reported on the food and drinks available at home in the last 30 days. The description of the food available in the households resulted in a total of 142 food items that were grouped according to the NOVA classification of foods. demographic Results It was found that 63.3% of households were in a situation of food insecurity. The median caloric availability found was 2,771.4kcal/per capita/day, with the largest caloric contribution coming from fresh and minimally processed foods, regardless of the degree of food insecurity. Food availability was affected by socioeconomic vulnerability and the situation of food insecurity in the families.
RESUMO Objetivo Avaliar a relação entre a disponibilidade alimentar, a situação de insegurança alimentar e características socioeconômicas e demográficas de domicílios da zona urbana do Estado do Tocantins. Métodos Estudo de base populacional, do tipo transversal, realizado em 594 domicílios da área urbana de 22 municípios do Estado do Tocantins. A coleta de dados foi realizada nos domicílios, com levantamento de dados socioeconômicos e demográficos, avaliação da insegurança alimentar por meio da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e avaliação da disponibilidade dos alimentos a partir de um questionário de disponibilidade alimentar aplicado pelo entrevistador ao chefe da família, que informou sobre os alimentos e bebidas disponíveis no domicílio nos últimos 30 dias. A descrição dos alimentos disponíveis nos domicílios resultou em um total de 142 itens alimentares que foram agrupados de acordo com a classificação NOVA de alimentos. Resultados Constatou-se que 63,3% dos domicílios encontravam-se em situação de insegurança alimentar. A disponibilidade calórica mediana encontrada foi de 2.771,4kcal/per capita/dia, sendo a maior contribuição calórica advinda de alimentos in natura e minimamente processados, independente do grau de insegurança alimentar. Conclusão A disponibilidade alimentar foi afetada pela vulnerabilidade socioeconômica e pela situação de insegurança alimentar das famílias.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adolescente , Adulto , Pessoa de Meia-Idade , Idoso , Fatores Socioeconômicos , Inquéritos sobre Dietas/estatística & dados numéricos , Coleta de Dados/estatística & dados numéricosRESUMO
ABSTRACT OBJECTIVE To analyze the consumption of ultra-processed foods in the Colombian population across sociodemographic factors. METHODS We used data from the 2005 National Survey of the Nutritional Status in Colombia. Food consumption was assessed using a 24-hour food recall in 38,643 individuals. The food items were classified according to the degree and extent of industrial processing using the NOVA classification. RESULTS The mean calorie contribution of ultra-processed foods ranged from 0.2% in the lowest quintile of consumers to 41.1% in the highest quintile of consumers. The greatest increases were due to the consumption of industrialized breads, sweet and savory snacks, sugary drinks, processed meats, and confectionery. No major differences were found in the consumption of ultra-processed foods between men and women. We observed significant differences by age, socioeconomic status, area of residence, and geographic region. Children and adolescents showed a higher intake of ultra-processed foods, almost double that of participants over 50 years of age. Children consumed significantly more snacks, confectionery products, processed cereals, milk-based drinks and desserts. Participants over 50 years consumed fewer products from these sub-groups of ultra-processed foods but had the highest consumption of industrialized bread. Individuals from urban areas, those with high socioeconomic status, participants residing in the Bogotá region had 1.5 to 1.7 times higher calorie intake from ultra-processed foods compared with those from a lower socioeconomic status and those residing in rural regions. CONCLUSION In Colombia, industrialized bread is the ultra-processed product that is most easily assimilated into the traditional diet, along with snacks and sugary drinks. Children and adolescents residing in urban areas and households with greater purchasing power have some of the highest intakes of ultra-processed foods in the country.
RESUMEN OBJETIVO Analizar el consumo de alimentos ultraprocessados en la población colombiana según factores sociodemográficos. MÉTODOS Se usaron datos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia del año 2005. El consumo de alimentos se evaluó por medio de recordatorio 24 horas en 38.643 individuos. Los ítems alimentarios se clasificaron según el grado y extensión de procesamiento industrial usando la propuesta NOVA. RESULTADOS La contribución promedio de calorías de los alimentos ultraprocesados varió del 0,2% en el primer quintil al 41,1% en el ultimo quintil. Los mayores incrementos se dieron por el consumo de panes industrializados, snacks dulces y salados, las bebidas azucaradas, las carnes procesadas y los productos de confitería. No hubo grandes diferencias en el consumo de alimentos ultraprocesados entre hombres y mujeres. Se observaron diferencias significativas por edad, estatus socioeconómico, área de residencia y región geográfica. Los niños y adolescentes presentaron mayor ingesta de alimentos ultraprocesados, casi el doble que los participantes mayores de 50 años. Los niños consumieron significativamente mayor cantidad de snacks, productos de confitería, cereales procesados, bebidas a base de leche y postres. Mientras que los participantes mayores de 50 años consumieron menor cantidad de productos de estos subgrupos de alimentos ultraprocesados, pero tenían el consumo más alto de pan industrializado. Los habitantes urbanos, con alto estatus socioeconómico, que residían en la región de Bogotá tenían entre 1,5 a 1,7 más veces de ingesta calórica de alimentos ultraprocesados en comparación con sus contrapartes de bajo estatus socioeconómico, y sus contrapartes rurales. CONCLUSIÓN En Colombia, el pan industrializado es el alimento ultraprocesado más fácilmente asimilable en la dieta tradicional, junto con los snacks y las bebidas azucaradas. Los niños y adolescentes residentes en zonas urbanas y hogares con mayor poder adquisitivo fueron más vulnerables en el consumo de alimentos ultraprocesados.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Pré-Escolar , Criança , Adolescente , Adulto , Adulto Jovem , Fatores Socioeconômicos , Inquéritos sobre Dietas , Dieta/economia , Colômbia , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
ABSTRACT OBJECTIVE: To assess dietary patterns by socioeconomic gradient of Brazilian infants and young children in 2006 and 2013. METHODS: Data from the National Demographic Survey (2006) and the National Health Survey (2013) were used. Food intake were described by wealth index, age range and survey year. Dietary patterns were defined by principal component analysis. Association of wealth index and dietary patterns were modelled using linear regression. RESULTS: Breast milk intake was higher for poor infants and young children, while fresh food intake (fruits, vegetables, meats, beans) was higher for the richer ones in 2006 and 2013. Biscuits and sweetened beverages were more consumed by rich infants and young children in 2006 and by poor and rich children in 2013. Three dietary patterns (DP1, DP2, and DP3) were identified in 2006 and four in 2013 (DP1, DP2, DP3, and DP4). DP1 was composed mainly of fresh foods, and it was positively associated with the wealth index for infants and young children in both years. DP2 was composed of biscuits, cookies and sweetened beverages, and it was positively associated with the wealth index for young children in 2006 and for poor and rich infants and young children in 2013. DP3 was composed of milk, water and porridge in both years, and it was not associated with the wealth index. DP4 was composed of breast milk and porridge, and it was negatively associated with the wealth index. CONCLUSIONS: DP1 is a characteristic pattern for richer infants and young children since 2006, while DP2 is a characteristic pattern for all infants and young children in 2013, regardless of wealth index. Dietary inequality between the poor and the rich seems to begin in childhood.
Assuntos
Humanos , Lactente , Fatores Socioeconômicos , Ingestão de Energia , Inquéritos sobre Dietas , Dieta/estatística & dados numéricos , Brasil , Aleitamento Materno/estatística & dados numéricos , Fatores EtáriosRESUMO
ABSTRACT OBJECTIVE To analyze the quantity and diversity in the consumption fruits and vegetables, as well as its relationship with the consumer's purchase characteristics and food environment. METHODS Baseline study stemming from a controlled and randomized community trial investigating a sample representative of Primary Health Care services (Health Academy Program) of Belo Horizonte, state of Minas Gerais. The intake of fruits and vegetables was analyzed in servings/day, whereas diversity was assessed by the Food Frequency Questionnaire. Users were also questioned on the frequency, purchase location and availability of these foods at their households. To assess the consumer's food environment, commercial establishments within a 1.6 km radius around the program unit sampled were audited. RESULTS 3,414 adults and older adults (88.1% women) were investigated, as well as 336 commercial establishments, in 18 units of the Health Academy Program. The average consumption of fruits and vegetables was adequate [5.4 (SD = 2.1) servings/day] but monotonous, with average daily intake of two different types. In the establishments audited, a good diversity (77.7% and 85.0%) and variety (74.5% and 81.4%) of fruits and vegetables was observed, although with lower quality of vegetables (60.4%). After adjusting for sociodemographic variables, we identified that knowledge on food crops (p = 0.006), increased monthly availability of fruits at households (p < 0.001), and greater variety of fruits (p = 0.03) and quality of vegetables (p = 0.05) in commercial establishments could improve the quantitative intake of fruits and vegetables, whereas a greater variety of fruits (p = 0.008) would increase consumption diversity. CONCLUSIONS The intake of fruits and vegetables was quantitatively adequate but monotonous, being influences by the consumer environment. Such results highlight the need for improving educational actions in health services and programs, in addition to acting on the consumer environment, aiming to promote and maintain the adequate and diversified consumption, as recommended by Brazilian guidelines for proper and healthy eating.
RESUMO OBJETIVO Analisar a quantidade e a diversidade do consumo de frutas e hortaliças, assim como sua relação com características da aquisição e do ambiente alimentar do consumidor. MÉTODOS Estudo da linha de base oriundo de ensaio comunitário controlado e aleatorizado que investigou amostra representativa de serviços da atenção primária à Saúde (Programa Academia da Saúde) de Belo Horizonte, MG. Analisou-se o consumo de frutas e hortaliças em porções/dia, e sua diversidade por Questionário de Frequência Alimentar. Os usuários também foram questionados sobre frequência, local de compra e disponibilidade dos alimentos no domicílio. Para aferir o ambiente alimentar do consumidor, realizou-se auditoria dos estabelecimentos comerciais dentro de um raio de 1,6 km ao redor das unidades amostradas do programa. RESULTADOS Investigaram-se 3.414 adultos e idosos (88,1% mulheres) e 336 estabelecimentos comerciais em 18 unidades do Programa Academia da Saúde. O consumo médio de frutas e hortaliças foi adequado [5,4 (DP = 2,1) porções/dia], porém monótono, com ingestão média diária de dois tipos. Nos estabelecimentos auditados, observou-se boa diversidade (77,7% e 85,0%) e variedade (74,5% e 81,4%) de frutas e hortaliças, mas com qualidade inferior de hortaliças (60,4%). Após ajuste por variáveis sociodemográficas, identificou-se que o conhecimento sobre safras de alimentos (p = 0,006), aumento da disponibilidade mensal de frutas nos domicílios (p < 0,001), maior variedade de frutas (p = 0,03) e qualidade das hortaliças (p = 0,05) nos estabelecimentos comerciais poderiam melhorar o consumo quantitativo de frutas e hortaliças, enquanto a maior variedade de frutas (p = 0,008) poderia ampliar a diversidade do consumo. CONCLUSÕES O consumo de frutas e hortaliças foi quantitativamente adequado, porém monótono, sendo influenciado pelo ambiente do consumidor. Tais resultados evidenciam a necessidade de aperfeiçoar as ações educativas nos serviços e programas de saúde, além de atuar sobre o ambiente do consumidor, visando promover e manter o consumo adequado e diversificado, conforme preconizado pelas diretrizes brasileiras para a alimentação adequada e saudável.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Idoso , Abastecimento de Alimentos/estatística & dados numéricos , Dieta Saudável/estatística & dados numéricos , Fatores Socioeconômicos , Verduras/classificação , Brasil , Características de Residência , Inquéritos sobre Dietas , Frutas/classificação , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
OBJECTIVE To verify whether there is an association between the quality of the diet and the inclusion of women in the labor market and whether the education level would modify this association. We have analyzed the differences according to education level and evaluated whether the insertion or not in the market modifies the association between the quality of the diet and education level. METHODS This is a cross-sectional population-based study that has used data from the Campinas Health Survey (2008 ISACamp). We have evaluated the diet of 464 women, aged 18 to 64 years, using the Brazilian Healthy Eating Index - Revised. We have estimated the means of the total score and index components using simple and multiple linear regression. RESULTS We have observed no difference in the quality of diet of working and stay-at-home women. The analysis stratified by education level showed a lower intake of fruits among stay-at-home women in the segment of lower education level, in relation to working women. Among all women, a lower education level was associated with lower overall quality of the diet, higher intake of sodium, and lower intake of fruits, vegetables, whole grains, milk, and saturated fat. On the other hand, the inclusion in the labor market changed the effect of the education level on the quality of the diet. In the stay-at-home stratum, a low education level was associated with poorer quality of the diet and lower consumption of fruits, dark green and orange vegetables, and whole grains. Among the working women, a low education level was associated with higher intake of sodium and lower intake of vegetables, whole grains, and milk and dairy products. CONCLUSIONS The results show inequities in the profile of food in relation to education level and inclusion in the labor market, which shows the relevance of public policies that increase the access to education and provide guidance on a healthy diet.
OBJETIVO Verificar se existe associação entre qualidade da dieta e inserção das mulheres no mercado de trabalho e se o nível de escolaridade modificaria essa associação; analisar as diferenças segundo escolaridade; e avaliar se a inserção ou não no mercado modifica a associação entre qualidade da dieta e escolaridade. MÉTODOS Trata-se de estudo transversal de base populacional, que utilizou dados do Inquérito de Saúde de Campinas (ISACamp 2008). A alimentação de 464 mulheres, de 18 a 64 anos, foi avaliada por meio do Índice de Qualidade da Dieta Revisado. Foram estimadas as médias do escore total e dos componentes do índice com o uso de regressão linear simples e múltipla. RESULTADOS Nenhuma diferença foi observada entre qualidade da dieta de donas de casa e trabalhadoras remuneradas. A análise estratificada por escolaridade mostrou menor ingestão de frutas entre as donas de casa no segmento de pior escolaridade, em comparação às trabalhadoras remuneradas. Entre as mulheres, a menor escolaridade esteve associada à pior qualidade global da dieta e à maior ingestão de sódio e menor ingestão de frutas, vegetais, grãos integrais, leite e gordura saturada. Em contraste, a inserção no mercado de trabalho modificou o efeito da escolaridade sobre a qualidade da dieta. No estrato de donas de casa, a baixa escolaridade foi associada à pior qualidade da dieta e ao menor consumo de frutas, vegetais verde-escuros e alaranjados e grãos integrais. Entre as trabalhadoras remuneradas, a baixa escolaridade mostrou-se associada à ingestão maior de sódio e menor de vegetais, cereais integrais e leite e laticínios. CONCLUSÕES Os resultados expõem iniquidades no perfil alimentar em relação à escolaridade e à inserção no mercado de trabalho, sinalizando a relevância de políticas públicas que ampliem o acesso à educação e à orientação sobre dieta saudável.
Assuntos
Humanos , Feminino , Adolescente , Adulto , Adulto Jovem , Mulheres Trabalhadoras , Ingestão de Energia , Inquéritos sobre Dietas/estatística & dados numéricos , Cônjuges , Comportamento Alimentar , Dieta Saudável/normas , Fatores Socioeconômicos , Verduras , Brasil , Avaliação Nutricional , Estudos Transversais , Local de Trabalho , Laticínios , Frutas , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
RESUMO: Introdução: O consumo de alimentos fora do lar vem crescendo no Brasil, sendo associado a escolhas alimentares menos nutritivas. Objetivo: Descrever a ingestão de energia e nutrientes específicos entre consumidores e não consumidores de alimentos fora do lar, na Região Nordeste. Métodos: Foram analisados dados do Inquérito Nacional de Alimentação (INA), provenientes da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, em uma amostra de 11.674 indivíduos residentes na Região Nordeste, que forneceram dois registros alimentares em dias não consecutivos, com informação sobre o local de consumo dos alimentos (dentro ou fora do lar). Alimentação fora do lar foi definida como todo alimento adquirido e consumido fora de casa. Modelos de regressão linear foram desenvolvidos para avaliar a relação entre o consumo alimentar fora do lar em um dos dois dias de registro e a ingestão de energia e nutrientes, ajustados por idade, sexo e renda per capita. Resultados: O consumo de alimentos fora do lar, em pelo menos um dos dois dias de registro alimentar, foi reportado por 42% dos indivíduos. Os indivíduos que consomem alimentos fora do lar apresentaram pior ingestão de nutrientes em comparação com os que não consomem alimentos fora do lar, com maior consumo de energia, açúcar livre, gordura saturada, gordura trans e menor ingestão de proteína, ferro e fibra alimentar, independente da idade, sexo e renda (p < 0,05). Conclusão: A alimentação fora do lar no Nordeste contribuiu para uma maior ingestão de energia e uma pior ingestão de nutrientes. Assim, faz-se necessária a elaboração de políticas públicas e estratégias que favoreçam a escolha de alimentos mais saudáveis quando os indivíduos optam por se alimentar fora do lar.
ABSTRACT: Introduction: Away-from-home food consumption has increased in Brazil and is associated with fewer nutritious food choices. Objective: To describe energy and specific nutrient intake among consumers and non-consumer of away-from-home food in the Northeast Region. Methods: A sample of 11,674 individuals from the National Dietary Survey data, which is part of the 2008-2009 Household Budget Survey, from the Northeast Region, was analyzed. Individuals provided two dietary records in nonconsecutive days, informing the place where foods were consumed (at-home or away-from-home). Away-from-home food was defined as foods acquired and consumed away from home. Linear regression models were developed to assess the relationship between away-from-home food consumption in one of the two-day food record and the energy and nutrient intake, adjusted for age, gender, and per capita income. Results: Away-from-home food consumption, in at least one of the two-day food record, was reported by 42% of individuals in the Northeast Region. Individuals who consumed food away from home in the Northeast Region presented poor nutrient intake compared to those who did not report consumption away from home, with higher intake of energy, free sugar, saturated fat, and trans fat and lower intake of protein, iron, and dietary fiber, regardless of age, gender, and income (p < 0.05). Conclusion: Away-from-home food consumption in the Northeast Region contributed to higher energy and poorer nutrient intake. Therefore, the development of public policies and strategies that favor health food choices when individuals eat away from home is necessary.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Ingestão de Energia , Inquéritos sobre Dietas , Ingestão de Alimentos , Fatores de Tempo , Brasil , Estudos Transversais , Comportamento AlimentarRESUMO
ABSTRACT OBJECTIVE Evaluate the variations in energy, nutrients, and food groups intake between days of the week and weekend days in the Brazilian population. METHODS We used data from the first National Food Survey (2008-2009) of a one-day food log of a representative sample of the Brazilian population aged 10 years or older (n = 34,003). For the analyses, we considered the sample weights and the effect of the study design. The mean (and standard deviations) and frequencies (%) of energy, nutrients, and food groups consumption were estimated for weekdays (Monday to Friday) and weekend (Saturday and Sunday), we then estimated the differences according to the days of the week for the population strata analyzed. RESULTS The average daily energy intake for the weekend was 8% higher than the one observed for weekdays. The average percentage contribution of carbohydrate to the daily energy intake was higher during the week compared to Saturday and Sunday (56.3% versus 54.1%, p < 0.01). The inverse was observed for averages of the contribution to the daily intake of energy from total fat (26.8% versus 28.4%), saturated fat (9.1% versus 9.9%) and trans fat (1.4% versus 1.6%). The most significant changes between weekdays and weekend days were observed for eggs, sugar-added beverages, puff snacks and chips, beans, and pasta. During weekends, the frequency of beverage with added sugar consumption increased by 34%, the amount consumed increased by 42%, and the contribution to energy intake increased by 62% when compared to weekdays. CONCLUSIONS The Brazilian population increases energy intake and unhealthy food markers on weekends compared to weekdays.
RESUMO OBJETIVO Avaliar as variações na ingestão de energia, nutrientes e grupos de alimentos entre dias da semana e dias de fim de semana na população brasileira. MÉTODOS Foram utilizados dados obtidos no primeiro Inquérito Nacional de Alimentação (2008-2009) de um dia de registro alimentar de amostra representativa da população brasileira com 10 ou mais anos de idade (n = 34.003). Para as análises, foram considerados os pesos amostrais e o efeito do desenho de estudo. Foram estimadas as médias (e desvios-padrões) e frequências (%) da ingestão de energia, nutrientes e grupos de alimentos para dias de semana (de segunda a sexta-feira) e de final de semana (sábado e domingo), sendo estimadas as diferenças segundo os dias da semana para os estratos populacionais analisados. RESULTADOS A ingestão diária média de energia do fim de semana foi 8% maior que a observada para dias de semana. A contribuição percentual média de carboidrato para a ingestão diária de energia foi maior durante a semana em comparação com sábado e domingo (56,3% versus 54,1%; p < 0,01). O inverso foi observado para as médias da contribuição para a ingestão diária de energia de gordura total (26,8% versus 28,4%), gordura saturada (9,1% versus 9,9%) e gordura trans (1,4% versus 1,6%). As mudanças mais importantes entre os dias de semana e de fim de semana foram observadas para ovos, bebidas com adição de açúcar, salgadinhos e chips, feijão e massas. Nos finais de semana, a frequência de consumo de bebidas com adição de açúcar aumentou em 34%, a quantidade consumida sofreu incremento de 42% e a contribuição para a ingestão de energia se elevou em 62%, quando comparados aos dias de semana. CONCLUSÕES A população brasileira aumenta a ingestão de energia e de marcadores de alimentação pouco saudável nos finais de semana em comparação aos dias de semana.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Criança , Adolescente , Adulto , Adulto Jovem , Ingestão de Energia , Inquéritos sobre Dietas/estatística & dados numéricos , Comportamento Alimentar , Alimentos/estatística & dados numéricos , Periodicidade , Valores de Referência , Fatores Socioeconômicos , Fatores de Tempo , Brasil , Registros de Dieta , Fatores Sexuais , Fatores Etários , Distribuição por Sexo , Distribuição por Idade , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
ABSTRACT OBJECTIVE This study aims to describe the places of purchase of food consumed outside the home, characterize consumers according to the places of consumption, and identify the food purchased by place of consumption in Brazil. METHODS We have used data from the Pesquisa de Orçamento Familiar (Household Budget Survey) of 2008-2009 with a sample of 152,895 subjects over 10 years of age. The purchase of food outside the home was collected from the records of all expenditures made in seven days. The places of purchase were grouped according to their characteristics: supermarket, bakery, street food, restaurant, snack bar, fruit shop, and other places. The types of food were grouped into nine categories, considering the nutritional aspects and the marketing characteristics of the item. We have estimated the frequency of purchase in the seven groups of places in Brazil and according to gender and type of food purchased per place. We have calculated the average age, income and years of education, as well as the per capita expenditure according to places of purchase of food consumed outside the home. RESULTS The purchase of food outside the home was reported by 41.2% of the subjects, being it greater among men than women (44% versus 38.5%). Adults had a higher frequency (46%) than teenagers (37.7%) and older adults (24.2%). The highest frequency of places of purchase were snack bar (16.9%) and restaurant (16.4%), while the fruit shop (1.2%) presented the lowest frequency. Sweets, snack chips and soft drinks were the most purchased items in most places. Average expenditure was higher for restaurant (R$33.20) and lower for fruit shop (R$4.10) and street food (R$5.00). CONCLUSIONS The highest percentage of food consumed outside the home comes from snack bars and restaurants, pointing to important places for the development of public policies focused on promoting healthy eating.
RESUMO OBJETIVO Descrever os locais de aquisição dos alimentos consumidos fora do lar, caracterizar os consumidores de acordo com os locais de consumo e identificar os alimentos adquiridos por local de consumo no Brasil. MÉTODOS Utilizaram-se dados da Pesquisa de Orçamento Familiar 2008-2009 em uma amostra de 152.895 indivíduos acima de 10 anos. A aquisição de alimentos para consumo fora do lar foi coletada por registros de todos os gastos realizados no período de sete dias. Os locais de aquisição de alimentos foram agrupados de acordo com suas características: supermercado, padaria, comida de rua, restaurante, lanchonete, frutaria e outros. Os tipos de alimentos adquiridos foram alocados em nove categorias de alimentos, considerando os aspectos nutricionais e as características de comercialização do item. Estimou-se a frequência de aquisição de alimentos nos sete grupos de locais no Brasil e por sexo e o tipo de alimento adquirido por local. Calculou-se a média de idade, de renda e de anos de escolaridade, bem como da despesa per capita segundo locais de aquisição de alimentos consumidos fora do lar. RESULTADOS A aquisição de alimentos fora do lar foi reportada por 41,2% dos indivíduos, sendo maior entre os homens do que nas mulheres (44% versus 38,5%). Os adultos apresentaram maior frequência de aquisição (46%) do que os adolescentes (37,7%) e os idosos (24,2%). Os locais com maiores frequências de consumo de alimentos fora do lar foram lanchonete (16,9%) e restaurante (16,4%), enquanto frutaria (1,2%) apresentou a menor frequência. Doces, salgadinhos e refrigerante foram os alimentos mais adquiridos na maioria dos locais. Os gastos médios com alimentos foram maiores para restaurante (R$33,20) e menores para frutaria (R$4,10) e comida de rua (R$5,00). CONCLUSÕES O maior percentual de consumo de alimentos fora do lar é proveniente de lanchonete e restaurante, apontando importantes locais para o desenvolvimento de políticas públicas com foco na promoção da alimentação saudável.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adolescente , Adulto , Adulto Jovem , Comportamento do Consumidor/estatística & dados numéricos , Inquéritos sobre Dietas/estatística & dados numéricos , Comportamento Alimentar , Serviços de Alimentação/estatística & dados numéricos , Alimentos/estatística & dados numéricos , Fatores Etários , Brasil , Comportamento do Consumidor/economia , Serviços de Alimentação/economia , Valores de Referência , Fatores Sexuais , Fatores Socioeconômicos , Aquisição Baseada em Valor/estatística & dados numéricosRESUMO
ABSTRACT OBJECTIVE To evaluate the influence of family habits and household characteristics on the consumption of sugary drinks by Brazilian children under two years old. METHODS This was a cross-sectional study that used secondary data generated by the National Health Survey (PNS) in 2013. We studied 4,839 pairs of children under two years old and adults living in the same house. We estimated the prevalence of the indicator of sugary drinks consumption for the total sample of children and according to family and household variables. We applied multiple logistic regression analysis to evaluate the influence of family habits and household characteristics on the consumption of sugary drinks by the children. RESULTS The consumption of sugary drinks was identified in 32% of the studied children (95%CI 30.6-33.3) and was independently associated with the following family and household characteristics: regular consumption of sugary drinks by the adult living in the house (OR = 1.78; 95%CI 1.51-2.10), watching TV for more than three hours per day (OR = 1.22; 95%CI 1.03-1.45), older age (OR = 3.10; 95%CI 1.54-6.26), greater education level (OR = 0.70; 95%CI 0.53-0.91), house located in the Northeast region (OR = 0.65; 95%CI 1.54-6.26), and number of family members (OR = 1.05; 95%CI 1.00-1.09). CONCLUSIONS Our findings indicate the high prevalence of sugary drinks consumption by Brazilian children under two years old and show that sociodemographic characteristics and family habits affect this feeding practice not recommended in childhood.
RESUMO OBJETIVO Avaliar a influência de hábitos familiares e características do domicílio sobre o consumo de bebidas açucaradas em crianças brasileiras menores de dois anos. MÉTODOS Estudo transversal que utilizou dados secundários gerados pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), em 2013. Foram estudados 4.839 pares de crianças menores de dois anos e adultos residentes no mesmo domicílio. Foram estimadas as prevalências do indicador consumo de bebidas açucaradas para a amostra total de crianças e segundo categorias de variáveis familiares e do domicílio. Aplicou-se análise de regressão logística múltipla para avaliar a influência de hábitos familiares e características do domicílio sobre o consumo de bebidas açucaradas pelas crianças. RESULTADOS O consumo de bebidas açucaradas foi identificado em 32% das crianças estudadas (IC95% 30,6–33,3) e esteve independentemente associado com as seguintes caraterísticas familiares e domiciliares: consumo regular de bebidas açucaradas pelo adulto residente no domicílio (OR = 1,78; IC95% 1,51–2,10), hábito de assistir TV por mais de 3 horas diárias (OR = 1,22; IC95% 1,03–1,45), maior idade (OR = 3,10; IC95% 1,54–6,26), maior escolaridade (OR = 0,70; IC95% 0,53–0,91), domicílio localizado na região Nordeste (OR = 0,65; IC95% 1,54–6,26) e número de componentes da família (OR = 1,05; IC95% 1,00–1,09). CONCLUSÕES Os achados apontam a alta prevalência de consumo de bebidas açucaradas em crianças brasileiras menores de dois anos e que características sociodemográficas e hábitos familiares influenciam essa prática alimentar não recomendada na infância.
Assuntos
Humanos , Pré-Escolar , Adolescente , Adulto , Pessoa de Meia-Idade , Idoso , Adulto Jovem , Bebidas , Sacarose Alimentar/administração & dosagem , Características da Família , Adoçantes Calóricos/administração & dosagem , Brasil , Estudos Transversais , Comportamento Alimentar , Preferências Alimentares , Obesidade Infantil/prevenção & controle , Fatores SocioeconômicosRESUMO
Resumo: O objetivo do presente estudo foi avaliar o potencial impacto da redução do teor de sódio em alimentos processados no consumo médio de sódio na população brasileira. Um total de 32.900 participantes do primeiro Inquérito Nacional de Alimentação (2008-2009), com 10 anos e mais de idade, que forneceram dados de dois dias de consumo foram avaliados. As metas de redução de sódio pactuadas pelo Ministério da Saúde em 2010 e 2013 foram utilizadas como referência para determinar o teor máximo de sódio em 21 grupos de alimentos processados. Os resultados indicam que as metas de redução de sódio em alimentos processados têm pequeno impacto no consumo médio de sódio na população brasileira. Em 2017, a redução média esperada é de 1,5%, ficando os valores de consumo médio de sódio ainda acima do limite máximo recomendado de 2.000mg/dia. Portanto, dificilmente será possível alcançar a redução necessária no consumo de sódio no Brasil a partir de acordos voluntários nos moldes dos que aconteceram até o momento.
Resumen: El objetivo del presente estudio fue evaluar el potencial impacto de la reducción del contenido en sodio en alimentos procesados en el consumo medio de sodio de la población brasileña. Un total de 32.900 participantes de la primera Encuesta Nacional de Alimentación (2008-2009), con 10 años y más de edad, proporcionaron datos sobre dos días de consumo, que fueron evaluados. Las metas de reducción de sodio, indicadas por el Ministerio de Salud en 2010 y 2013, fueron utilizadas como referencia para determinar el contenido máximo de sodio en 21 grupos de alimentos procesados. Los resultados indican que las metas de reducción de sodio en alimentos procesados tiene un pequeño impacto en el consumo medio de sodio en la población brasileña. En 2017, la reducción media esperada es de un 1,5%, quedando los valores de consumo medio de sodio todavía por encima del límite máximo recomendado de 2.000mg/día. Por tanto, difícilmente será posible alcanzar la reducción necesaria en el consumo de sodio en Brasil, a partir de acuerdos voluntarios en los términos de los que se han ido sucediendo hasta el momento.
Abstract: This study aimed at assessing the potential impact of the reduction of sodium content in processed foods in the average salt intake in the Brazilian population. A total of 32,900 participants of the first National Dietary Survey (NDS 2008-2009), age 10 years and older who provided information about food intake over two days were evaluated. The sodium reduction targets established by the Brazilian Ministry of Health in 2010 and 2013 were used as the reference to determine the maximum content of sodium in 21 groups of processed food. The results show that sodium reduction targets in processed food have small impact in mean Brazilian population intake of salt. For 2017, the expected mean reduction is of 1.5%, the average sodium intake being still above the recommended 2,000mg/day maximum. Therefore, it will hardly be possible to reach the necessary reduction in salt intake in Brazil from volunteer agreements like the ones made so far.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Criança , Adolescente , Adulto , Idoso , Adulto Jovem , Inquéritos sobre Dietas , Cloreto de Sódio na Dieta/administração & dosagem , Indústria de Processamento de Alimentos , Brasil , Cloreto de Sódio na Dieta/análise , Manipulação de Alimentos/métodosRESUMO
OBJETIVO: Avaliar a qualidade da dieta entre consumidores e não consumidores de carnes vermelhas e processadas em residentes do município de São Paulo. MÉTODOS: Foram utilizados dados do estudo transversal do Inquérito de Saúde de São Paulo - 2008, com informações de 726 indivíduos que possuíam todas as informações dos inquéritos dietéticos, sendo 195 adolescentes, 272 adultos e 259 idosos. Os dados de consumo alimentar foram obtidos por dois recordatórios alimentares de 24 horas, aplicados em dias não consecutivos, incluindo final de semana e todas as estações do ano, e um questionário de frequência alimentar para estimar a frequência do consumo de carnes vermelhas e processadas. A ingestão alimentar habitual foi estimada pelo Multiple Source Method. O Índice de Qualidade da Dieta - Revisado foi calculado a partir da ingestão habitual dos participantes. As recomendações da Organização Mundial de Saúde foram utilizadas para estimar a participação percentual dos macronutrientes no valor energético total. RESULTADOS: O grupo de não consumidores apresentou maior pontuação média do índice (p=0,006), do grupo das frutas integrais (p=0,022), dos leites e derivados (p<0,001) e menor pontuação média de gordura sólida, álcool e açúcar de adição (p=0,039) e carnes, ovos e leguminosas (p<0,001). Também se mostrou maior percentual de adequação de gordura no grupo de não consumidores de carnes vermelhas e processadas. CONCLUSÃO: Sugere-se que não consumidores de carne vermelha e processada tenha melhor qualidade da dieta e maior adequação da contribuição energética dos lipídeos em comparação com consumidores desse alimento.
OBJECTIVE: To evaluate the diet quality of consumers and non-consumers of red and processed meats in São Paulo city. METHODS: Data came from the Health Study of São Paulo - 2008, a cross-sectional study of 726 individuals who completed a dietary survey (195 adolescents, 272 adults, and 259 older adults). Diet was assessed by two 24-hour dietary recalls collected on two nonconsecutive days, including a weekend day and all seasons, and a food frequency questionnaire to estimate the frequency of red and processed meat consumption. We used the Multiple Source Method to estimate the usual food intake. The Diet Quality Index was calculated based on the usual food intake of the participants. The recommendations of the World Health Organization were used for estimating macronutrient intake adequacy. RESULTS: Non-consumers of red and processed meat presented higher score in: total score (p=0.006), group of fresh fruits (p=0.022), and group of milk and dairy products (p<0.001); and lower score in: group of fats and added sugar (p=0.039) and group of meats, eggs, and beans (p<0.001) than consumers of red and processed meats. Non-consumers of red and processed meats also presented higher fat intake adequacy. CONCLUSION: Our results suggest that non-consumers of red and processed meats had higher diet quality and fat intake adequacy than consumers of red and processed meats.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adolescente , Adulto , Pessoa de Meia-Idade , Idoso , Inquéritos sobre Dietas , Dieta , Carne , Produtos da CarneRESUMO
Resumo Objetivo Avaliar se questões marcadoras de hábitos alimentares podem caracterizar o consumo habitual de forma satisfatória. Métodos Foram obtidas informações sobre o consumo alimentar utilizando dois métodos: três dias não consecutivos de recordatório de 24 horas (R24h) e um questionário sobre hábitos alimentares (QHA). A concordância entre os dados categóricos de consumo alimentar foi testada pela comparação de fontes de informações independentes referida no QHA e R24h categorizado, sendo medida pelo cálculo da estatística kappa simples e do kappa ajustado pela prevalência, com nível de significância de 5%. Resultados Foram examinados 288 adultos com idades entre 20 e 60 anos (54,5% mulheres). Observou-se que a concordância das questões do QHA com o R24h para as variáveis “consumo de manteiga e margarina (ambas)”, “consumo de margarina light”, “consumo de leite desnatado”, “consumo de leite semidesnatado”, “consumo de queijo, requeijão ou iogurte diet oulight”, “consumo de refrigerante dietou light”, “consumo refrigerante diet oulight e tradicional (ambos)” foram quase perfeitas, revelando que os métodos de avaliação do consumo alimentar apresentaram alta concordância. O QHA foi capaz de caracterizar o consumo da maioria dos alimentos testados de forma satisfatória, caracterizando-se como um instrumento útil em estudos populacionais.
Abstract Objective To evaluate whether marked eating habits factors may satisfactorily characterize the usual intake. Methods We obtained food intake information using two methods: three nonconsecutive days of 24-hour recall (24HR) and a eating habits questionnaire (EHQ). The eating habits categorical data agreement was tested by the comparison of independent information sources – mentioned in the EHQ and categorized 24HR; being measured by the single kappa statistic and the prevalence adjusted kappa, with 5% significance level. Results This study investigated 288 adults, of which 54.5% were female, aged between 20 and 60 years old. It was observed that the agreement of the EHQ with the 24HR for the variables “butter and margarine consumption (both)”, “light margarine consumption”, “skimmed milk consumption”, “semi-skimmed milk consumption”, “light or diet cheese, cottage cheese or yogurt consumption”, “diet or light soft drink consumption” “light or diet and traditional soft drink consumption (both)” were almost perfect, showing that the methods of assessment of dietary intake were highly concordant. The EHQ satisfactorily characterized the consumption of most tested foods.
RESUMO
A avaliação da ingestão alimentar é de extrema importância na ciência da nutrição, sendo necessário, para isso, a utilização de métodos válidos e que forneçam informações confiáveis. Esses métodos apresentam algumas limitações, dentre elas a notificação imprecisa, que compreende tanto a sub quanto a supernotificação do consumo alimentar, propiciando erros em estudos que associam saúde e dieta. Objetivo: Avaliar a prevalência de notificação imprecisa do consumo energético e seus fatores associados entre usuários de Serviços de Promoção da Saúde de Belo Horizonte/MG. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo transversal com usuários de nove Serviços de Promoção da Saúde de Belo Horizonte/MG, denominados Academias da Cidade, constituindo amostra representativa para o desfecho avaliado. A coleta de dados foi realizada a partir de questionário estruturado composto de variáveis sociodemográficas e econômicas, história e percepção de saúde, hábitos e consumo alimentar e estado nutricional. A avaliação da ingestão energética foi realizada a partir de dois Recordatórios Alimentar de 24 horas presencialmente e um terceiro via telefone para uma subamostra, e a ingestão habitual de energia e de nutrientes foi estimada pelo Multiple Source Method. A determinação da notificação imprecisa da ingestão energética foi realizada pela metodologia de McCrory et al. (2002). A análise estatística contemplou os testes kolmogorov-Smirnov, Qui-quadrado ou Exato de Fisher com correção de Bonferroni, t de Student simples, Mann-Whitney e correlação de Spearman. Por fim, construiu-se modelo multivariado de regressão logística. O nível de significância adotado...
The assessment of dietary intake is of utmost importance in nutrition science. Thus, valid methods should be used in order to provide reliable information. These methods, however, have some limitations, such as inaccurate reporting or misreporting. Misreporting includes both underreporting and overreporting of dietary intakes, and leads to errors in nutritional studies linking health and diet. Objective: This study aims to assess the prevalence of misreporting of dietary intakes and associated factors among users of Health Promotion Services of Belo Horizonte/MG. Materials and methods: This is a cross-sectional study with users of nine Health Promotion Services - called 'City fitness facilities' - in Belo Horizonte/MG. These users constitute a representative sample for the outcomes assessed. Data were collected through a structured questionnaire consisting of sociodemographic and economic variables, as well as questions on health history and perceptions, dietary habits and intake, and nutritional status. The assessment of energy intake was performed using two 24-hour in-person dietary recalls. A third dietary recall was conducted via telephone with a subsample of participants. The usual intake of energy and specific nutrients was estimated by the Multiple Source Method. Misreporting of energy intake was determined by using the method by McCrory et al. (2002). Statistical analysis included the following tests: Kolmogorov-Smirnov test, chi-square test or Fisher's exact test with Bonferroni correction, simple Student's t-test, Mann-Whitney test and Spearman's correlation. Finally, we constructed a multivariate logistic regression model. The level of significance was 5% (p<0.05). Results: We assessed 487 users. 82.3% were female and 50.5% were elders. The prevalence of misreporting of dietary intakes was 12.7% - 11.9% underreporting and 0.8% overreporting. Multivariate analysis showed independent associations...
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Pessoa de Meia-Idade , Ingestão de Energia , Inquéritos sobre Dietas/estatística & dados numéricos , Promoção da Saúde , Atenção Primária à Saúde , Brasil , Fatores Socioeconômicos , Ingestão de Alimentos , Inquéritos e QuestionáriosRESUMO
OBJETIVO : Analisar a adesão ao Guia Alimentar para População Brasileira. MÉTODOS : Amostra composta por participantes do Inquérito de Saúde de São Paulo (n = 1.661) que preencheram dois recordatórios de 24 horas. Foi utilizado modelo bivariado de efeito misto para a razão entre o consumo de energia do grupo de alimentos e o consumo calórico total. A razão estimada foi utilizada para calcular o percentual de indivíduos com consumo abaixo ou acima da recomendação. RESULTADOS : Pelo menos 80,0% da população consome abaixo do recomendado para: leite e derivados; frutas e sucos de frutas; e cereais, tubérculos e raízes; aproximadamente 60,0% para legumes e verduras; 30,0% para feijões; e 8,0% para carnes e ovos. Adolescentes apresentaram a maior inadequação para legumes e verduras (90,0%), e o estrato de maior renda foi associado à menor inadequação para óleos, gorduras e sementes oleaginosas (57,0%). CONCLUSÕES : Foi observado consumo inadequado dos grupos de alimentos relacionados com aumento do risco de doenças crônicas. .
OBJETIVO : Analizar la aprobación de la Guía Alimentaria para la Población Brasileña. MÉTODOS : muestra compuesta por participantes de la Pesquisa de Salud de Sao Paulo (n=1661) que llenaron dos recordatorios de 24 horas. Se utilizó modelo bivariado de efecto mixto para el cociente entre el consumo de energía del grupo de alimentos y el consumo calórico total. El cociente estimado fue utilizado para calcular el porcentaje de individuos con consumo por debajo o encima de la recomendación. RESULTADOS : Por lo menos 80% de la población consumió por debajo de lo recomendado: leche y derivados, frutas y jugos de frutas, y cereales, tubérculos y raíces; aproximadamente 60%, legumbres y verduras; 30% granos; y 8% carne y huevos. Adolescentes presentaron el mayor porcentaje inadecuado para legumbres y verduras (90%), y el estrato de mayor renta estuvo asociado al menor porcentaje inadecuado para grasas, aceites y semillas oleaginosas (57%). CONCLUSIONES : Se observó consumo inadecuado de los grupos de alimentos relacionados con aumento de riesgo de enfermedades crónicas. .
OBJECTIVE : To analyze adherence to the Food Guide for the Brazilian Population. METHODS : Sample composed of participants in the Health Survey for Sao Paulo (n = 1,661) who completed two non-consecutive 24-hour recalls. A bivariate mixed model was created for the ratio of energy from a food group and total energy intake. The estimated ratio was used to calculate the percentage of individuals with intake above or below the recommendation. RESULTS : At least 80.0% of the individuals consume below the recommendation for milk and dairy; fruit and fresh juice; and cereals, tubers and roots; about 60.0% for vegetables; 30.0% for beans; and 8.0% for meat and eggs. Adolescents had the greatest inadequacy for vegetables (90.0%), and the highest income group had the lowest inadequacy for oils, fat and seeds (57.0%). CONCLUSIONS : The intake of food groups related to increased risk of chronic diseases were found to be inadequate. .
Assuntos
Adolescente , Adulto , Idoso , Feminino , Humanos , Masculino , Pessoa de Meia-Idade , Dieta/normas , Comportamento Alimentar , Política Nutricional , Estudos Transversais , Inquéritos sobre Dietas , Ingestão de Energia , Fatores SocioeconômicosRESUMO
The National Cancer Institute (NCI) method allows the distributions of usual intake of nutrients and foods to be estimated. This method can be used in complex surveys. However, the user must perform additional calculations, such as balanced repeated replication (BRR), in order to obtain standard errors and confidence intervals for the percentiles and mean from the distribution of usual intake. The objective is to highlight adaptations of the NCI method using data from the National Dietary Survey. The application of the NCI method was exemplified analyzing the total energy (kcal) and fruit (g) intake, comparing estimations of mean and standard deviation that were based on the complex design of the Brazilian survey with those assuming simple random sample. Although means point estimates were similar, estimates of standard error using the complex design increased by up to 60% compared to simple random sample. Thus, for valid estimates of food and energy intake for the population, all of the sampling characteristics of the surveys should be taken into account because when these characteristics are neglected, statistical analysis may produce underestimated standard errors that would compromise the results and the conclusions of the survey.
O objetivo do estudo foi indicar uma adaptação do método do Instituto Nacional do Câncer (INC), utilizando-se dados do Inquérito Nacional de Alimentação. Esse método estima a distribuição do consumo usual de nutrientes e alimentos e pode ser aplicado em estudos com amostra complexa. Entretanto, são necessários cálculos adicionais, tais como a replicação repetida balanceada, a fim de obter os erros padrão e intervalos de confiança para os percentis e a média da distribuição de consumo usual. A aplicação desse método foi exemplificada analisando o total de energia (kcal) e frutas (g), comparando as estimativas das médias e seus respectivos erros padrão obtidos, considerando o desenho do inquérito e supondo amostra aleatória simples. Embora os resultados das estimativas pontuais para a média tenham sido similares, houve aumento de até 60% nos respectivos erros padrão na amostragem complexa, comparada à amostragem simples. Desse modo, para estimativas válidas de consumo de alimentos e de energia devem-se levar em conta todas as características de amostragem dos inquéritos, porque, quando essas características são negligenciadas, a análise estatística pode produzir erros padrão subestimados que podem comprometer os resultados e conclusões da pesquisa.
El objetivo del estudio fue indicar una adaptación del método del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), utilizándose datos de la pesquisa nacional de alimentación. Ese método estima la distribución del consumo usual de nutrientes y alimentos y puede ser aplicado en estudios con muestra compleja. Mientras, son necesarios cálculos adicionales, tales como la replicación repetida balanceada, a fin de obtener los errores estándar e intervalos de confianza para los percentiles y el promedio de la distribución de consumo usual. La aplicación de este método fue ejemplificado analizando el total de energía (Kcal) y frutas (gr), comparando las estimaciones de los promedios y sus respectivos errores estándar obtenidos considerando el diseño de la pesquisa y suponiendo muestra aleatoria simple. A pesar que los resultados de las estimaciones puntuales para el promedio hayan sido similares, hubo aumento de hasta 60% en los respectivos errores estándar en el muestreo complejo, comparado con el muestreo simple. De ese modo, para estimaciones validas de consumo de alimentos y de energía se deben tomar en cuenta todas las características de muestreo de las pesquisas, porque cuando estas características son descuidadas, el análisis estadístico puede producir errores estándar subestimados que pueden comprometer los resultados y conclusiones de la investigación.
Assuntos
Humanos , Inquéritos sobre Dietas/métodos , Comportamento Alimentar , Projetos de Pesquisa , Brasil , Ingestão de Energia , Avaliação Nutricional , Estudos de AmostragemRESUMO
OBJETIVO: Caracterizar o consumo alimentar mais frequente da população brasileira. MÉTODOS: Foram analisados dados referentes ao primeiro dia de registro alimentar de 34.003 indivíduos com dez anos ou mais de idade que responderam ao Inquérito Nacional de Alimentação, composto por amostra probabilística da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009. O padrão de consumo foi analisado segundo sexo, grupo etário, região e faixa de renda familiar per capita. RESULTADOS: Os alimentos mais frequentemente referidos pela população brasileira foram arroz (84,0%), café (79,0%), feijão (72,8%), pão de sal (63,0%) e carne bovina (48,7%), destacando-se também o consumo de sucos e refrescos (39,8%), refrigerantes (23,0%) e menor presença de frutas (16,0%) e hortaliças (16,0%). Essa configuração apresenta pouca variação quando se consideram os estratos de sexo e faixa etária; contudo, observa-se que os adolescentes foram o único grupo etário que deixou de citar qualquer hortaliça e que incluiu doces, bebida láctea e biscoitos doces entre os itens mais consumidos. Alimentos marcadamente de consumo regional incluem a farinha de mandioca no Norte e Nordeste e o chá na região Sul. Houve discrepâncias no consumo alimentar entre os estratos de menor e maior renda: indivíduos no quarto de renda mais elevada referiram sanduíches, tomate e alface e aqueles no primeiro quarto de renda citaram os peixes e preparações à base de peixe e farinha de mandioca entre os alimentos mais referidos. CONCLUSÕES: Existe um padrão básico do consumo alimentar no Brasil que inclui entre os alimentos mais consumidos arroz, café, feijão, pão de sal e carne bovina, associado ao consumo regional de alguns poucos itens. Particularmente entre os adolescentes, alimentos ricos em gordura e açúcar são também de consumo frequente.
OBJECTIVE: To describe the most commonly consumed foods in Brazil. METHODS: This analysis is based on food intake data obtained on the first of two non-consecutive days' food records from 34,003 subjects aged 10 or over, resident in 13,569 households selected to participate in the National Dietary Survey 2008-2009 from the probabilistic sample defined for the Household Budget Survey 2008-2009. Consumption patterns were analyzed according to gender, age, regions and per capita family income. RESULTS: The most frequently recorded foods were rice (84.0%), coffee (79.0%), beans (72.8%), bread (63.0%), and red meat (48.7%). The intake of fruit juice (39.8%) and soft drinks (23.0%) is notable, as is the low intake of fruit (16.0%) and vegetables (16.0%). This scenario was similar across all age and sex groups; however, adolescents were the only age group which did not report any vegetables and included candies, sweetened dairy beverages and cookies among the most frequently recorded foods. Some foods are of markedly regional intake, such as manioc flour in the North and Northeast and tea in the South Region. Analysis according to income quartile revealed important differences between the highest and lowest income stratum. Subjects in the highest income quartile reported consuming sandwiches, tomatoes, and lettuce and those in the lowest income quartile cited manioc flour and fish and seafood among the most recorded foods. CONCLUSIONS: There is a basic food intake pattern in Brazil based on rice, beans, coffee, bread, and beef with small but consistent regional variation. The consumption of items rich in fat and sugar is also frequent, particularly among adolescents.
OBJETIVO: Caracterizar el consumo alimentario más frecuente de la población brasileña. MÉTODOS: Se analizaron datos relacionados al primer día de registro alimentario de 34.003 individuos con diez años o más de edad que respondieron a la Pesquisa Nacional de Alimentación, compuesto por muestra probabilística de la Investigación de Presupuestos Familiares 2008-2009. El patrón de consumo fue analizado según sexo, grupo etario, región y rango de renta familiar per capita. RESULTADOS: Los alimentos más frecuentemente referidos por la población brasileña fueron arroz (84,0%), café (79,0%), granos (72,8%), pan de sal (63,0%) y carne bovina (48,7%), destacándose también el consumo de jugos y refrescos (39,8%), gaseosas (23,0%) y menor presencia de frutas (16,0%) y hortalizas (16,0%). Esa configuración presenta poca variación cuando se considera los estratos de sexo y grupo etario, sin embargo, se observa que los adolescentes constituyeron el único grupo etario que dejó de citar cualquier hortaliza y que incluyó dulces, bebida láctea y biscochos dulces entre los itens más consumidos. Alimentos de marcado consumo regional incluyen la harina de yuca en el Norte y Noreste y el té en la Región Sur. Hubo discrepancias en el consumo alimentario entre los estratos de menor y mayor renta: individuos en el cuarto de renta más elevada refirieron sándwiches, tomate y lechuga y aquellos en el primer cuarto de renta citaron los pescados y preparaciones a base de pescado y harina de yuca entre los alimentos más referidos. CONCLUSIONES: Existe un patrón básico de consumo alimenticio en Brasil que incluye entre los alimentos más consumidos arroz, café, granos, pan de sal y carne bovina, asociado al consumo regional de algunos pocos itens. Particularmente entre los adolescentes, alimentos ricos en grasa y azúcar son también de consumo frecuente.
Assuntos
Adolescente , Adulto , Idoso , Idoso de 80 Anos ou mais , Criança , Feminino , Humanos , Masculino , Pessoa de Meia-Idade , Adulto Jovem , Inquéritos sobre Dietas , Dieta/estatística & dados numéricos , Comportamento Alimentar , Alimentos/estatística & dados numéricos , Brasil , Orçamentos , Dieta/economia , Alimentos/economia , RendaRESUMO
OBJETIVO: Analisar características do consumo de alimentos fora do domicílio no Brasil. MÉTODOS: Foram analisados dados do Inquérito Nacional de Alimentação, conduzido com 34.003 indivíduos acima de dez anos de idade em 24% dos domicílios participantes da Pesquisa de Orçamentos Familiares em 2008-2009. O consumo de alimentos e bebidas foi coletado por meio de registros dos alimentos consumidos, tipo de preparação, quantidade, horário e fonte do alimento (dentro ou fora de casa). A frequência de indivíduos que consumiu alimentos fora do domicílio foi calculada segundo faixas de idade, sexo, faixas de renda, área de localização do domicílio, tamanho da família, presença de criança no domicílio e idade do chefe do domicílio no Brasil e em cada região brasileira. Para as análises, considerou-se o peso amostral específico do inquérito e incorporou-se o efeito do desenho amostral. RESULTADOS: O consumo de alimentos fora do domicílio no Brasil foi reportado por 40% dos entrevistados, variando de 13% entre os idosos da região Sul a 51% entre os adolescentes da região Sudeste. Esse percentual diminuiu com a idade e aumentou com a renda em todas as regiões brasileiras; foi maior entre os homens e na área urbana. Os grupos de alimentos com maior percentual de consumo fora de casa foram bebidas alcoólicas, salgadinhos fritos e assados, pizza, refrigerantes e sanduíches. CONCLUSÕES: A alimentação fora de casa apresenta predominância de alimentos de alto conteúdo energético e pobre conteúdo nutricional, indicando que o consumo de alimentos fora do domicílio deve ser considerado nas ações de saúde pública voltadas para a melhoria da alimentação dos brasileiros.
OBJECTIVE: To describe foods consumed away from home and associated factors in Brazil. METHODS: The study was based on the National Dietary Survey which was conducted among residents aged over 10 years old in 24% of households participating in the Household Budget Survey in 2008-2009 (n = 34,003). The consumption of food and beverages was collected through records of foods consumed, type of preparation, quantity, time and food source (inside or outside home). The frequency with which individuals consumed food away from home was calculated according to age, gender, income, household area location, family size, presence of children at home and age of head of household in Brazil and in each Brazilian region. Specific sampling weight and effect of the sampling design were considered in the analyses. RESULTS: Consumption of food away from home in Brazil was reported by 40% of respondents, varying from 13% among the elderly in the Midwest Region to 51% among adolescents in the Southeast. This percentage decreased with age and increased with income in all regions of Brazil and was higher among men and in urban areas. Foods with the highest percentage of consumption outside home were alcoholic beverages, baked and fried snacks, pizza, soft drinks and sandwiches. CONCLUSIONS: Foods consumed away from home showed a predominance of high energy content and poor nutritional content, indicating that the consumption of foods away from home should be considered in public health campaigns aimed at improving Brazilians' diet.
OBJETIVO: Analizar características del consumo de alimentos fuera del domicilio. MÉTODOS: se analizaron datos de la Pesquisa Nacional de Alimentación, conducido con 34.003 individuos con edades mayores a diez años en 24% de los domicilios participantes de la Investigación de Presupuestos Familiares en 2008-2009. El consumo de alimentos y bebidas fue colectado por medio de registros de los alimentos consumidos, tipo de preparación, cantidad, horario y fuente de alimento (dentro o fuera de la casa). La frecuencia de individuos que consumió alimentos fuera del domicilio fue calculada según grupo etario, sexo, rango de la renta, área de localización del domicilio, tamaño de la familia, presencia de niño en el domicilio y edad del jefe del domicilio en Brasil y en cada región brasileña. Para los análisis, se consideró el peso específico de la muestra en la pesquisa y se incorporó el efecto del diseño de muestreo. RESULTADOS: El consumo de alimentos fuera del domicilio en Brasil fue reportado por 40% de los entrevistados, variando de 13% entre los ancianos de la Región Sur a 51% entre los adolescentes de la Región Sureste. Este porcentaje disminuyó con la edad y aumentó con la renta en todas las regiones brasileñas; fue mayor entre los hombres y en el área urbana. Los grupos de alimentos con mayor porcentaje de consumo fuera de casa fueron bebidas alcohólicas, pasapalos salados fritos y asados, pizza, gaseosas y sándwiches. CONCLUSIONES: la alimentación fuera de casa presenta predominancia de alimentos con alto contenido energético y pobre contenido nutricional, indicando que el consumo de alimentos fuera del domicilio debe ser considerado en las acciones de salud pública dirigidas a mejorar la alimentación de los brasileños.