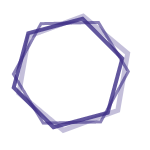RESUMO
Diante da pandemia de COVID-19 e da escassez de ferramentas para orientar as ações de vigilância, controle e assistência de pessoas infectadas, o presente artigo tem por objetivo evidenciar áreas de maior vulnerabilidade aos casos graves da doença na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, caracterizada por grande heterogeneidade socioespacial. Para o estabelecimento dessas áreas foi elaborado um índice de vulnerabilidade aos casos graves de COVID-19 com base na construção, ponderação e integração de três planos de informação: a densidade intradomiciliar média, a densidade de pessoas com 60 anos ou mais (ambas por setor censitário) e a incidência de tuberculose por bairros no ano de 2018. Os dados referentes à densidade intradomiciliar e de pessoas com 60 anos ou mais provêm do Censo Demográfico de 2010 e os de incidência de tuberculose do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A ponderação dos indicadores que compuseram o índice foi realizada por meio da Análise Hierárquica de Processos (AHP), e os planos de informação foram integrados pela Combinação Linear Ponderada por álgebra de mapas. A espacialização do índice de vulnerabilidade aos casos graves na cidade do Rio de Janeiro evidencia a existência de áreas mais vulneráveis em diferentes porções do território, refletindo a sua complexidade urbana. Contudo, é possível observar que as áreas de maior vulnerabilidade estão nas regiões Norte e Oeste da cidade e em comunidades carentes encrustadas nas áreas nobres como as zonas Sul e Oeste. A compreensão dessas condições de vulnerabilidade pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias de monitoramento da evolução da doença, bem como para o direcionamento das ações de prevenção e promoção da saúde.
Ante la pandemia de COVID-19, y la escasez de instrumentos para orientar las acciones de vigilancia, control y asistencia a las personas infectadas, el objetivo de este artículo persigue resaltar las áreas de mayor vulnerabilidad, donde se producen los casos graves de la enfermedad en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, caracterizada por una gran heterogeneidad socioespacial. Para el establecimiento de esas áreas se elaboró un índice de vulnerabilidad con los casos graves de COVID-19, a partir de la creación, ponderación e integración de tres planos de información: el de densidad intradomiciliaria media, el de densidad de personas con 60 años o más (ambas por sector de censo), y la incidencia de tuberculosis por barrios en el año 2018. Los datos referentes a la densidad intradomiciliaria y de personas con 60 años o más proceden del Censo Demográfico de 2010 y los de incidencia de tuberculosis del Sistema de Información para Enfermedades de Notificación (SINAN). La ponderación de los indicadores que formaron parte del índice se realizó mediante el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés) y los planos de información se integraron a través de la Combinación Lineal Ponderada por álgebra de mapas. La espacialización del índice de vulnerabilidad en lo que se refiere a los casos graves, en la ciudad de Río de Janeiro, pone en evidencia la existencia de áreas más vulnerables en diferentes áreas del territorio, reflejando su complejidad urbana. Por ello, es posible observar que las áreas de mayor vulnerabilidad se encuentran en las Regiones Norte y Oeste de la ciudad, así como en comunidades sin recursos insertadas en áreas pudientes como las Zonas Sur y Oeste. La comprensión de estas condiciones de vulnerabilidad puede apoyar el desarrollo de estrategias de supervisión de la evolución de la enfermedad, así como la dirección de acciones de prevención y promoción de la salud.
Given the characteristics of the COVID-19 pandemic and the limited tools for orienting interventions in surveillance, control, and clinical care, the current article aims to identify areas with greater vulnerability to severe cases of the disease in Rio de Janeiro, Brazil, a city characterized by huge social and spatial heterogeneity. In order to identify these areas, the authors prepared an index of vulnerability to severe cases of COVID-19 based on the construction, weighting, and integration of three levels of information: mean number of residents per household and density of persons 60 years or older (both per census tract) and neighborhood tuberculosis incidence rate in the year 2018. The data on residents per household and density of persons 60 years or older were obtained from the 2010 Population Census, and data on tuberculosis incidence were taken from the Brazilian Information System for Notificable Diseases (SINAN). Weighting of the indicators comprising the index used analytic hierarchy process (AHP), and the levels of information were integrated via weighted linear combination with map algebra. Spatialization of the index of vulnerability to severe COVID-19 in the city of Rio de Janeiro reveals the existence of more vulnerable areas in different parts of the city's territory, reflecting its urban complexity. The areas with greatest vulnerability are located in the North and West Zones of the city and in poor neighborhoods nested within upper-income parts of the South and West Zones. Understanding these conditions of vulnerability can facilitate the development of strategies to monitor the evolution of COVID-19 and orient measures for prevention and health promotion.
Assuntos
Humanos , Pneumonia Viral/epidemiologia , Tuberculose Pulmonar/epidemiologia , Infecções por Coronavirus/epidemiologia , Pandemias , Betacoronavirus , Fatores Socioeconômicos , Índice de Gravidade de Doença , Brasil/epidemiologia , Áreas de Pobreza , Comorbidade , Incidência , Fatores de Risco , Monitoramento Epidemiológico , Análise Espacial , SARS-CoV-2 , COVID-19 , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
ABSTRACT Background - Colorectal cancer is one of the most common cancer worldwide, and variation in its mortality rates indicates the importance of environmental factors in its occurrence. While trend studies have indicated a reduction in colorectal cancer mortality rates in most developed countries, the same trends have not been observed in developing countries. Moreover, trends may differ when analyzed by age and sex. Objective - The present study aimed to analyze the trends in risk of colorectal cancer death in Brazil based on sex and age group. Methods - Death records were obtained from the Mortality Information System of the Ministry of Health. The risk of death and the average annual percent changes (AAPC) in the mortality rates were estimated using joinpoint analysis of long-term trends from 1980 to 2013. All of the statistical tests were two-sided and had a significance level of 5%. Results - Colorectal cancer mortality rates were found to have increased in the last 15 years for both sexes and for all age ranges. The rate ratio (RR) was statistically higher at ages 70 to 79 for men (RR: 1.37; 95% CI: 1.26; 1.49) compared to women (RR: 1.14; 95% CI: 1.06; 1.24). Increases in AAPC were observed in both sexes. Although men presented higher percent changes (AAPC: 1.8; 95% CI: 1.1; 2.6) compared to women (AAPC: 1.2; 95% CI: 0.4; 2.0), this difference was not statistically significant. Growth trends in mortality rates occurred in all age groups except for in women over 70. Conclusion - Unlike Europe and the US, Brazil has shown increases in death rates due to colorectal cancer in the last three decades; however, more favorable trends were observed in women over 70 years old. The promotion of healthier lifestyles in addition to early diagnosis and improved treatment should guide the public health policies targeting reductions in colorectal cancer.
RESUMO Contexto - O câncer colorretal é um dos cânceres mais comuns em todo o mundo, e a variação em suas taxas de mortalidade indica a importância de fatores ambientais em sua ocorrência. Enquanto os estudos de tendência têm indicado redução nas taxas de mortalidade por câncer colorretal na maioria dos países desenvolvidos, as mesmas tendências não foram observadas nos países em desenvolvimento. Além disso, o comportamento das tendências pode ser diferente quando analisado por idade e sexo. Objetivo - O presente estudo teve como objetivo analisar as tendências no risco de morte por câncer colorretal no Brasil com base no sexo e na faixa etária. Métodos - Registros de óbitos foram obtidos do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. O risco de morte e a variação percentual anual média (VPAM) das taxas de mortalidade foram calculados usando análise de tendências joinpoint no período de 1980 a 2013. Todos os testes estatísticos foram bicaudais e utilizando um nível de significância de 5%. Resultados - A razão da taxa (RT) foi estatisticamente maior nas idades de 70 a 79 para os homens (RT: 1,37; IC 95%: 1,26; 1,49) em comparação com as mulheres (RT: 1,14; IC 95%: 1,06; 1,24). Aumentos na variação percentual anual média foram observados em ambos os sexos. Embora os homens apresentassem maiores mudanças por cento (VPAM: 1,8; IC 95%: 1,1; 2,6) em comparação com as mulheres (VPAM: 1,2; IC 95%: 0,4; 2,0), esta diferença não foi estatisticamente significativa. Tendências de crescimento nas taxas de mortalidade ocorreram em todas as faixas etárias, exceto para em mulheres com idade superior a 70 anos. Conclusão - Diferentemente da Europa e dos EUA, o Brasil tem mostrado um aumento nas taxas de mortalidade por câncer colorretal nas últimas três décadas; no entanto, as tendências mais favoráveis foram observadas em mulheres com mais de 70 anos de idade. A promoção de estilos de vida mais saudáveis, além de diagnóstico precoce e tratamento adequado, devem orientar as políticas de saúde pública visando reduções na morbimortalidade por câncer colorretal.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Idoso , Idoso de 80 Anos ou mais , Neoplasias Colorretais/mortalidade , Brasil/epidemiologia , Distribuição por Sexo , Distribuição por Idade , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
O objetivo deste ensaio é apresentar e discutir subsídios teóricos e práticos para uma política de vigilância em saúde, trabalho e ambiente sobre as cadeias produtivas. A partir das teorias ligadas à noção de complexidade e ao pensamento sistêmico em saúde coletiva, é discutida uma política integradora em alguns princípios: intrassetorialidade (integração das vigilâncias do SUS); intersetorialidade (articulação dos setores governamentais - previdência, meio ambiente, trabalho, agricultura, desenvolvimento, indústria e comércio exterior, entre outros - e setores não governamentais); controle social (incorporação dos saberes de atores e grupos da sociedade civil, comunidade local, trabalhadores, população e movimento social em geral); e transdisciplinaridade (diálogo de diversas disciplinas do campo científico e outros saberes). Estes princípios são potencialmente capazes de nortear uma vigilância integradora sobre os elos componentes de uma cadeia, principalmente considerando suas repercussões socioambientais nos elos de extração, transporte, produção, distribuição, consumo e descarte. Eleger as cadeias produtivas como meio de conexão de ações, serviços e estruturas do Estado com a sociedade é uma alternativa para possibilitar práticas de intervenção integradas sobre a complexa relação saúde, trabalho e ambiente, superando o modelo fragmentado e pontual.
This essay purpose is to present and discuss theoretical and practical subsidies for a health, labor and environmental surveillance policy on commodity chains. Based on theories related to the notion of complexity and to the systemic thought in public health, it discusses an integrating policy based on the following principles: intra-sector (integration of Brazilian health system - SUS- surveillances); inter-sector (articulation of the governmental sectors - social security, environment, labor, agriculture, development, industry and foreign trade, among others, and non-governmental sectors); social control (incorporating the knowledge of actors and civil society groups, local community, workers, citizens and social movements in general); and trans-disciplinary (dialogue between various disciplines within science and other fields). These principles are capable to guide an integrating surveillance on the commodity chain links, mainly considering their social-environmental impacts on such links as: mining, transport, production, distribution, consumption and disposal. Choosing commodity chains as a strategy to connect governmental and society actions, services and structures is an alternative to enable integrated intervention practices on the complex health, labor and environment relations, overcoming the fragmentary and rigid model.
RESUMO
CONTEXT AND OBJECTIVE: Stroke is a relevant issue within public health and requires epidemiological surveillance tools. The aim here was to validate a questionnaire for evaluating individuals with stroke symptoms in the Stroke Morbidity and Mortality Study (Estudo de Mortalidade e Morbidade do Acidente Vascular Cerebral, EMMA), São Paulo, Brazil. DESIGN AND SETTING: This was a cross-sectional study performed among a sample of the inhabitants of Butantã, an area in the western zone of the city of São Paulo. METHODS: For all households in the coverage area of a primary healthcare unit, household members over the age of 35 years answered a stroke symptom questionnaire addressing limb weakness, facial weakness, speech problems, sensory disorders and impaired vision. Thirty-six participants were randomly selected for a complete neurological examination (gold standard). RESULTS: Considering all the questions in the questionnaire, the sensitivity was 72.2 percent, specificity was 94.4 percent, positive predictive value was 92.9 percent and negative predictive value was 77.3 percent. The positive likelihood ratio was 12.9, the negative likelihood ratio was 0.29 and the kappa coefficient was 0.67. Limb weakness was the most sensitive symptom, and speech problems were the most specific. CONCLUSIONS: The stroke symptom questionnaire is a useful tool and can be applied by trained interviewers with the aim of identifying community-dwelling stroke patients, through the structure of the Family Health Program.
CONTEXTO E OBJETIVO: A doença cerebrovascular como parte da agenda de saúde pública necessita de instrumentos de vigilância epidemiológica. O objetivo foi validar um questionário para avaliação individual de sintomas de acidente vascular cerebral através do Estudo de Morbidade e Mortalidade no Acidente Vascular Cerebral (EMMA), São Paulo, Brasil. TIPO DE ESTUDO E LOCAL: Estudo transversal realizado em uma amostra de habitantes do Butantã, uma área na zona oeste da cidade de São Paulo. MÉTODOS: Em todos os domicílios de área adstrita de uma unidade básica de saúde, moradores com mais de 35 anos responderam questionário de sintomas de acidente vascular cerebral enfocando fraqueza de membros e facial, dificuldade em falar, alteração de sensibilidade e déficit de visão. Foram selecionadas 36 participantes aleatoriamente para exame completo com neurologista (padrão-ouro). RESULTADOS: Considerando todas as questões do questionário, a sensibilidade foi de 72,2 por cento, a especificidade, 94,4 por cento e os valores preditivos foram 92,9 por cento (positivo) e 77,3 por cento (negativo). As razões de verossimilhança foram 12,9 (positiva) e 0,29 (negativa) e o coeficiente kappa obtido foi 0,67. Fraqueza de membros foi o sintoma mais sensível e dificuldade para falar, o mais específico. CONCLUSÃO: O questionário de sintomas cerebrovasculares é um instrumento útil, e pode ser aplicado por entrevistadores treinados com intuito de identificar pacientes que sofreram evento cerebrovascular na comunidade através da estrutura do Programa Saúde da Família.
Assuntos
Adulto , Idoso , Feminino , Humanos , Masculino , Pessoa de Meia-Idade , Inquéritos e Questionários/normas , Acidente Vascular Cerebral/epidemiologia , Brasil/epidemiologia , Estudos Transversais , Prevalência , Reprodutibilidade dos Testes , Sensibilidade e Especificidade , Acidente Vascular Cerebral/diagnósticoRESUMO
Este estudo objetivou caracterizar a área de abrangência da subprefeitura do Butantã a partir dos indicadores compostos que representam as categorias autonomia, qualidade de vida, desenvolvimento humano e eqüidade; e discutir a adequação da utilização dessas categorias para a operacionalização da vigilância da saúde nesse território. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa, cujos dados foram obtidos por meio de identificação de bancos de dados de domínio público, com informações relativas a indicadores sociais e de saúde, bem como os índices de exclusão/inclusão social utilizados para a construção das categorias autonomia, qualidade de vida, desenvolvimento humano e eqüidade. Os resultados apontam que os indicadores compostos permitiram revelar as desigualdades nas condições de vida e saúde presentes no território. Os distritos de Raposo Tavares e Rio Pequeno apresentam os piores índices de exclusão/inclusão social na subprefeitura do Butantã, configurando-se como os distritos que mais apresentam exclusão social.
The purpose of this study was to characterize the coverage area of the Butantã sub-district, based on compound indicators that represent the categories autonomy, quality of life, human development and equity; and discuss the adequacy of using said categories to execute Health Surveillance in this territory. This is a descriptive, exploratory study, with a quantitative approach, with data obtained through identification of public domain data banks with information about health and social indicators, as well as the indexes of social inclusion/exclusion used to build the categories autonomy, quality of life, human development and equity. The results show that the compound indicators allowed for the unveiling of the inequalities in health and life conditions in the territory. The Raposo Tavares and Rio Pequeno districts showed the worst indexes of social inclusion/exclusion in the Butantã sub-prefecture, configured as the districts with the highest social exclusion.
Este estudio tuvo como objetivo caracterizar el área de influencia de la municipalidad de Butanta, a partir de indicadores compuestos que representan las categorías autonomía, calidad de vida, desarrollo humano y equidad; y discutir la adecuación de la utilización de esas categorías para la operacionalización de la vigilancia de la salud en ese territorio. Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo, con abordaje cuantitativo, cuyos datos fueron obtenidos por medio de la identificación en bancos de datos de dominio público, con informaciones relativas a indicadores sociales y de salud, así como los índices de exclusión/inclusión social utilizados para la construcción de las categorías autonomía, calidad de vida, desarrollo humano y equidad. Los resultados apuntan que los indicadores compuestos permitieron revelar las desigualdades en las condiciones de vida y salud presentes en el territorio. Los distritos de Raposo Tavares y Río Pequeno presentan los peores índices de exclusión/inclusión social en la municipalidad de Butanta, configurándose como los distritos que más presentan exclusión social.
Assuntos
Adolescente , Adulto , Idoso , Humanos , Pessoa de Meia-Idade , Adulto Jovem , Indicadores Básicos de Saúde , Desenvolvimento Humano , Vigilância da População/métodos , Qualidade de Vida , Justiça Social , Modelos Estatísticos , Sociologia , Adulto JovemRESUMO
São apresentados resultados parciais de estudo para elaboração de modelagem de vigilância da saúde de grupos humanos que vivem do extrativismo vegetal na Floresta Nacional da Chapada do Araripe, Ceará, Brasil. Como principais justificativas do estudo tem-se a importância desta Floresta Nacional para a preservação da qualidade da vida na região do semi-árido nordestino e o contexto de vulnerabilidades das florestas brasileiras. A abordagem metodológica é de um processo coletivo de compreensões integradas relacionadas à subjetividade dos sujeitos em face do ambiente produtivo na floresta, incluindo questões de gênero. O estudo apontou resultados diversos, alguns já previsíveis, outros surpreendentes, do ponto de vista da visibilidade de questões presentes no cotidiano das populações que trabalham e vivem da floresta.
Partial results from this study are presented with the objective of developing a health surveillance model for communities living on natural resources in the Araripe National Forest in Ceará State, Brazil. The research is justified primarily on the basis of this forest's importance for quality of life in Northeast Brazil and preservation of the country's forests in general. The study drew on a collective construction of integrated understanding on the subjectivity of social relations with the environment. Social and environmental health problems in the forest context have generally been overlooked by health policy.