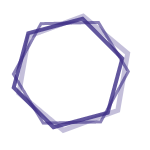RESUMO
RESUMO Objetivo: Identificar apresentações mais graves de COVID-19. Métodos: Pacientes consecutivamente admitidos à unidade de terapia intensiva foram submetidos à análise de clusters por meio de método de explorações sequenciais Resultados: Analisamos os dados de 147 pacientes, com média de idade de 56 ± 16 anos e Simplified Acute Physiological Score 3 de 72 ± 18, dos quais 103 (70%) demandaram ventilação mecânica e 46 (31%) morreram na unidade de terapia intensiva. A partir do algoritmo de análise de clusters, identificaram-se dois grupos bem definidos, com base na frequência cardíaca máxima [Grupo A: 104 (IC95% 99 - 109) batimentos por minuto versus Grupo B: 159 (IC95% 155 - 163) batimentos por minuto], frequência respiratória máxima [Grupo A: 33 (IC95% 31 - 35) respirações por minuto versus Grupo B: 50 (IC95% 47 - 53) respirações por minuto] e na temperatura corpórea máxima [Grupo A: 37,4 (IC95% 37,1 - 37,7)ºC versus Grupo B: 39,3 (IC95% 39,1 - 39,5)ºC] durante o tempo de permanência na unidade de terapia intensiva, assim como a proporção entre a pressão parcial de oxigênio no sangue e a fração inspirada de oxigênio quando da admissão à unidade de terapia intensiva [Grupo A: 116 (IC95% 99 - 133) mmHg versus Grupo B: 78 (IC95% 63 - 93) mmHg]. Os subfenótipos foram distintos em termos de perfis inflamatórios, disfunções orgânicas, terapias de suporte, tempo de permanência na unidade de terapia intensiva e mortalidade na unidade de terapia intensiva (com proporção de 4,2 entre os grupos). Conclusão: Nossos achados, baseados em dados clínicos universalmente disponíveis, revelaram dois subfenótipos distintos, com diferentes evoluções de doença. Estes resultados podem ajudar os profissionais de saúde na alocação de recursos e seleção de pacientes para teste de novas terapias.
Abstract Objective: To identify more severe COVID-19 presentations. Methods: Consecutive intensive care unit-admitted patients were subjected to a stepwise clustering method. Results: Data from 147 patients who were on average 56 ± 16 years old with a Simplified Acute Physiological Score 3 of 72 ± 18, of which 103 (70%) needed mechanical ventilation and 46 (31%) died in the intensive care unit, were analyzed. From the clustering algorithm, two well-defined groups were found based on maximal heart rate [Cluster A: 104 (95%CI 99 - 109) beats per minute versus Cluster B: 159 (95%CI 155 - 163) beats per minute], maximal respiratory rate [Cluster A: 33 (95%CI 31 - 35) breaths per minute versus Cluster B: 50 (95%CI 47 - 53) breaths per minute], and maximal body temperature [Cluster A: 37.4 (95%CI 37.1 - 37.7)°C versus Cluster B: 39.3 (95%CI 39.1 - 39.5)°C] during the intensive care unit stay, as well as the oxygen partial pressure in the blood over the oxygen inspiratory fraction at intensive care unit admission [Cluster A: 116 (95%CI 99 - 133) mmHg versus Cluster B: 78 (95%CI 63 - 93) mmHg]. Subphenotypes were distinct in inflammation profiles, organ dysfunction, organ support, intensive care unit length of stay, and intensive care unit mortality (with a ratio of 4.2 between the groups). Conclusion: Our findings, based on common clinical data, revealed two distinct subphenotypes with different disease courses. These results could help health professionals allocate resources and select patients for testing novel therapies.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Pessoa de Meia-Idade , Idoso , Respiração Artificial/estatística & dados numéricos , Estado Terminal/terapia , Cuidados Críticos/métodos , COVID-19/fisiopatologia , Unidades de Terapia Intensiva , Fenótipo , Índice de Gravidade de Doença , Algoritmos , Análise por Conglomerados , Estudos Retrospectivos , Seleção de Pacientes , Taxa Respiratória/fisiologia , COVID-19/mortalidade , COVID-19/terapia , Tempo de InternaçãoRESUMO
RESUMEN Introducción: aquellos países con alto grado de envejecimiento poblacional muestran asociaciones importantes con diferentes enfermedades, por ejemplo, la neumonía adquirida en la comunidad y la depresión en los ancianos. Objetivos: relacionar la depresión con la mortalidad y evaluar efectos de los antidepresivos, en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar Central "Dr. Carlos J. Finlay". Materiales y métodos: se realizó un estudio analítico, longitudinal prospectivo, con todos los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Emergentes, del Hospital Militar "Dr. Carlos J. Finlay". Periodo correspondiente a enero del 2018 hasta abril del 2019 que cumplieron con los criterios de inclusión. El universo lo constituyó 160 pacientes. Resultados: existieron 55 pacientes con síntomas de depresión previos al ingreso, (34 %). El 78 % de fallecidos presentaron depresión al ingreso. La edad media de los no deprimidos fue de 74, la más alta de los deprimidos fue de 80,80. No presentaron signos de depresión 93 pacientes vivos y 43 que la presentaron y fallecieron con una gran significación estadística p 0,000. RR 6,8. Se observó una marcada relación entre la mortalidad y el no recibir tratamiento para la depresión, (37) p 0,000. Conclusiones: la neumonía y la depresión son enfermedades que tienen una relación íntima. Esta asociación cuenta con una elevada mortalidad, así como el impacto del tratamiento antidepresivo en la evolución del paciente es definitorio en el ámbito de los cuidados intensivos (AU).
ABSTRACT Introduction: those countries with a high level of population ageing show important associations to different diseases, for example, community acquired pneumonia and depression in elder people. Objectives: to establish the relationship of depression with mortality and to evaluate the effect of antidepressants in patients with community-acquired pneumonia admitted in the Intensive Care Unit of the Central Military Hospital "Dr. Carlos J. Finlay". Materials and methods: a prospective, longitudinal, analytic study was carried out with all patients with community-acquired pneumonia, admitted in the Intensive Care Unit of the Central Military Hospital "Dr. Carlos J. Finlay" in the period from January 2018 until April 2019, who fulfilled the inclusion criteria. The universe were 160 patients. Results: there were 55 patients with depression symptoms before the admission. 78 % of the deceased showed depression at the admittance. The medium age of the non-depressed ones was 74 years; the highest age of the depressed ones was 80.80 years. 93 living patients did not present depression signs, and 43 presented them and died with a great statistical significance p: 0.000 RR: 6.8. A remarked relation was observed between mortality and not receiving treatment for depression (37) p 0,000. Conclusions: pneumonia and depression are diseases having a tight relationship. This association yields a high mortality, and the impact of the anti-depression treatment on the patient's evolution is defining in the intensive care settings (AU).
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Idoso , Idoso Fragilizado , Depressão/diagnóstico , Pneumonia/diagnóstico , Pneumonia/mortalidade , Pneumonia/psicologia , Cuidados Críticos/métodos , Serviços de Saúde para Idosos/tendências , Imunidade/fisiologiaRESUMO
RESUMO Objetivo: Realizar um inquérito nacional com profissionais de terapia intensiva para determinar as práticas de promoção do sono em unidades de terapia intensiva para adultos no Brasil, e descrever suas percepções sobre a importância do sono para os pacientes. Métodos: Um questionário eletrônico foi distribuído pela rede de cooperação em pesquisa clínica da Associação de Medicina Intensiva Brasileira aos médicos e enfermeiros registrados na associação e pela Brazilian Research in Intensive Care Network. O questionário avaliou o perfil dos respondedores, de suas unidades de terapia intensiva, se estavam presentes protocolos de promoção do sono, quais as medidas farmacológicas e não farmacológicas usualmente empregadas na unidade e a percepção dos profissionais em relação ao sono nos pacientes críticos. Resultados: Foram avaliados 118 questionários. A Região Sudeste foi a mais representada (50 questionários; 42,4%). A maioria apresentava perfil clínico-cirúrgico (93 questionários; 78,8%) e 26 possuíam política de visita contínua (22,0%). Apenas 18 unidades de terapia intensiva (15,3%) referiram apresentar protocolos de promoção do sono. A medida mais citada para promoção de sono foi a redução da luminosidade no período noturno (95 questionários; 80,5%), sendo mais executada em unidades de terapia intensiva privadas. Quase a totalidade dos respondedores (99%) acreditou que o sono com qualidade ruim tinha impacto negativo na recuperação do paciente. Conclusão: Nas respostas deste inquérito brasileiro, poucas unidades apresentaram um programa de promoção de sono na unidade de terapia intensiva, embora a quase totalidade dos participantes reconhecesse a importância do sono na recuperação do paciente.
ABSTRACT Objective: To conduct a national survey of intensive care professionals to identify the practices for promoting sleep in adult intensive care units in Brazil and describe the professionals' perceptions of the importance of sleep for patients. Methods: An electronic questionnaire was distributed by the clinical research cooperation network of the Associação de Medicina Intensiva Brasileira and by the Brazilian Research in Intensive Care Network to physicians and nurses registered with the association. The questionnaire evaluated the profile of the respondents, the profile of their intensive care units, whether protocols for promoting sleep were present, the pharmacological and nonpharmacological measures typically employed in the unit, and the professionals' perceptions regarding sleep in critically ill patients. Results: A total of 118 questionnaires were evaluated. The Southeast region of the country was the most represented (50 questionnaires, 42.4%). The majority of units had a clinical-surgical profile (93 questionnaires; 78.8%), and 26 had a continuous visitation policy (22.0%). Only 18 intensive care units (15.3%) reported having protocols for promoting sleep. The most cited measure for sleep promotion was reducing light during the night (95 questionnaires; 80.5%), which was more often performed in private intensive care units. Almost all of the responders (99%) believed that poor-quality sleep has a negative impact on patient recovery. Conclusion: The responses to this Brazilian survey revealed that few intensive care units had a program for promoting sleep, although almost all participants recognized the importance of sleep in patient recovery.
Assuntos
Humanos , Adulto , Sono/fisiologia , Estado Terminal , Cuidados Críticos/métodos , Unidades de Terapia Intensiva/estatística & dados numéricos , Médicos/estatística & dados numéricos , Brasil , Pesquisas sobre Atenção à Saúde , Enfermeiras e Enfermeiros/estatística & dados numéricosRESUMO
Resumen: Objetivo: describir las terapias utilizadas en lactantes con bronquiolitis aguda admitidos en 20 Uni dades de Cuidados Intensivos (UCI) pediátricos miembros de LARed en 5 países latinoamerica nos. Pacientes y Método: Estudio observacional retrospectivo, multicéntrico, de datos del Registro Latinoamericano de Falla Respiratoria Aguda Pediátrica. Se incluyeron niños menores de 2 años ingresados a UCI pediátrica por bronquiolitis aguda comunitaria entre mayo-septiembre 2017. Se recolectaron datos demográficos, clínicos, soporte respiratorio, terapias utilizadas y resultados clí nicos. Se realizó análisis de subgrupos según ubicación geográfica, tipo financiación y presencia de academia. Resultados: Ingresaron al registro 1155 pacientes con falla respiratoria aguda. Seis casos fueron excluidos por no tener formulario completo. De los 1147 pacientes, 908 eran menores de 2 años. De ellos, 467 tuvieron diagnóstico de bronquiolitis aguda, correspondiendo a la principal causa de ingreso a UCI pediátrica por falla respiratoria aguda (51,4%). Las características demográficas y de gravedad entre los centros fueron similares. El soporte máximo respiratorio más frecuente fue cánula nasal de alto flujo (47%), seguido por ventilación mecánica no invasiva (26%) y ventilación mecánica invasiva (17%), con un coeficiente de variación (CV) amplio entre los centros. Hubo una gran dispersión en uso de terapias, siendo frecuente el uso de broncodilatadores, antibióticos y corticoides, con CV hasta 400%. El análisis de subgrupos mostró diferencias significativas en soporte respiratorio y tratamientos utilizados. Un paciente falleció en esta cohorte. Conclusión: Detectamos gran variabilidad en el soporte respiratorio y tratamientos entre UCI pediátricas latinoamericanas. Esta variabilidad no es explicada por disparidades demográficas ni clínicas. Esta heterogeneidad de tratamientos debería promover iniciativas colaborativas para disminuir la brecha entre la evidencia científica y la práctica asistencial.
Abstract: The objective of this study was to describe the management of infants with acute bronchiolitis admit ted to 20 pediatric intensive care units (PICU) members of LARed in 5 Latin American countries. Pa tients and Method: Retrospective, multicenter, observational study of data from the Latin American Registry of Acute Pediatric Respiratory Failure. We included children under 2 years of age admitted to the PICU due to community-based acute bronchiolitis between May and September 2017. Demo graphic and clinical data, respiratory support, therapies used, and clinical results were collected. A subgroup analysis was carried out according to geographical location (Atlantic v/s Pacific), type of insurance (Public v/s Private), and Academic v/s non-Academic centers. Results: 1,155 patients were included in the registry which present acute respiratory failure and 6 were excluded due to the lack of information in their record form. Out of the 1,147 patients, 908 were under 2 years of age, and out of those, 467 (51.4%) were diagnosed with acute bronchiolitis, which was the main cause of admission to the PICU due to acute respiratory failure. The demographic and severity characteristics among the centers were similar. The most frequent maximum ventilatory support was the high-flow nasal can nula (47%), followed by non-invasive ventilation (26%) and invasive mechanical ventilation (17%), with a wide coefficient of variation (CV) between centers. There was a great dispersion in the use of treatments, where the use of bronchodilators, antibiotics, and corticosteroids, representing a CV up to 400%. There were significant differences in subgroup analysis regarding respiratory support and treatments used. One patient of this cohort passed away. Conclusion: we detected wide variability in respiratory support and treatments among Latin American PICUs. This variability was not explained by demographic or clinical differences. The heterogeneity of treatments should encourage collabora tive initiatives to reduce the gap between scientific evidence and practice.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Recém-Nascido , Lactente , Padrões de Prática Médica/estatística & dados numéricos , Bronquiolite/terapia , Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica/estatística & dados numéricos , Fidelidade a Diretrizes/estatística & dados numéricos , Cuidados Críticos/estatística & dados numéricos , Disparidades em Assistência à Saúde/estatística & dados numéricos , Bronquiolite/diagnóstico , Sistema de Registros , Doença Aguda , Estudos Retrospectivos , Guias de Prática Clínica como Assunto , Cuidados Críticos/métodos , América LatinaRESUMO
Abstract Hypernatremia is a common electrolyte problem at the intensive care setting, with a prevalence that can reach up to 25%. It is associated with a longer hospital stay and is an independent risk factor for mortality. We report a case of hypernatremia of multifactorial origin in the intensive care setting, emphasizing the role of osmotic diuresis due to excessive urea generation, an underdiagnosed and a not well-known cause of hypernatremia. This scenario may occur in patients using high doses of corticosteroids, with gastrointestinal bleeding, under diets and hyperprotein supplements, and with hypercatabolism, especially during the recovery phase of renal injury. Through the present teaching case, we discuss a clinical approach to the diagnosis of urea-induced osmotic diuresis and hypernatremia, highlighting the utility of the electrolyte-free water clearance concept in understanding the development of hypernatremia.
Resumo A hipernatremia é um distúrbio eletrolítico comum no ambiente de terapia intensiva, com uma prevalência que pode chegar a 25%. Está associada a maior tempo de internação hospitalar e é um fator de risco independente para a mortalidade. Este relato ilustra um caso de hipernatremia de origem multifatorial no ambiente de terapia intensiva. Destacaremos o papel da diurese osmótica por geração excessiva de ureia, uma causa de hipernatremia pouco conhecida e subdiagnosticada. Este cenário pode estar presente em pacientes em uso de elevadas doses de corticoides, com sangramento gastrointestinal, em uso de dietas e suplementos hiperproteicos e estado de hipercatabolismo, especialmente durante a fase de recuperação de injúria renal. A seguir, discutiremos uma abordagem clínica para o diagnóstico da hipernatremia secundária à diurese osmótica induzida por ureia, destacando a importância do conceito de clearance de água livre de eletrólitos nesse contexto.
Assuntos
Humanos , Feminino , Idoso , Ureia/urina , Ureia/sangue , Cuidados Críticos/métodos , Diurese , Hipernatremia/diagnóstico , Potássio/urina , Potássio/sangue , Sódio/urina , Sódio/sangue , Seguimentos , Resultado do Tratamento , Estado Terminal , Nutrição Enteral/métodos , Corticosteroides/administração & dosagem , Dieta com Restrição de Proteínas/métodos , Hipernatremia/tratamento farmacológico , Unidades de Terapia IntensivaRESUMO
Introducción: La gangrena de Fournier es una enfermedad infecciosa caracterizada por una fascitis necrotizante de evolución fulminante que afecta a la región perineal, genital o perianal, con una rápida progresión y alta letalidad. Objetivo: Describir la sintomatología del paciente y buena evolución, a pesar de varios factores de mal pronóstico. Caso clínico: Se trata de un paciente masculino de 77 años de edad, diabético e hipertenso, remitido a cuidados intensivos, desde el servicio de Urología, con el diagnóstico de gangrena de Fournier, descontrol metabólico y agudización de su enfermedad renal crónica. Conclusiones: Con el tratamiento médico quirúrgico intensivo y la utilización de oxigenación hiperbárica, tuvo una evolución favorable, hasta su egreso(AU)
Introduction: Fournier gangrene is an infectious disease characterized by a necrotizing fascitis of fulminant evolution that affects the perineal, genital or perianal region, with rapid progression and high lethality. Objective: To describe the patient symptomatology and good evolution, despite several factors of poor prognosis. Clinical case: 77-year-old male patient, diabetic and hypertensive, referred to intensive care, from the urology department, with the diagnosis of Fournier gangrene, metabolic decontrol and exacerbation of chronic kidney disease. Conclusions: With intensive surgical and medical treatment and the use of hyperbaric oxygenation, he had a favorable evolution, until his discharge(AU)
Assuntos
Humanos , Masculino , Idoso , Doenças Transmissíveis , Gangrena de Fournier , Fasciite Necrosante/diagnóstico , Cuidados Críticos/métodos , Genitália , Oxigenoterapia Hiperbárica/métodosRESUMO
ABSTRACT Objectives: to identify perceptions of teamwork according to the professionals of an Adult Intensive Care Unit. Methods: descriptive research with qualitative approach. The methodological framework was thematic content analysis. The theoretical framework of the work process was used to guide the interpretation of the data. Data collection: A semi-structured interview was conducted with 38 professionals in a public teaching hospital in the state of Minas Gerais. Results: three thematic categories emerged from the interviews: Work Organization, which is related to work performed through tasks/routines, with or without coordinated actions; Non-material Work Instruments, which reveal that teamwork is based on communication/collaboration; Insufficient Material Resources, which indicate that lack of material creates conflicts between professionals. Conclusions: Teamwork requires effective communication and collaboration, integrated work and appropriate professional training. On the other hand, fragmentation and rigidity at work, poor collaboration/communication and lack of material make teamwork difficult. We emphasize the need to revise the curriculum of health courses, with a view to including and/or improving discussions about teamwork in order to train professionals for a more integrated and perhaps even sympathetic health practice.
RESUMEN Objetivos: identificar las percepciones del trabajo en equipo según los profesionales de una Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos. Métodos: se trata de una investigación descriptiva, con enfoque cualitativo. Se utilizó como guía metodológica el análisis de contenido y la modalidad temática y el marco teórico del proceso de trabajo para guiar la interpretación de los datos. La recolección de los datos se llevó a cabo mediante entrevista semiestructurada con 38 profesionales en un hospital-escuela público, ubicado en el interior de Minas Gerais. Resultados: de las entrevistas surgieron tres categorías temáticas: Organización del trabajo, que evidencia la labor realizada con tareas/rutinas, habiendo o no acciones coordinadas; Instrumentos no materiales de trabajo, que demuestran que el trabajo en equipo está fundamentado en la comunicación/colaboración; Recursos materiales insuficientes, que provocan conflictos entre los profesionales. Conclusiones: el trabajo en equipo requiere una comunicación y una colaboración eficaces, una labor integradora y una formación profesional adecuada. Por otro lado, la fragmentación y rigidez del trabajo, la escasa colaboración/comunicación y la falta de materiales dificultan el trabajo en equipo. Es necesario una revisión curricular de los cursos de salud con miras a la inserción y/o mejora de los debates sobre el trabajo en equipo, con el fin de instrumentar a los profesionales de la salud para una práctica sanitaria mejor coordinada y quizás, incluso, solidaria.
RESUMO Objetivos: identificar as percepções do trabalho em equipe segundo os profissionais de uma Unidade de Terapia Intensiva Adulto. Métodos: pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa. Utilizou-se como orientação metodológica a análise de conteúdo, modalidade temática. Recorreu-se ao referencial teórico de processo de trabalho para guiar a interpretação dos dados. Coleta de dados: Realizada entrevista semiestruturada, com 38 profissionais em hospital público de ensino, localizado no interior de Minas Gerais. Resultados: das entrevistas, emergiram três categorias temáticas: Organização do trabalho, que evidencia trabalho realizado por meio de tarefas/rotinas, havendo ou não ações articuladas; Instrumentos não materiais do trabalho, os quais revelam que o trabalho em equipe fundamenta-se na comunicação/colaboração; Recursos materiais insuficientes, que indicam que falta de material gera conflitos entre profissionais. Conclusões: O trabalho em equipe requer comunicação e colaboração efetivas, trabalho integrado e formação profissional adequada. Por outro lado, fragmentação e rigidez no trabalho, pouca colaboração/comunicação e falta de material dificultam a realização do trabalho em equipe. Aposta-se na necessidade de revisão curricular dos cursos da saúde com vistas à inserção e/ou aprimoramento das discussões sobre trabalho em equipe a fim de instrumentalizar os profissionais para um fazer em saúde mais articulado e quem sabe até solidário.
Assuntos
Adulto , Idoso , Feminino , Humanos , Masculino , Pessoa de Meia-Idade , Cuidados Críticos/métodos , Relações Interprofissionais , Brasil , Atitude do Pessoal de Saúde , Entrevistas como Assunto/métodos , Comportamento Cooperativo , Pesquisa QualitativaRESUMO
RESUMO Objetivo: Avaliar as diferenças entre os desfechos da terapia nutricional com ingestão ideal de calorias mais alto teor proteico e do padrão de cuidados nutricionais em pacientes críticos adultos. Métodos: Randomizamos pacientes com previsão de permanecer na unidade de terapia intensiva por pelo menos 3 dias. No grupo com ingestão ideal de calorias mais alto teor proteico, a necessidade de ingestão calórica foi determinada por calorimetria indireta e a ingestão proteica foi estabelecida em níveis de 2,0 a 2,2g/kg/dia. O grupo controle recebeu calorias em nível de 25kcal/kg/dia e 1,4 a 1,5g/kg/dia de proteínas. O desfecho primário foi o escore do sumário do componente físico obtido aos 3 e 6 meses após a randomização. Os desfechos secundários incluíram força de preensão manual quando da alta da unidade de terapia intensiva, duração da ventilação mecânica e mortalidade hospitalar. Resultados: A análise incluiu 120 pacientes. Não houve diferença significante entre os dois grupos em termos de calorias recebidas. Contudo, a quantidade de proteínas recebidas pelo grupo com nível ideal de calorias mais alto teor de proteínas foi significantemente mais alta do que a recebida pelo grupo controle. O escore do sumário componente físico aos 3 e 6 meses após a randomização não diferiu entre ambos os grupos, assim como não diferiram os desfechos secundários. Entretanto, após ajuste para covariáveis, um delta proteico negativo (proteínas recebidas menos a necessidade proteica predeterminada) se associou com escore do sumário do componente físico mais baixo nas avaliações realizadas 3 e 6 meses após a randomização. Conclusão: Neste estudo, a estratégia com ingestão calórica ideal mais elevado teor proteico não pareceu melhorar a qualidade de vida física em comparação aos cuidados nutricionais padrão. Contudo, após ajuste para covariáveis, um delta proteico negativo se associou com escores do sumário do componente físico mais baixos nas avaliações realizadas aos 3 e aos 6 meses após a randomização. Esta associação ocorreu independentemente do método de cálculo do alvo proteico.
ABSTRACT Objective: To evaluate differences in outcomes for an optimized calorie and high protein nutrition therapy versus standard nutrition care in critically ill adult patients. Methods: We randomized patients expected to stay in the intensive care unit for at least 3 days. In the optimized calorie and high protein nutrition group, caloric intake was determined by indirect calorimetry, and protein intake was established at 2.0 to 2.2g/kg/day. The control group received 25kcal/kg/day of calories and 1.4 to 1.5g/kg/day protein. The primary outcome was the physical component summary score obtained at 3 and 6 months. Secondary outcomes included handgrip strength at intensive care unit discharge, duration of mechanical ventilation and hospital mortality. Results: In total, 120 patients were included in the analysis. There was no significant difference between the two groups in calories received. However, the amount of protein received by the optimized calorie and high protein nutrition group was significantly higher compared with the control group. The physical component summary score at 3 and 6 months did not differ between the two groups nor did secondary outcomes. However, after adjusting for covariates, a negative delta protein (protein received minus predetermined protein requirement) was associated with a lower physical component summary score at 3 and 6 months postrandomization. Conclusion: In this study optimized calorie and high protein strategy did not appear to improve physical quality of life compared with standard nutrition care. However, after adjusting for covariates, a negative delta protein was associated with a lower physical component summary score at 3 and 6 months postrandomization. This association exists independently of the method of calculation of protein target.
Assuntos
Humanos , Idoso , Idoso de 80 Anos ou mais , Ingestão de Energia , Proteínas Alimentares/administração & dosagem , Apoio Nutricional/métodos , Cuidados Críticos/métodos , Qualidade de Vida , Respiração Artificial/estatística & dados numéricos , Estudos Prospectivos , Mortalidade Hospitalar , Estado Terminal , Unidades de Terapia Intensiva , Pessoa de Meia-Idade , Necessidades NutricionaisRESUMO
Abstract Selected clinically stable patients with heart failure (HF) who require prolonged intravenous inotropic therapy may benefit from its continuity out of the intensive care unit (ICU). We aimed to report on the initial experience and safety of a structured protocol for inotropic therapy in non-intensive care units in 28 consecutive patients hospitalized with HF that were discharged from ICU. The utilization of low to moderate inotropic doses oriented by a safety-focused process of care may reconfigure their role as a transition therapy while awaiting definitive advanced therapies and enable early ICU discharge.
Resumo Pacientes selecionados com insuficiência cardíaca (IC), clinicamente estáveis que necessitam de terapia inotrópica intravenosa prolongada podem se beneficiar de sua continuidade fora da unidade de terapia intensiva (UTI). Nosso objetivo foi relatar a experiência inicial e a segurança de um protocolo estruturado para terapia inotrópica em unidades de terapia não-intensiva em 28 pacientes consecutivos hospitalizados com IC que receberam alta da UTI. A utilização de doses inotrópicas baixas a moderadas, orientadas por um processo de cuidado focado na segurança, pode reconfigurar seu papel como terapia de transição enquanto aguarda terapias avançadas definitivas e permite a alta precoce da UTI.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Pessoa de Meia-Idade , Idoso , Cardiotônicos/administração & dosagem , Milrinona/administração & dosagem , Cuidados Críticos/métodos , Dobutamina/administração & dosagem , Insuficiência Cardíaca/tratamento farmacológico , Alta do Paciente , Protocolos Clínicos , Estudos Retrospectivos , Seguimentos , Resultado do Tratamento , Cuidados Críticos/normasRESUMO
RESUMO Objetivo: Correlacionar os desfechos clínicos, em curto (tempo em ventilação mecânica e tempo de unidade de terapia intensiva) e longo prazos (capacidade funcional), dos pacientes que atingiram adequação nutricional ≥ 70% do previsto nas primeiras 72 horas de internação na unidade de terapia intensiva. Métodos: Estudo piloto prospectivo observacional, realizado em unidade de terapia intensiva de 18 leitos. Foram incluídos cem pacientes mecanicamente ventilados, recebendo suporte nutricional enteral exclusivo e submetidos à terapia intensiva por mais de 72 horas. Foram excluídos pacientes que nunca receberam nutrição enteral, gestantes, com trauma raquimedular, doadores de órgãos e casos de recusa familiar. As variáveis estudadas foram adequação nutricional ≥ 70% do previsto nas primeiras 72 horas de internação, tempo de unidade de terapia intensiva, tempo em ventilação mecânica e, após 12 meses, via contato telefônico, a capacidade de realizar Atividades da Vida Diária por meio do instrumento Lawton-Atividades de Vida Diária. Resultados: O tempo médio em ventilação mecânica foi de 18 ± 9 dias, e de internação na unidade de terapia intensiva de 19 ± 8 dias. Somente 45% dos pacientes receberem mais de 70% do alvo nutricional em 72 horas. Não houve associação entre a adequação nutricional e os desfechos em curto prazo (tempo de permanência em ventilação mecânica, tempo de internação na unidade de terapia intensiva e mortalidade), nem com os desfechos clínicos em longo prazo (capacidade funcional e mortalidade). Conclusão: Pacientes criticamente enfermos que recebem aporte calórico ≥ 70%, nas primeiras 72 horas de internação não apresentaram melhores desfechos em curto prazo ou após 1 ano.
ABSTRACT Objective: To correlate short-term (duration of mechanical ventilation and length of intensive care unit stay) and long-term (functional capacity) clinical outcomes of patients who reached nutritional adequacy ≥ 70% of predicted in the first 72 hours of hospitalization in the intensive care unit. Methods: This was a prospective observational pilot study conducted in an 18-bed intensive care unit. A total of 100 mechanically ventilated patients receiving exclusive enteral nutritional support and receiving intensive care for more than 72 hours were included. Patients who never received enteral nutrition, those with spinal cord trauma, pregnant women, organ donors and cases of family refusal were excluded. The variables studied were nutritional adequacy ≥ 70% of predicted in the first 72 hours of hospitalization, length of intensive care unit stay, duration of mechanical ventilation and the ability to perform activities of daily living after 12 months, assessed via telephone contact using the Lawton Activities of Daily Living Scale. Results: The mean duration of mechanical ventilation was 18 ± 9 days, and the mean intensive care unit length of stay was 19 ± 8 days. Only 45% of the patients received more than 70% of the target nutrition in 72 hours. There was no association between nutritional adequacy and short-term (duration of mechanical ventilation, length of stay in the intensive care unit and mortality) or long-term (functional capacity and mortality) clinical outcomes. Conclusion: Critically ill patients receiving caloric intake ≥ 70% in the first 72 hours of hospitalization did not present better outcomes in the short term or after 1 year.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Idoso , Idoso de 80 Anos ou mais , Respiração Artificial , Ingestão de Energia , Nutrição Enteral/métodos , Cuidados Críticos/métodos , Prognóstico , Fatores de Tempo , Atividades Cotidianas , Projetos Piloto , Estado Nutricional , Estudos Prospectivos , Seguimentos , Estado Terminal , Unidades de Terapia Intensiva , Tempo de Internação , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
ABSTRACT Objective: To determine whether pre-hospital statin use is associated with lower renal replacement therapy requirement and/or death during intensive care unit stay. Methods: Prospective cohort analysis. We analyzed 670 patients consecutively admitted to the intensive care unit of an academic tertiary-care hospital. Patients with ages ranging from 18 to 80 years admitted to the intensive care unit within the last 48 hours were included in the study. Results: Mean age was 66±16.1 years old, mean body mass index 26.6±4/9kg/m2 and mean abdominal circumference was of 97±22cm. The statin group comprised 18.2% of patients and had lower renal replacement therapy requirement and/or mortality (OR: 0.41; 95%CI: 0.18-0.93; p=0.03). The statin group also had lower risk of developing sepsis during intensive care unit stay (OR: 0.42; 95%CI: 0.22-0.77; p=0.006) and had a reduction in hospital length-of-stay (14.7±17.5 days versus 22.3±48 days; p=0.006). Statin therapy was associated with a protective role in critical care setting independently of confounding variables, such as gender, age, C-reactive protein, need of mechanical ventilation, use of pressor agents and presence of diabetes and/or coronary disease. Conclusion: Statin therapy prior to hospital admission was associated with lower mortality, lower renal replacement therapy requirement and sepsis rates.
RESUMO Objetivo: Determinar se o uso pré-admissão hospitalar de estatina está associado com menor necessidade de diálise e/ou óbito durante internação em unidade de terapia intensiva. Métodos: Análise de coorte prospectiva. Foram incluídos consecutivamente 670 pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva de um hospital acadêmico de cuidados terciários. Os pacientes incluídos deveriam ter entre 18 e 80 anos e ter sido admitidos na unidade de terapia intensiva nas últimas 48 horas. Resultados: A média da idade dos pacientes foi de 66±16,1 anos. O índice de massa corporal foi de 26,6±4/9kg/m2 e a circunferência abdominal média foi de 97±22cm. O grupo que fez uso de estatina pré-admissão hospitalar (18,2% dos pacientes) necessitou menos de terapia de substituição renal e/ou evoluiu para óbito (OR: 0,41; IC95%: 0,18-0,93; p=0,03). O grupo que fez uso de estatina também apresentou menor risco de evoluir com sepse durante a internação na unidade de terapia intensiva (OR: 0,42; IC95%: 0,22-0,77; p=0,006) e teve menor duração da hospitalização (14,7±17,5 dias versus 22,3±48 dias; p=0,006). A terapia pré-admissão hospitalar com estatina foi associada a papel protetor no cenário da terapia intensiva independentemente de variáveis confundidoras, como sexo, idade, proteína C-reativa, necessidade de ventilação mecânica, uso de vasopressores e diagnóstico de diabetes e/ou coronariopatia. Conclusão: A terapia com estatina antes da admissão hospitalar foi associada a menor mortalidade, menor necessidade de terapia de substituição renal e taxa de ocorrência de sepse.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adolescente , Adulto , Pessoa de Meia-Idade , Idoso , Idoso de 80 Anos ou mais , Triglicerídeos/sangue , Colesterol/sangue , Terapia de Substituição Renal/estatística & dados numéricos , Inibidores de Hidroximetilglutaril-CoA Redutases/uso terapêutico , Injúria Renal Aguda/terapia , HDL-Colesterol/efeitos dos fármacos , LDL-Colesterol/efeitos dos fármacos , Valores de Referência , Proteína C-Reativa/análise , Estudos Prospectivos , Reprodutibilidade dos Testes , Fatores de Risco , Curva ROC , Resultado do Tratamento , Terapia de Substituição Renal/mortalidade , APACHE , Creatinina/sangue , Cuidados Críticos/métodos , Injúria Renal Aguda/mortalidade , Unidades de Terapia Intensiva , Tempo de Internação , HDL-Colesterol/sangue , LDL-Colesterol/sangueRESUMO
ABSTRACT BACKGROUND: Enteral nutritional therapy (ENT) is the best route for the nutrition of critically ill patients with improved impact on the clinical treatment of such patients. OBJECTIVE: To investigate the energy and protein supply of ENT in critically ill in-patients of an Intensive Care Unit (ICU). METHODS: Prospective longitudinal study conducted with 82 critically ill in-patients of an ICU, receiving ENT. Anthropometric variables, laboratory tests (albumin, CRP, CRP/albumin ratio), NUTRIC-score and Nutritional Risk Screening (NRS-2002), energy and protein goals, and the inadequacies and complications of ENT were assessed. Statistical analysis was performed using the Chi-square or Fischer tests and the Wilcoxon test. RESULTS: A total of 48.78% patients were at high nutritional risk based on NUTRIC score. In the CRP/albumin ratio, 85.37% patients presented with a high risk of complications. There was a statistically significant difference (P<0.0001) for all comparisons made between the target, prescription and ENT infusion, and 72% of the quantities prescribed for both calories and proteins was infused. It was observed that the difference between the prescription and the infusion was 14.63% (±10.81) for calories and 14.21% (±10.5) for proteins, with statistically significant difference (P<0.0001). In the relationship between prescription and infusion of calories and proteins, the only significant association was that of patients at high risk of CRP/albumin ratio, of which almost 94% received less than 80% of the energy and protein volume prescribed (P=0.0111). CONCLUSION: The administration of ENT in severely ill patients does not meet their actual energy and protein needs. The high occurrence of infusion inadequacies, compared to prescription and to the goals set can generate a negative nutritional balance.
RESUMO CONTEXTO: A terapia nutricional enteral (TNE) é a melhor via para a nutrição de pacientes críticos e com melhores impactos no tratamento clínico desses pacientes. OBJETIVO: Investigar a oferta energética e proteica da TNE em pacientes críticos, internados em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital universitário. MÉTODOS: Um estudo prospectivo longitudinal foi conduzido com 82 pacientes críticos internados em uma UTI, recebendo TNE. Foram estudadas variáveis antropométricas, exames laboratoriais (albumina, PCR, relação PCR/albumina), NUTRIC-score e o Nutritional Risk Screening (NRS-2002), metas energéticas e proteicas e as inadequações e complicações da TNE. A análise estatística foi realizada utilizando-se os testes Qui-quadrado ou Fischer e o teste de Wilcoxon, com nível de significancia de P<0,05. RESULTADOS: Na avaliação pelo NUTRIC score, 48,78% apresentaram alto risco nutricional. Na relação PCR/albumina, 85,37% apresentaram alto risco de complicações. Verificou-se diferença estatisticamente significante (P<0,0001) para todas as comparações efetuadas entre a meta, prescrição e infusão da TNE, sendo infundido 72% do que foi prescrito tanto para caloria como para proteína. Observou-se que a diferença entre a prescrição e a infusão foi de 14,63% (±10,81) para caloria e de 14,21% (±10,5) para proteína, com diferença estatisticamente significante (P<0,0001). Na relação entre prescrição e infusão de calorias e proteínas, a única associação significativa foi a dos pacientes com alto risco para a relação PCR/albumina, destes; quase 94% receberam menos que 80% do volume energético e proteico prescrito (P=0,0111). CONCLUSÃO: A administração da TNE em pacientes graves, não supre suas reais necessidades energéticas e proteicas. A alta ocorrência de inadequações da infusão, comparadas à prescrição e às metas definidas podem gerar balanço nutricional negativo.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Idoso , Ingestão de Energia , Proteínas Alimentares/administração & dosagem , Estado Terminal/terapia , Nutrição Enteral/métodos , Cuidados Críticos/métodos , Unidades de Terapia Intensiva , Valores de Referência , Avaliação Nutricional , Antropometria , Estado Nutricional , Estudos Prospectivos , Fatores de Risco , Estudos Longitudinais , Estatísticas não Paramétricas , Medição de Risco , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
RESUMEN Objetivo El objetivo principal de este trabajo, fue validar y comparar la capacidad predictiva de mortalidad de los indicadores de gravedad APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, Score II) y SAPS III (Simplified Acute Physiology, Score III) en una muestra de pacientes admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto (UCI) del Hospital de Curicó, entre los años 2011 y 2013. Materiales y Métodos Estudio analítico, observacional de cohorte histórica de casos consecutivos desde la admisión a la UCI hasta el egreso hospitalario. Para el análisis, se usó el Modelo de Regresión Logística Binaria. De un total de 1 042 pacientes ingresados a la UCI, se incluyó a 793 pacientes sobrevivientes, y a 249 pacientes fallecidos, que representaban el 76,1% y 23,9% respectivamente, del total. Resultados El SAPS III presenta mejor capacidad predictiva que el APACHE II, según el área bajo la curva de características operativas del receptor 0,81 y 0,80 respectivamente. La sensibilidad para el modelo SAPS III es 0,95 y para APACHE II es 0,93. El índice de especificidad es 0,3 para el SAPS III y 0,4 para el APACHE II, con probabilidad superior a 0,5. Conclusión Los indicadores de predicción de mortalidad en UCI; APACHE II y SAPS III tienen una buena capacidad predictiva general, pero ambos indicadores presentan una baja especificidad.(AU)
ABSTRACT Objective The main objective of this work was to validate and compare the predictive capacity of mortality of the severity score systems APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, Score II) and SAPS III (Simplified Acute Physiology, Score III) in a sample of patients admitted to the Adult Intensive Care Unit (ICU) of the Hospital de Curicó between 2011 and 2013. Materials and Methods Analytical, observational, retrospective cohort study of consecutive cases since admission to the ICU until hospital discharge. A binary logistic regression model was used for the analysis. Out of 1 042 patients admitted to the ICU, 793 surviving patients and 249 deceased patients were included, representing 76.1% and 23.9%, respectively, of the total sample. Results The SAPS III score has a better predictive capacity than the APACHE II, according to the area under the curve and the receiver operating characteristic curve: 0.81 and 0.80, respectively. Sensitivity for the SAPS III model was 0.95 and for APACHE II was 0.93. The specificity index was 0.3 for SAPS III and 0.4 for APACHE II, with a probability above 0.5. Conclusion APACHE II and SAPS III, as ICU mortality prediction indicators, have a good predictive power but low specificity.(AU)
RESUMO Objetivo O objetivo principal deste trabalho foi validar e comparar a capacidade preditiva de mortalidade dos sistemas de escore de gravidade APACHE II (Fisiologia Aguda e Avaliação Crônica de Saúde, Escore II) e SAPS III (Fisiologia Aguda Simplificada, Escore III) em uma amostra de pacientes internado na Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI) do Hospital de Curicó entre 2011 e 2013. Materiais e métodos Estudo de coorte analítico, observacional e retrospectivo de casos consecutivos desde a admissão na UTI até a alta hospitalar. Um modelo de regressão logística binária foi usado para a análise. Dos 1.042 pacientes admitidos na UTI, foram incluídos 793 pacientes sobreviventes e 249 falecidos, representando 76,1% e 23,9%, respectivamente, do total da amostra. Resultados O escore SAPS III tem melhor capacidade preditiva do que o APACHE II, de acordo com a área sob a curva e a curva de característica de operação do receptor: 0,81 e 0,80, respectivamente. A sensibilidade para o modelo SAPS III foi de 0,95 e para APACHE II foi de 0,93. O índice de especificidade foi de 0,3 para SAPS III e 0,4 para APACHE II, com probabilidade superior a 0,5. Conclusão APACHE II e SAPS III, como indicadores de predição de mortalidade em UTI, apresentam bom poder preditivo, mas baixa especificidade.(AU)
Assuntos
Humanos , Cuidados Críticos/métodos , Unidades de Terapia Intensiva/organização & administração , Monitorização Fisiológica/métodos , APACHEAssuntos
Humanos , APACHE , Cuidados Críticos/métodos , Unidades de Terapia Intensiva , Prognóstico , Estado TerminalRESUMO
Introducción: La escala APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation), combina hallazgos clínicos y de laboratorio, para dar como resultado un puntaje, que tiene como finalidad predecir la mortalidad de pacientes ingresados en unidades de cuidado crítico. Modificaciones y adaptaciones en la escala APACHE ha dado como resultado a las escalas APACHE II y APACHE IV. Tanto la escala APACHE II como APACHE IV tienen sus aplicaciones y limitaciones. Por lo que este estudio se centrará en correlacionar estas escalas predictores de mortalidad para evaluar su precisión y eficacia. Objetivo: Correlacionar las escalas predictores de mortalidad APACHE II y APACHE IV en pacientes críticamente enfermos de la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos (UTI) del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Métodos: Se realizó un estudio observacional prospectivo, longitudinal y analítico, correlacionando los datos y evaluando su eficacia diagnóstica por el área bajo la curva. Resultados: De los 82 pacientes incluidos en el estudio, 33 pacientes (40.24%), fallecieron luego de 24 horas de su ingreso a UTI, las características de los pacientes tales como comorbilidades asociadas, parámetros fisiológicos y bioquímicos fueron significativamente diferentes entre los pacientes que vivieron y los que fallecieron. Los modelos pronósticos APACHE II y APACHE IV tuvieron una buena y adecuada capacidad para discriminar entre la mortalidad de los pacientes (área bajo la curva ROC para APACHE II, 0.784; APACHE IV, 0,806; p<0.001). Conclusiones: Ambas escalas predictoras de mortalidad demostraron ser igual de efectivas, entre mayor puntaje se obtiene de las mismas, mayor es la mortalidad predicha y observada...(AU)
Introduction: The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) score combines clinical and laboratory findings to predict the mortality of patients admitted to critical care units. Modifications and adaptations of APACHE score have resulted in the APACHE II and APACHE IV scores. Both APACHE II and IV have their applications and limitations. This study will focus on the correlation of these prediction scales to assess their accuracy and effectiveness. Objective: To correlate mortality prediction scales APACHE II and APACHE IV in critically ill patients in the Intensive Care Unit of Adults (ICU) of the Guatemalan Social Security Institute (IGSS). Methods: An observational, prospective, longitudinal and analytic study was done, correlating the database and assessed it by the area under the receiver operating characteristic curve. Results: Of the 82 patients included in the study, 33 patients (40.24%) died 24 hours after their admission to the ICU, the patient characteristics such as comorbidities, physiological and biochemical parameters were significantly different between patients who lived and those who died. The prognostic models APACHE II and APACHE IV had a good and adequate capacity to discriminate between patient mortality (area under the ROC curve for APACHE II, 0.784; APACHE IV, 0.806; p <0.001). Conclusions: Both predictive scales of mortality shown to be equally effective, the higher the obtained value from the scales, the higher was the observed and predicted mortality...(AU)
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adolescente , Adulto , APACHE , Cuidados Críticos/métodos , Unidades de Terapia Intensiva/estatística & dados numéricos , Mortalidade , GuatemalaRESUMO
RESUMO Objetivo: Determinar a eficácia de um programa de gestão da qualidade para reduzir a incidência e a gravidade de úlceras por pressão em pacientes de terapia intensiva. Métodos: Estudo com metodologia quasi-experimental, antes-e-depois, conduzido em uma unidade de terapia intensiva clínica e cirúrgica. Incluíram-se os pacientes consecutivos que receberam ventilação mecânica por um período igual ou superior a 96 horas. Uma equipe de Melhoria de Processos delineou um processo de intervenção multifacetado, que consistiu de uma sessão educacional, uma lista de verificação de úlcera de pressão, um aplicativo para smartphone para monitoramento de lesões e um conjunto de normas de tomada de decisão, além de prevenção familiar. Resultados: O Grupo Pré-I incluiu 25 pacientes, e o Grupo Pós-I foi constituído por 69 pacientes. A incidência de úlcera de pressão nestes grupos foi de 41 (75%) e 37 (54%), respectivamente. O tempo mediano para o desenvolvimento das úlceras por pressão foi de 4,5 (4-5) dias no Grupo Pré-I e 9 (6-20) dias no Grupo Pós-I após a admissão para cada um dos períodos. A incidência de úlceras por pressão de grau avançado foi de 27 (49%) no Grupo Pré-I e 7 (10%) no Grupo Pós-I. A presença de úlceras por pressão na alta foi de 38 (69%) e 18 (26%), respectivamente, para os Grupos Pré-I e Pós-I (p < 0,05 para todas as comparações). A participação da família totalizou 9% no Grupo Pré-I e aumentou para 57% no Grupo Pós-I (p < 0,05). Utilizou-se um modelo de regressão logística para analisar os preditores de úlcera de pressão com grau avançado. A duração da ventilação mecânica e a presença de falência de órgão associaram-se positivamente com o desenvolvimento de úlceras por pressão, enquanto o programa multifacetado de intervenção atuou como fator de proteção. Conclusão: Um programa de qualidade, com base em um aplicativo para smartphone e na participação da família, pode reduzir a incidência e a gravidade de úlceras por pressão em pacientes com ventilação mecânica aguda prolongada.
ABSTRACT Objective: To determine the effectiveness of a quality management program in reducing the incidence and severity of pressure ulcers in critical care patients. Methods: This was a quasi-experimental, before-and-after study that was conducted in a medical-surgical intensive care unit. Consecutive patients who had received mechanical ventilation for ≥ 96 hours were included. A "Process Improvement" team designed a multifaceted interventional process that consisted of an educational session, a pressure ulcer checklist, a smartphone application for lesion monitoring and decision-making, and a "family prevention bundle". Results: Fifty-five patients were included in Pre-I group, and 69 were included in the Post-I group, and the incidence of pressure ulcers in these groups was 41 (75%) and 37 (54%), respectively. The median time for pressure ulcers to develop was 4.5 [4 - 5] days in the Pre-I group and 9 [6 - 20] days in the Post-I group after admission for each period. The incidence of advanced-grade pressure ulcers was 27 (49%) in the Pre-I group and 7 (10%) in the Post-I group, and finally, the presence of pressure ulcers at discharge was 38 (69%) and 18 (26%), respectively (p < 0.05 for all comparisons). Family participation totaled 9% in the Pre-I group and increased to 57% in the Post-I group (p < 0.05). A logistic regression model was used to analyze the predictors of advanced-grade pressure ulcers. The duration of mechanical ventilation and the presence of organ failure were positively associated with the development of pressure ulcers, while the multifaceted intervention program acted as a protective factor. Conclusion: A quality program based on both a smartphone application and family participation can reduce the incidence and severity of pressure ulcers in patients on prolonged acute mechanical ventilation.
Assuntos
Humanos , Adulto , Idoso , Adulto Jovem , Equipe de Assistência ao Paciente/organização & administração , Respiração Artificial/métodos , Úlcera por Pressão/prevenção & controle , Unidades de Terapia Intensiva , Fatores de Tempo , Índice de Gravidade de Doença , Família , Modelos Logísticos , Incidência , Cuidados Críticos/métodos , Úlcera por Pressão/patologia , Úlcera por Pressão/epidemiologia , Aplicativos Móveis , Smartphone , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
Introduction: The anesthesiologist often leaves the walls of the operating room to perform procedures in other departments, an activity inherent to his expert airway and critical patient's management. Prolonged mechanical ventilation is one of the factors that increase Intensive Care Unit (ICU) stay, which is associated with increased mortality and an increase in healthcare-associated pneumonia. Percutaneous tracheostomy has reduced the length of stay in the ICU and indirectly, morbidity and mortality. Objectives: To describe the experience and results of percutaneous tracheostomy by Anesthesiologists in the ICU of the Mutual de Seguridad Clinical Hospital between 2013 and 2016. Methods: Case Series Study of percutaneous tracheostomies (TQT), performed by anesthesiologists in the ICU...
Introducción: El especialista en Anestesiología y Reanimación extiende sus competencias fuera del pabellón quirúrgico cada vez con más frecuencia para realizar procedimientos en otros servicios, actividad inherente a su pericia en el manejo de la vía aérea y pacientes críticos. La ventilación mecánica (VM) prolongada es uno de los factores que extienden la estadía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la que está relacionada a aumento de mortalidad y de neumonías asociadas a atención de salud (IAAS). La traqueostomía (TQT) percutánea ha logrado reducir la estadía en UCI e indirectamente, la morbilidad y mortalidad en esta unidad. Objetivos: Describir experiencia y resultados de realización de la traqueostomía percutánea por Anestesiólogos en UCI del Hospital Clínico Mutual de Seguridad entre 2013 y 2016. Métodos: Estudio descriptivo. Serie de casos de TQT percutánea realizados por anestesiólogos capacitados en la técnica...
Assuntos
Masculino , Feminino , Humanos , Adolescente , Adulto , Adulto Jovem , Pessoa de Meia-Idade , Idoso , Idoso de 80 Anos ou mais , Respiração Artificial , Traqueostomia/métodos , Traqueotomia/estatística & dados numéricos , Broncoscopia , Cuidados Críticos/métodos , Epidemiologia Descritiva , Unidades de Terapia Intensiva , Respiração Artificial/métodos , Resultado do Tratamento , Traqueotomia/métodosRESUMO
RESUMO Objetivo: Determinar o efeito do fornecimento de comentários e educação, com relação ao uso do peso corpóreo previsto para ajuste do volume corrente em uma estratégia de ventilação de proteção pulmonar. Métodos: O estudo foi realizado entre outubro de 2014 e novembro de 2015 (12 meses) em uma única unidade de terapia intensiva polivalente universitária. Desenvolvemos uma intervenção combinada (educação e comentários), dando particular atenção à importância do ajuste dos volumes correntes para o peso corpóreo previsto ao pé do leito. Paralelamente, o peso corpóreo previsto foi estimado com base na estatura calculada a partir da altura dos joelhos e incluído nas fichas clínicas. Resultados: Foram incluídos 151 pacientes. O peso corpóreo previsto avaliado pela altura dos joelhos, em vez de avaliação visual, revelou que o volume corrente fornecido era significantemente mais elevado do que o previsto. Após a inclusão do peso corpóreo previsto, observamos redução sustentada do volume corrente fornecido, de uma média (erro padrão) de 8,97 ± 0,32 para 7,49 ± 0,19mL/kg (p < 0,002). Mais ainda, a adesão ao protocolo foi subsequentemente mantida durante os 12 meses seguintes (volume corrente fornecido de 7,49 ± 0,54 em comparação a 7,62 ± 0,20mL/kg; p = 0,103). Conclusão: A falta de um método confiável para estimar o peso corpóreo previsto é um problema importante para a aplicação de um padrão mundial de cuidados durante a ventilação mecânica. Uma intervenção combinada, que se baseou em educação e fornecimento continuado de comentários, promoveu uma redução sustentada do volume corrente durante o período do estudo (12 meses).
ABSTRACT Objective: To determine the effect of feedback and education regarding the use of predicted body weight to adjust tidal volume in a lung-protective mechanical ventilation strategy. Methods: The study was performed from October 2014 to November 2015 (12 months) in a single university polyvalent intensive care unit. We developed a combined intervention (education and feedback), placing particular attention on the importance of adjusting tidal volumes to predicted body weight bedside. In parallel, predicted body weight was estimated from knee height and included in clinical charts. Results: One hundred fifty-nine patients were included. Predicted body weight assessed by knee height instead of visual evaluation revealed that the delivered tidal volume was significantly higher than predicted. After the inclusion of predicted body weight, we observed a sustained reduction in delivered tidal volume from a mean (standard error) of 8.97 ± 0.32 to 7.49 ± 0.19mL/kg (p < 0.002). Furthermore, the protocol adherence was subsequently sustained for 12 months (delivered tidal volume 7.49 ± 0.54 versus 7.62 ± 0.20mL/kg; p = 0.103). Conclusion: The lack of a reliable method to estimate the predicted body weight is a significant impairment for the application of a worldwide standard of care during mechanical ventilation. A combined intervention based on education and repeated feedbacks promoted sustained tidal volume education during the study period (12 months).
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Idoso , Respiração Artificial/métodos , Cuidados Críticos/métodos , Unidades de Terapia Intensiva , Peso Corporal , Volume de Ventilação Pulmonar , Reprodutibilidade dos Testes , Fidelidade a Diretrizes , Retroalimentação , Hospitais Universitários , Joelho/anatomia & histologia , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
OBJECTIVES: Septic pulmonary embolism is an uncommon but life-threatening disorder. However, data on patients with septic pulmonary embolism who require critical care have not been well reported. This study elucidated the clinicoradiological spectrum, causative pathogens and outcomes of septic pulmonary embolism in patients requiring critical care. METHODS: The electronic medical records of 20 patients with septic pulmonary embolism who required intensive care unit admission between January 2005 and December 2013 were reviewed. RESULTS: Multiple organ dysfunction syndrome developed in 85% of the patients, and acute respiratory failure was the most common organ failure (75%). The most common computed tomographic findings included a feeding vessel sign (90%), peripheral nodules without cavities (80%) or with cavities (65%), and peripheral wedge-shaped opacities (75%). The most common primary source of infection was liver abscess (40%), followed by pneumonia (25%). The two most frequent causative pathogens were Klebsiella pneumoniae (50%) and Staphylococcus aureus (35%). Compared with survivors, nonsurvivors had significantly higher serum creatinine, arterial partial pressure of carbon dioxide, and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II and Sequential Organ Failure Assessment scores, and they were significantly more likely to have acute kidney injury, disseminated intravascular coagulation and lung abscesses. The in-hospital mortality rate was 30%. Pneumonia was the most common cause of death, followed by liver abscess. CONCLUSIONS: Patients with septic pulmonary embolism who require critical care, especially those with pneumonia and liver abscess, are associated with high mortality. Early diagnosis, appropriate antibiotic therapy, surgical intervention and respiratory support are essential.