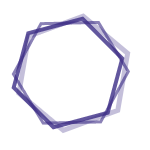RESUMO
ABSTRACT Objectives. To analyze changes in racial/ethnic disparities for unintentional injury mortality from 1999-2016. Methods. Mortality data are from the National Center for Health Statistics (NCHS) for all unintentional injuries, analyzed separately by injury cause (motor vehicle accidents [MVA], poisonings, other unintentional) for white,black, and Hispanic populations within four age groups: 15-19, 20-34, 35-54, 55-74 for males and for females. Results. Rates across race/ethnic groups varied by gender, age and cause of injury. Unintentional injury mortality showed a recent increase for both males and females, which was more marked among males and for poisoning in all race/ethnic groups of both genders. Whites showed highest rates of poisoning mortality and the steepest increase for both genders, except for black males aged 55-74. MVA mortality also showed an increase for all race/ethnic groups, with a sharper rise among blacks, while Hispanics had lower rates than either whites or blacks. Rates for other unintentional injury mortality were similar across groups except for white women over 55, for whom rates were elevated. Conclusions. Data suggest while mortality from unintentional injury related to MVA and poisoning is on the rise for both genders and in most age groups, blacks compared to whites and Hispanics may be suffering a disproportionate burden of mortality related to MVAs and to poisonings among those over 55, which may be related to substance use.
RESUMEN Objetivos. Analizar cambios en las disparidades por raza y grupo étnico en materia de mortalidad por traumatismos no intencionales de 1999 al 2016. Métodos. Los datos de mortalidad de todos los traumatismos no intencionales provienen del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias y se han analizado por separado por causa de traumatismo (colisiones automovilísticas, intoxicaciones y otras causas no intencionales) y por población blanca, negra e hispana, tanto en hombres como en mujeres, en cuatro grupos etarios: de 15 a 19, de 20 a 34, de 35 a 54 y de 55 a 74. Resultados. Las tasas en todos los grupos raciales y étnicos variaron según el sexo, la edad y la causa del traumatismo. La mortalidad por traumatismo no intencional mostró un aumento reciente tanto en hombres como en mujeres, que fue más marcado en el caso de los hombres, y por intoxicación en todos los grupos raciales y étnicos de ambos sexos. La población blanca mostró las tasas más elevadas de mortalidad por intoxicación y el incremento más acentuado en ambos sexos, con excepción de los hombres negros entre 55 y 74 años de edad. La mortalidad por colisión automovilística también registró un aumento en todos los grupos raciales y étnicos, con un incremento mayor en la población negra, mientras que la población hispana mostró tasas inferiores que la blanca o la negra. Las tasas de mortalidad por otros traumatismos no intencionales fueron similares en todos grupos salvo en el caso de las mujeres blancas de más de 55 años, cuyas tasas mostraron un incremento. Conclusiones. Los datos indican que, si bien la mortalidad por traumatismo no intencional relacionada con colisiones automovilísticas e intoxicación está en alza en ambos sexos y en la mayoría de los grupos etarios, la población negra en comparación con la blanca y la hispana puede estar presentando una carga desproporcionada de mortalidad relacionada con colisiones automovilísticas e intoxicación en personas mayores de 55, que podrían estar relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas.
RESUMO Objetivos. Analisar as mudanças nas disparidades étnico-raciais da mortalidade por lesões acidentais no período 1999-2016. Métodos. Os dados de mortalidade foram obtidos do Centro Nacional de Estatísticas de Saúde (NCHS) dos Estados Unidos para todos os tipos de lesões acidentais e analisados em separado por causa de lesão (acidentes de trânsito de veículos a motor, envenenamento/intoxicação e outros tipos de acidentes) em grupos populacionais de brancos, negros e hispânicos de ambos os sexos divididos em quatro faixas etárias: 15-19, 20-34, 35-54 e 55-74 anos. Resultados. As taxas de mortalidade nos grupos étnico-raciais variaram segundo sexo, idade e causa de lesão. Houve um aumento recente na mortalidade por lesões acidentais nos sexos masculino e feminino, sendo mais acentuado no sexo masculino e por envenenamento/intoxicação em todos os grupos étnicos-raciais de ambos os sexos. A população branca apresentou as maiores taxas de mortalidade por envenenamento/intoxicação e o aumento mais acentuado na mortalidade em ambos os sexos, exceto por homens negros de 55-74 anos. Ocorreu também um aumento da mortalidade por acidentes de trânsito de veículos a motor em todos os grupos étnico-raciais, sendo mais acentuado em negros, e a mortalidade na população hispânica foi menor que em brancos ou negros. As taxas de mortalidade por outros tipos de acidentes foram semelhantes em todos os grupos, exceto em mulheres brancas acima de 55 anos que apresentaram taxas elevadas. Conclusões. Os dados analisados indicam que, apesar de a mortalidade por lesões acidentais por acidentes de trânsito de veículos a motor e envenenamento/intoxicação estar aumentando em ambos os sexos e na maioria das faixas etárias, em comparação a brancos e hispânicos, os negros possivelmente sofrem um ônus desproporcional de mortalidade por acidentes de trânsito e envenenamento/intoxicação no grupo acima de 55 anos que pode estar associada ao uso de substâncias químicas.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adolescente , Adulto , Pessoa de Meia-Idade , Idoso , Acidentes/mortalidade , Mortalidade/etnologia , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Desigualdades Étnicas , Estados Unidos/epidemiologia , Acidentes/classificação , Etnicidade/estatística & dados numéricos , Fatores Sexuais , Fatores Etários , Disparidades nos Níveis de SaúdeRESUMO
Resumo O objetivo deste estudo é refletir os impactos da COVID 19, considerando marcadores de gênero, raça e classe. Trata-se de um estudo exploratório, com ênfase na análise de publicações selecionados, a partir de procura sistematizada em sites oficiais, bem como na plataforma PubCovid-19 que apresenta os artigos publicados sobre COVID-19, os quais estão indexados nas Pubmed e EMBASE. O trabalho foi pautado nos referidos documentos e construído com reflexões dos autores a partir das perspectivas dos marcadores sociais relacionados à gênero, raça e classe, os quais contribuem para o prognóstico da doença. A reflexão realizada com base na literatura analisada revelou que os marcadores de gênero, classe e raça se apresentam enquanto condição vulnerabilizadora à exposição da COVID-19 nos mais diversos cenários mundiais. Esse contexto descortina a necessidade histórica da implantação de estratégias de melhoria de vida dessa população não só durante a pandemia, como também após sua passagem. Para tanto, necessário se faz a adoção de políticas socioeconômicas de maior impacto na vida dessas pessoas e com maior abrangência, ampliando o acesso a melhores condições de saúde, educação, moradia e renda.
Abstract This study aims to reflect the impact of COVID 19, considering gender, race, and class markers. This is an exploratory study, with an emphasis on the analysis of selected publications, based on a systematized search on official websites, and on the PubCovid-19 platform that includes papers published on COVID-19, which are indexed in PubMed and EMBASE. This work was based on these documents and built with reflections from the authors from the perspectives of social markers related to gender, race, and class, which contribute to the prognosis of the disease. The reflection carried out from the analyzed literature revealed that the markers of gender, class, and race emerge as a vulnerable condition to the exposure of COVID-19 in the most diverse world scenarios. This context reveals the historical need to implement strategies to improve the lives of this population, not only during the pandemic but also after their passing. Therefore, it is necessary to adopt socioeconomic policies with a more significant impact on the lives of these people and with greater coverage, expanding access to better health, education, housing, and income.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Pneumonia Viral/epidemiologia , Infecções por Coronavirus/epidemiologia , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Prognóstico , Classe Social , Fatores Socioeconômicos , Fatores Sexuais , Infecções por Coronavirus , PandemiasRESUMO
Resumo Estudo epidemiológico que objetivou analisar os óbitos infantis em menores de um ano e seus critérios de evitabilidade por cor ou raça, em Mato Grosso do Sul, de 2005 a 2013, a partir dos Sistemas de Informações sobre Mortalidade e sobre Nascidos Vivos. Elaborou-se o coeficiente de mortalidade infantil anual e a descrição dos óbitos por componentes e por grupo de causas evitáveis, mal definidas e não evitáveis para os três triênios. Observou-se declínio do coeficiente de mortalidade infantil para todas as categorias de cor ou raça, com predomínio para as crianças pardas e pretas. O componente Neonatal precoce apresentou maior percentual de óbitos para todas as categorias, com exceção da indígena que registrou predomínio no componente Pós-neonatal. Os óbitos ocorreram, majoritariamente, por causas evitáveis e não foram homogêneos entre as categorias de cor ou raça. Os óbitos por causas mal definidas predominaram entre as crianças indígenas e pardas. A investigação dos óbitos apontou diferenças nos componentes de mortalidade e nas causas evitáveis segundo recorte étnico racial, o que poderá contribuir para o direcionamento de políticas públicas que qualifiquem a rede assistencial materno-infantil, sobretudo para as minorias étnicas.
Abstract The epidemiological study aimed to investigate the mortality of children under one year and the classification of preventability by skin color or ethnicity in Mato Grosso do Sul state in the period 2005-2013 retrieved from the Mortality and Live Births Information Systems. The annual child mortality coefficient and the description of deaths by components and by group of preventable, ill-defined and non-preventable causes for the three triennia were elaborated. The child mortality coefficient declined for all skin color or ethnicity categories, with a predominance of brown and black children. The early neonatal component had higher mortality rates for all categories, except for the indigenous population, which recorded predominance of the post-neonatal component. Deaths were mainly due to preventable causes, and they were not homogeneous among skin color or ethnicity categories. Deaths from ill-defined causes predominated among indigenous and brown children. The investigation of deaths pointed to differences in the components of mortality and preventable causes according to racial and ethnic contour, which could contribute to the direction of public policies that qualify the mother and child care network, especially for ethnic minorities.
Assuntos
Humanos , Recém-Nascido , Lactente , Política Pública , Etnicidade/estatística & dados numéricos , Mortalidade Infantil , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Brasil/epidemiologiaRESUMO
Resumo O objetivo do estudo foi associar a fragilidade com perfil sociodemográfico e cognição de idosos residentes em contexto de alta vulnerabilidade social cadastrados em um Centro de Referência de Assistência Social em um município do interior paulista. Estudo transversal e quantitativo realizado com 48 idosos. Para a coleta de dados utilizou-se entrevista sociodemográfica, Escala de Fragilidade de Edmonton e Montreal Cognitive Assessment. Para a análise dos dados foi empregado teste de Jonckheere-Terpstra, correlação de Spearman e regressão logística (α = 5,0%). Dos 48 entrevistados, 33,4% não eram frágeis, 20,8% se mostraram aparentemente vulneráveis e 45,8% estavam frágeis em algum nível. As mulheres (OR = 4,64) e os de raça não branca (OR = 3,99) tiveram maior chance de apresentar fragilidade. Os domínios com maior influência na determinação da fragilidade foram: cognição, independência e desempenho funcional, estado geral da saúde e humor, embora sexo (p = 0,0373) e raça (p = 0,0284) tenham apresentado associação significativa. Destaca-se que considerar o perfil de fragilidade dos idosos subsidia o desenvolvimento de estratégias específicas de cuidado para este segmento populacional em área vulnerável prevenindo futuras complicações.
Abstract This study aimed to associate frailty with sociodemographic profile and cognition of elderly people living in highly socially vulnerable contexts registered at a Social Assistance Referral Centers in a city of inland São Paulo. This is a cross-sectional and quantitative study with 48 elderly. Data was collected with a sociodemographic interview, the Edmonton Frail Scale and the Montreal Cognitive Assessment, and was analyzed with the Jonckheere-Terpstra test, Spearman's correlation and logistic regression (α = 5.0%). This study was approved under Opinion Nº 72182. Of the 48 elderly interviewed, 33.4% were non-frail, 20.8% were apparently vulnerable and 45.8% were frail at some level (mild, moderate or severe). Women (OR = 4.64) and nonwhites (OR = 3.99) were more likely of being frail. The realms with the greatest influence in the determination of frailty were cognition, independence and functional performance, general health and mood, although gender (p = 0.0373) and ethnicity (p = 0.0284) had a significant association. Worth highlighting is that considering the frailty profile of the elderly warrants the development of specific care strategies for this segment of the population in a vulnerable area, preventing futures complications.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Idoso , Idoso de 80 Anos ou mais , Idoso Fragilizado/estatística & dados numéricos , Cognição/fisiologia , Populações Vulneráveis/estatística & dados numéricos , Fragilidade/epidemiologia , Avaliação Geriátrica , Fatores Sexuais , Estudos Transversais , Entrevistas como Assunto , Fatores de Risco , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
ABSTRACT Objective: to evaluate the quality of life of primary care nurses in the climacteric. Method: A cross-sectional descriptive-analytic study, performed with 98 female nurses, aged 40-65 years, using the WHOQOL-Bref questionnaire. Results: the worst level of quality of life was observed for professionals aged 50-59 years, non-white, specialists, divorced or widowed, with children, a lower income, with another employment relationship, a weekly workload of more than 40 hours, who consumed alcoholic beverages weekly, with chronic disease, in continuous use of medications, sedentary, who did not menstruate and did not receive hormonal treatment, and who went through menopause between the ages of 43-47 years. Conclusion: Although the variables "physical activity" and "age" have a statistically significant association with quality of life, other variables seem to interfere in these professionals' lives, indicating the need for a more critical and deep reflection on these relations.
RESUMEN Objetivo: evaluar la calidad de vida de enfermeras en el climaterio que actúan en la atención primaria. Método: estudio descriptivo y de análisis, de cohorte transversal, realizado con 98 enfermeras, de entre 40 y 65 años de edad, en que se utilizó el cuestionario WHOQOL-Bref. Resultados: presentaron un peor nivel de calidad de vida las profesionales: de entre 50 y 59 años de edad, no blancas, con especialización, divorciadas o viudas, con hijos, con menor renta familiar, que tenían otro vínculo de empleo, con carga laboral semanal superior a 40 horas, que consumían alcohol semanalmente, portadoras de enfermedad crónica, en el uso continuo de medicamentos, sedentarias, que no menstruaban y no estaban bajo tratamiento hormonal, y cuya menopausia empezó entre 43 y 47 años de edad. Conclusión: a pesar de la variable "realización de actividad física" y de la variable "edad" haber presentado una asociación estadísticamente significativa con la calidad de vida, otras variables parecen afectar la calidad de vida de esas profesionales, lo que demanda una reflexión crítica y más profundizada sobre esas relaciones.
RESUMO Objetivo: avaliar a qualidade de vida de enfermeiras no climatério atuantes na atenção primária. Método: estudo descritivo-analítico, de corte transversal, realizado com 98 enfermeiras, com idade entre 40 e 65 anos, utilizando-se o questionário WHOQOL-Bref. Resultados: apresentaram pior nível de qualidade de vida as profissionais com idade entre 50 e 59 anos, não brancas, especialistas, divorciadas ou viúvas, com filhos, com menor renda, possuidoras de outro vínculo empregatício, carga horária de trabalho semanal acima de 40 horas, que ingeriam bebida alcoólica semanalmente, portadoras de doença crônica, em uso contínuo de medicamentos, sedentárias, que não menstruavam e não faziam tratamento hormonal, e que apresentaram a menopausa entre 43 e 47 anos. Conclusão: apesar das variáveis "realização de atividade física" e "idade" terem uma associação estatisticamente significante com a qualidade de vida, outras variáveis parecem interferir na dessas profissionais, indicando a necessidade de uma reflexão crítica e mais aprofundada sobre essas relações.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Qualidade de Vida/psicologia , Enfermagem de Atenção Primária/normas , Enfermeiras e Enfermeiros/psicologia , Enfermagem Primária/métodos , Climatério/psicologia , Menopausa/psicologia , Estudos Transversais , Inquéritos e Questionários , Fatores Etários , Carga de Trabalho/normas , Carga de Trabalho/psicologia , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Enfermagem de Atenção Primária/psicologia , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
RESUMO: Introdução: A densidade racial ainda não foi explorada nos estudos sobre desigualdades raciais no Brasil. Este estudo identifica categorias de densidade racial para as cidades brasileiras e descreve a situação de vida e saúde nessas categorias nos anos dos Censos Demográficos de 2000 e 2010. Método: Estudo ecológico em que a informação de cor/raça nos dois últimos censos foi usada para calcular a densidade racial (proporçãode pessoas do mesmo grupo racial) nas cidades brasileiras em cada ano. Criaram-se quatro categorias de densidade racial (parda; mistos, mas com maioria negra; branca; e mistos, mas com maioria branca).Paraquais foram descritos indicadores socioeconômicos, demográficos e de saúde. Resultados: As categorias de densidade racial captaram desigualdades importantes ao longo dos censos e apontaram a permanência de piores condições de vida e saúde nas cidades formadas por pardos e mistos, mas com maioria negra, e melhores onde predominaram brancos. As cidades predominadas por pardos e mistos, mas com maioria negra, em relação às demais, apresentam, nos dois censos, estrutura etária mais jovem, piores índices de desenvolvimento humano, maior vulnerabilidade social, concentração de renda, mortalidade infantil e prematura (< 65 anos) e menor esperança de vida de seus moradores. Discussão: Semelhantemente a outros países, a densidade racial espelhou desigualdades na situação de vida e saúde no Brasil, bem como defasagem temporal entre suas cidades. Conclusão: As categorias de densidade racial podem contribuir para os estudos sobre a epidemiologia social e sobre as relações raciais no país.
ABSTRACT: Introduction: Racial density has not yet been explored in studies of racial inequalities in Brazil. Thisstudy identified categories of racial density in Brazilian cities and described the living and health context in these categories in 2000 and 2010, when demographic censuses were conducted. Method: Ecological study which used skin color or race information from the last two censuses to calculate racial density (the ratio of people aggregated to the same racial group) of the Brazilian cities each year. Four categories of racial density (Brown; Mixed-race, predominantly black; White/Caucasian; and Mixed-race, predominantly white). Socioeconomic, demographic and health indicators were described to each category. Results: The categories of racial density captured important inequalities throughout the census and also indicated the continuance of worse living and health conditions in the cities composed by Browns and mixed-race people, predominantly Black; better conditions were indicated in cities where White/Caucasians are predominant. The cities, composed mainly of Browns and mixed-race people, predominantly Black, presented younger age structure, worse human development indexes, greater social vulnerability, income concentration, infant and premature mortality (<65 years) and lower life expectancy in both censuses, as compared to other cities. Discussion: Similarly to other countries, the racial density reflected inequalities in the Brazilian living and health context as well as a time lag among the cities. Conclusion: The categories of racial density may contribute to social epidemiology and race relations studies in Brazil.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Recém-Nascido , Pré-Escolar , Criança , Adolescente , Adulto , Idoso , Adulto Jovem , Nível de Saúde , Densidade Demográfica , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Fatores Raciais/estatística & dados numéricos , Fatores Socioeconômicos , Fatores de Tempo , Brasil/epidemiologia , Características de Residência , Expectativa de Vida/etnologia , Cidades/etnologia , Distribuição por Sexo , Distribuição por Idade , Análise Espaço-Temporal , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
Abstract The aim of this study to estimate the prevalence of sedentary behavior based on screen time (≥ 2-hour day) and to identify the association with sociodemographic factors among adolescents in a city in southern Brazil. This is an epidemiological survey of school-based cross-sectional study with students aged 14-19 years in the city of São José/SC - Brazil. Self-administered questionnaire was used, containing information sociodemographic, level of physical activity and about screen time. Descriptive statistics were performed, and odds ratios were estimated using binary logistic regression and 95% confidence level. The prevalence of excess screen time was 86.37% followed by computer use (55.24%), TV use (51.56%) and Videogame use (15.35%). Boys had higher prevalence of excessive video game use. Those of skin color different from white and mothers who studied less than eight years were more likely to watch too much TV, and those of low economic level were more likely of having excessive screen time. Girls of skin color different from white were more likely to watch too much TV, and those aged 14-16 years were more likely to have videogame use time and total time screen above recommended.
Resumo O objetivo deste estudo foi estimar a prevalência de comportamentos sedentários baseado em tempo de tela (≥ 2 horas por dia) e identificar a associação com fatores sociodemográficos em adolescentes, de uma cidade do Sul do Brasil. Esta é uma pesquisa epidemiológica de base escolar com delineamento transversal, em estudantes de 14 a 19 anos na cidade de São José/SC, Brasil. Foi utilizado questionário autoaplicado, com informações sociodemográficas, atividade física e tempo de uso de tela. Foi realizada estatística descritiva, e as razões de chances estimadas por regressão logística binária. A prevalência de uso excessivo de tela foi de 86,37% seguido de uso de computador (PC) (55,24%), televisão (TV) (51,56%) e videogame (VG) (15,35%). Os meninos tiveram maior prevalência de uso excessivo de VG. Aqueles de cor de pele diferente de branca e que mães estudaram menos de oito anos tiveram mais chances de assistirem TV em excesso, e aqueles, de baixo nível econômico tiveram mais chances de terem tempo total de tela excessivo. Meninas de cor de pele diferente de branca tiveram mais de assistirem TV em excesso, e aquelas com 14 a 16 anos tiveram mais chances de estarem com tempo de uso de VG e tempo total de tela acima do recomendado.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adolescente , Adulto Jovem , Televisão/estatística & dados numéricos , Exercício Físico , Jogos de Vídeo/estatística & dados numéricos , Comportamento Sedentário , Instituições Acadêmicas , Fatores Socioeconômicos , Estudantes/estatística & dados numéricos , Fatores de Tempo , Brasil/epidemiologia , Fatores Sexuais , Prevalência , Estudos Transversais , Inquéritos e Questionários , Comportamento do Adolescente , Grupos Raciais/estatística & dados numéricosRESUMO
ABSTRACT OBJECTIVE To analyze the quality of records for live births and infant deaths and to estimate the infant mortality rate for skin color or race, in order to explore possible racial inequalities in health. METHODS Descriptive study that analyzed the quality of records of the Live Births Information System and Mortality Information System in Rondônia, Brazilian Amazonian, between 2006-2009. The infant mortality rates were estimated for skin color or race with the direct method and corrected by: (1) proportional distribution of deaths with missing data related to skin color or race; and (2) application of correction factors. We also calculated proportional mortality by causes and age groups. RESULTS The capture of live births and deaths improved in relation to 2006-2007, which required lower correction factors to estimate infant mortality rate. The risk of death of indigenous infant (31.3/1,000 live births) was higher than that noted for the other skin color or race groups, exceeding by 60% the infant mortality rate in Rondônia (19.9/1,000 live births). Black children had the highest neonatal infant mortality rate, while the indigenous had the highest post-neonatal infant mortality rate. Among the indigenous deaths, 15.2% were due to ill-defined causes, while the other groups did not exceed 5.4%. The proportional infant mortality due to infectious and parasitic diseases was higher among indigenous children (12.1%), while among black children it occurred due to external causes (8.7%). CONCLUSIONS Expressive inequalities in infant mortality were noted between skin color or race categories, more unfavorable for indigenous infants. Correction factors proposed in the literature lack to consider differences in underreporting of deaths for skin color or race. The specific correction among the color or race categories would likely result in exacerbation of the observed inequalities.
RESUMO OBJETIVO Analisar a qualidade dos registros de nascidos vivos e de óbitos infantis e estimar a taxa de mortalidade infantil segundo cor ou raça, a fim de explorar iniquidades étnico-raciais em saúde. MÉTODOS Estudo descritivo que analisou a qualidade dos registros do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos e do Sistema de Informações sobre Mortalidade em Rondônia, Amazônia brasileira, entre 2006-2009. As taxas de mortalidade infantil foram estimadas nas categorias de cor ou raça, pelo método direto, e corrigidas por: (1) distribuição proporcional dos óbitos com cor ou raça ignorada; e (2) aplicação de fatores de correção. Efetuou-se também o cálculo da mortalidade proporcional por causas e grupos etários. RESULTADOS Entre 2008-2009, a captação de nascimentos e óbitos melhorou em relação aos anos de 2006-2007, requerendo fatores de correção menores para estimar a taxa de mortalidade infantil. O risco de morte de crianças indígenas (31,3/1.000 nascidos vivos) foi maior que o registrado nos demais grupos de cor ou raça, excedendo em 60% a mortalidade infantil média no estado (19,9/1.000 nascidos vivos). As crianças pretas apresentaram as maiores taxas de mortalidade infantil neonatal, enquanto as indígenas apresentaram as maiores taxas de mortalidade infantil pós-neonatal. Observou-se que 15,2% dos óbitos indígenas foram por causas mal definidas, enquanto nos demais grupos não ultrapassaram 5,4%. A mortalidade infantil proporcional por doenças infecciosas e parasitárias foi maior entre indígenas, ao passo que entre crianças pretas, sobressaíram as causas externas (8,7%). CONCLUSÕES Observaram-se expressivas iniquidades na mortalidade infantil entre as categorias de cor ou raça, com situação mais desfavorável às crianças indígenas. Os fatores de correção propostos na literatura não consideram diferenças na subenumeração de óbitos entre as categorias de cor ou raça. A correção específica entre as categorias de cor ou raça provavelmente resultaria em exacerbação das iniquidades observadas.
Assuntos
Humanos , Lactente , Causas de Morte , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Sistemas de Informação em Saúde/normas , Mortalidade Infantil/etnologia , Brasil/etnologia , Confiabilidade dos Dados , Atestado de ÓbitoRESUMO
O objetivo deste estudo é investigar as informações sobre mortalidade infantil no Brasil, de acordo com a cor ou raça com foco nos indígenas, baseando-se nos dados do Censo Demográfico de 2010 e daqueles oriundos do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Em ambas as fontes, as taxas de mortalidade infantil (TMI) de indígenas foram as mais elevadas dentre os diversos segmentos populacionais. Apesar dos dados censitários indicarem desigualdades de cor ou raça, as TMI para indígenas e pretos foram inferiores às derivadas do SIM/SINASC. Particularidades metodológicas quanto à coleta dos dados em ambas as fontes devem ser consideradas. A redução da TMI no Brasil nas últimas décadas é em larga medida atribuída à prioridade da saúde infantil na agenda política. Os achados deste trabalho são indicativos de que o impacto das políticas públicas não alcançou os indígenas em mesma escala que o restante da população. Novas fontes de dados relativos à ocorrência de óbitos nos domicílios, de abrangência nacional, como é o caso do Censo de 2010, podem contribuir para uma melhor compreensão das desigualdades segundo cor ou raça no Brasil.
The aim of this study was to investigate infant mortality data according to color or race in Brazil with a focus on indigenous individuals, based on data from the 2010 Population Census and the Brazilian Mortality Information System (SIM) and Brazilian Information System on Live Births (SINASC). In both sources, the infant mortality rate (IMR) for indigenous individuals was the highest of all the various population segments. Although the census data indicate inequalities by color or race, the infant mortality rates for indigenous and black individuals were lower than those based on data from SIM/SINASC. Methodological specificities in the data collection in the two sources should be considered. The reduction in IMR in Brazil in recent decades is largely attributed to the priority of infant health on the policy agenda. The study's findings indicate that the impact of public policies failed to reach indigenous peoples on the same scale as in the rest of the population. New sources of nationwide data on deaths in households, as in the case of the 2010 Census, can contribute to a better understanding of inequalities by color or race in Brazil.
El objetivo de este estudio es investigar la información sobre mortalidad infantil en Brasil, de acuerdo con el color de piel o raza, enfocándose en los indígenas, basándose en los datos del Censo Demográfico de 2010 y de aquellos oriundos del Sistema de Información sorbe Mortalidad (SIM) y del Sistema de Información sobre Nacidos Vivos (SINASC). En ambas fuentes, las tasas de mortalidad infantil (TMI) de indígenas fueron las más elevadas entre los diversos segmentos poblacionales. A pesar de los dados que indicaron desigualdades de color o raza, las TMI para indígenas y negros fueron inferiores a las derivadas del SIM/SINASC. Particularidades metodológicas, referentes a la recogida de datos en ambas fuentes, deben ser consideradas. A la prioridad de la salud infantil en la agenda política se le atribuye en gran medida la reducción de la TMI en Brasil en las últimas décadas. Los hallazgos de este trabajo son indicativos de que el impacto de las políticas públicas no alcanzó a los indígenas en la misma proporción que al resto de la población. Nuevas fuentes de datos relativos a la ocurrencia de óbitos en los domicilios, de alcance nacional, como es el caso del Censo de 2010, pueden contribuir a una mejor comprensión de las desigualdades según color de piel o raza en Brasil.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Lactente , Mortalidade Infantil/etnologia , Censos , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Sistemas de Informação em Saúde/estatística & dados numéricos , Fatores Socioeconômicos , Brasil , Mortalidade Infantil/tendências , Inquéritos e Questionários , Fatores Etários , Distribuição por Idade , Nascido VivoRESUMO
O monitoramento de desigualdades raciais, seja num plano socioeconômico ou em termos de desfechos de saúde, pressupõe que a declaração da raça apresente estabilidade. Caso contrário, a dinâmica dessas desigualdades poderia resultar da reclassificação racial, e não de processos vinculados a iniquidades socioeconômicas e de saúde. Este estudo propõe uma tipologia da incerteza racial classificatória (contextual - temporal, geográfica, procedimental - e amostral) e discute, com base na literatura e dados secundários nacionalmente representativos, a magnitude da variabilidade racial segundo essas cinco dimensões. Os resultados demonstram que, pelo menos, duas dessas incertezas - geográfica e procedimental - são substanciais, mas têm pouca influência sobre o hiato racial de renda. Abordam-se os impactos desses resultados sobre a existência e a extensão das iniquidades raciais em saúde e conclui-se que a estrutura das desigualdades entre brancos e negros é consistente, ainda que a cor da pele seja volátil.
El monitoreo de desigualdades raciales, sea en un plano socioeconómico o en términos de desenlaces de salud, presupone que la declaración de raza presenta estabilidad. En caso contrario, la dinámica de estas desigualdades podría resultar de una reclasificación racial, y no de procesos vinculados a inequidades socioeconómicas y de la salud. Este estudio propone una tipología de la incertidumbre racial clasificatoria (contextual -temporal, geográfica, procedimental- y muestral) y discute, a partir de la literatura y de datos secundarios nacionalmente representativos, la magnitud de la variabilidad racial, según estas cinco dimensiones. Los resultados demuestran que, por lo menos, dos de esas incertezas -geográfica y procedimental- son sustanciales, pero tienen poca influencia sobre el hiato racial de renta. Se abordan los impactos de esos resultados sobre la existencia y la extensión de las inequidades raciales en salud y se concluye que la estructura de las desigualdades entre blancos y negros es consistente, aunque el color de la piel sea volátil.
Monitoring racial inequalities, whether socioeconomic or health-related, assumes stability in racial classification. Otherwise, the dynamics of these inequalities could result from racial reclassification rather than from processes related to socioeconomic and health inequalities per se. The study proposes a typology of uncertainty in racial classification (contextual - temporal, geographic, procedural - and sampling) and draws on the literature and nationally representative secondary data to discuss the magnitude of racial variability in Brazil according to these five dimensions. The results show that at least two of these uncertainties - geographic and procedural - are substantial, but have little influence on the racial gap in income. We address the impacts of these results on the existence and extent of racial inequalities in health and conclude that the structure of inequalities between whites and blacks is consistent, although skin color classification is volatile.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Autoimagem , Fatores Socioeconômicos , Pigmentação da Pele , Grupos Raciais/classificação , População Negra/classificação , Preconceito , Relações Raciais , Brasil/etnologia , Características de Residência , Incerteza , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , População Negra/estatística & dados numéricos , População Branca/estatística & dados numéricosRESUMO
Revisões recentes da literatura indicam que o número de estudos sobre disparidades étnicoraciais no Brasil é escasso. A análise multinível torna-se necessária já que o conceito de raça/cor é socialmente construído e pode variar segundo local de residência. Foram analisados 2.697 indivíduos residentes em 145 municípios brasileiros, segundo raça (branca, preta e parda). Foram ajustados modelos multinível utilizando inferência bayesiana pelo método Monte Carlo via Cadeias de Markov. Após a inclusão de variáveis demográficas, socioeconômicas e de acesso a serviços de saúde, indivíduos de raça preta e parda tiveram maior razão de chances de avaliarem sua saúde como negativa (RC = 1,71; IC95%: 1,24; 2,37 e RC = 1,37; IC95%: 1,10; 1,71, respectivamente). Características do local de residência não alteraram significativamente a relação entre raça/cor e saúde autoavaliada. Após a recategorização da variável dependente, as características étnico-raciais perderam significância estatística. O presente estudo indica que as disparidades raciais em saúde podem ser mais complexas do que o esperado.
Recent literature reviews have shown that studies analyzing racial/ethnic disparities in Brazil are still scarce. Multilevel approaches are necessary, since race is a socially constructed concept and can vary by area of residence. The analysis included 2,697 individuals from 145 Brazilian municipalities (counties), classified by race (white, black, or mixed). Multilevel models were fitted using Bayesian inference with Markov Chain Monte Carlo methods. After including demographic, socioeconomic, and health access variables, black and mixed-race individuals showed higher odds of negative self-rated health (OR = 1.71; 95%CI: 1.24; 2.37 and OR = 1.37; 95%CI: 1.10; 1.71, respectively). Characteristics of the area of residence did not significantly affect the association between race and self-rated health. Racial/ethnic disparities lost their statistical significance after re-categorization of the dependent variable. The results indicate that racial/ ethnic disparities in health in Brazil may be deeper and more complex than expected.
Las revisiones bibliográficas recientes muestran que los estudios que analizan las disparidades etno-raciales en Brasil siguen siendo escasos. Es necesario un enfoque multinivel, debido a que el concepto de raza es una construcción social, y es susceptible de variar según la zona de residencia. El presente análisis incluyó a 2.697 personas de 145 municipios brasileños, separados por raza (blanco, negro y mestizos). Se ajustaron modelos multinivel, usando la inferencia bayesiana con métodos Markov Chain Monte Carlo. Después de incluir las variables demográficas, socioeconómicas y de acceso a la salud como controles, las personas identificadas como negros y mestizos tuvieron un odds ratio más elevado al juzgar su salud en términos negativos (OR = 1,71; IC95%: 1,24; 2,37 y OR = 1,37; 95%CI: 1,10; 1,71, respectivamente). Después de la recategorización de la variable dependiente, las disparidades etno-raciales perdieron significación estadística. Los resultados indican que las disparidades etno-raciales en salud en Brasil pueden ser más complejas y profundas de lo esperado.
Assuntos
Adulto , Feminino , Humanos , Masculino , Pessoa de Meia-Idade , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Disparidades nos Níveis de Saúde , Acessibilidade aos Serviços de Saúde/estatística & dados numéricos , Autorrelato , Brasil , Análise Multinível , Fatores SocioeconômicosRESUMO
OBJETIVO: Analizar la asociación entre el área geográfica de procedencia en el uso de las citologías y la mamografía. MÉTODOS: Los datos analizados proceden Encuesta Nacional de Salud de España-2006 dirigida a población mayor de 16 años. La Encuesta incluye 13.422 mujeres. Las variables dependientes fueron realización de una mamografía y de una citología vaginal, ambos en los últimos 12 meses. La medida de asociación fue el odds ratio con intervalo de confianza al 95 por ciento calculado por regresión logística. RESULTADOS: Tomando como referencia la población española, la probabilidad de realizarse una mamografías entre las mujeres procedentes de África fue 0,36 (IC95 por ciento 0,21;0,62) veces menor; Europa del Este 0,40 (IC95 por ciento 0,22;0,74) veces menor; Europa Occidental, EEUU y Canadá, 0,60 (IC95 por ciento 0,43; 0,84) veces menor y América Central / Sur 0,64 (IC95 por ciento 0,52;0,81) veces menor. En relación a la prevención de cáncer de cervix, probabilidad de realizarse una citología entre las mujeres Europa del Este fue 0,38 (IC95 por ciento 0,28;0,50) veces menor que la población española, África 0,47 (IC95 por ciento:0,33;0,67) veces menor y Europa Occidental, EEUU y Canadá 0,61 (IC95 por ciento 0,46;0,81) veces menor. Dichas asociaciones fueron independientes de la edad, indicadores socioeconómicos, estado de salud y cobertura sanitaria. CONCLUSIONES: Las mujeres inmigrantes hacen menor uso de los programas de cribado que las mujeres autóctonas. Este dato podría reflejar dificultades de acceso a los programas preventivos.
OBJECTIVE: To assess the association between geographic origin and the use of screening cervical smears and mammograms. METHODS: Data was obtained from the 2006 Spanish National Health Survey that included 13,422 females over 16 years of age. The dependent variable was use of screening mammograms and cervical smears in the past 12 months. The measure of association (odds ratio and its related 95 percent confidence interval) was estimated using logistic regression. RESULTS: African women were 0.36 (95 percent CI 0.21,0.62), Eastern European 0.40 (95 percentCI 0.22;0.74), Western European, American and Canadian 0.60 (95 percentCI 0.43,0.84), and Central and South American 0.64 times (95 percentCI 0.52, 0.81) less likely to undergo a mammogram compared with the general population of Spain. In regard to cervical cancer screening, Eastern European women were 0.38 (95 percentCI 0.28,0.50), African 0.47 (95 percentCI 0.33,0.67) and Western European, American and Canadian 0.61 times (95 percentCI 0.46, 0.81) less likely to undergo cervical smears. These associations were independent of age, socioeconomic condition, health status and health insurance coverage. CONCLUSIONS: Immigrant women use less screening programs than native Spanish women. This finding may suggest difficult access to prevention programs.
Assuntos
Adulto , Idoso , Feminino , Humanos , Adulto Jovem , Neoplasias da Mama/diagnóstico , Demografia , Mamografia , Programas de Rastreamento , Neoplasias do Colo do Útero/diagnóstico , Esfregaço Vaginal , Distribuição por Idade , Neoplasias da Mama/prevenção & controle , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Detecção Precoce de Câncer , Emigração e Imigração/estatística & dados numéricos , Acessibilidade aos Serviços de Saúde , Programas Nacionais de Saúde/estatística & dados numéricos , Fatores Socioeconômicos , Espanha , Neoplasias do Colo do Útero/prevenção & controleRESUMO
OBJETIVO: Descrever a evolução da mortalidade por homicídios no Município de São Paulo segundo tipo de arma, sexo, raça ou cor, idade e áreas de exclusão/inclusão social entre 1996 e 2008. MÉTODOS: Estudo ecológico de série temporal. Os dados sobre óbitos ocorridos no Município foram coletados da base de dados do Programa de Aprimoramento das Informações sobre Mortalidade, seguindo a Classificação Internacional de Doenças, Décima Revisão (CID-10). Foram calculadas as taxas de mortalidade por homicídio (TMH) para a população total, por sexo, raça ou cor, faixa etária, tipo de arma e área de exclusão/inclusão social. As TMH foram padronizadas por idade pelo método direto. Foram calculados os percentuais de variação no período estudado. Para as áreas de exclusão/inclusão social foram calculados os riscos relativos de morte por homicídio. RESULTADOS: As TMH apresentaram queda de 73,7 por cento entre 2001 e 2008. Foi observada redução da TMH em todos os grupos analisados, mais pronunciada em homens (-74,5 por cento), jovens de 15 a 24 anos (-78,0 por cento) e moradores de áreas de exclusão social extrema (-79,3 por cento). A redução ocorreu, sobretudo, nos homicídios cometidos com armas de fogo (-74,1 por cento). O risco relativo de morte por homicídio nas áreas de exclusão extrema (tendo como referência áreas com algum grau de exclusão social) foi de 2,77 em 1996, 3,9 em 2001 e 2,13 em 2008. Nas áreas de alta exclusão social, o risco relativo foi de 2,07 em 1996 e 1,96 em 2008. CONCLUSÕES: Para compreender a redução dos homicídios no Município, é importante considerar macrodeterminantes que atingem todo o Município e todos os subgrupos populacionais e microdeterminantes que atuam localmente, influenciando de forma diferenciada os homicídios com armas de fogo e os homicídios na população jovem, no sexo masculino e em residentes em áreas de alta exclusão social.
OBJECTIVE: To describe homicide mortality in the municipality of São Paulo according to type of weapon, sex, race or skin color, age, and areas of socioeconomic inequalities, between 1996 and 2008. METHOD: For this ecological time-series study, data about deaths in the municipality of São Paulo were collected from the municipal program for improvement of mortality information, using International Classification of Diseases, 10th revision (ICD-10) codes. Homicide mortality rates (HMR) were calculated for the overall population and specifically for each sex, race or skin color, age range, type of weapon, and occurrence in social deprivation/affluence areas. HMR were adjusted for age using the direct method. The percentage age of variation in HMR was calculated for the study period. For areas of socioeconomic inequalities, the relative risk of death from homicide was calculated. RESULTS: HMR fell 73.7 percent between 2001 and 2008. A reduction in HMR was observed in all groups, especially males (-74.5 percent), young men between 15 and 24 years of age (-78.0 percent), and residents in areas of extreme socioeconomic deprivation (-79.3 percent). The reduction occurred mostly in firearm homicide rates (-74.1 percent). The relative risk of death from homicide in areas of extreme socioeconomic deprivation, as compared to areas with some degree of socioeconomic deprivation, was 2.77 in 1996, 3.9 in 2001, and 2.13 in 2008. In areas of high socioeconomic deprivation, the relative risk was 2.07 in 1996 and 1.96 in 2008. CONCLUSIONS: To understand the reduction in homicide rates in the municipality of São Paulo, it is important to take into consideration macrodeterminants that affect the entire municipality and all population subgroups, as well as micro/local determinants that have special impact on homicides committed with firearms and on subgroups such as the young, males, and residents of areas of high socioeconomic deprivation.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adolescente , Adulto , Adulto Jovem , Homicídio/tendências , População Urbana/estatística & dados numéricos , Brasil , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Carência Cultural , Etnicidade/estatística & dados numéricos , Armas de Fogo/estatística & dados numéricos , Homicídio/estatística & dados numéricos , Áreas de Pobreza , Carência Psicossocial , Estudos Retrospectivos , Risco , Fatores Socioeconômicos , Armas/estatística & dados numéricosRESUMO
OBJETIVO: As mortes por causas externas representam um dos mais importantes desafios para a saúde pública, sendo a segunda causa de óbito no Brasil. O objetivo do estudo foi analisar os diferenciais de mortalidade por causas externas segundo raça/cor da pele. MÉTODOS:Estudo descritivo realizado em Salvador (BA), com 9.626 registros de óbitos por causas externas entre 1998 e 2003. Dados foram obtidos do Instituto Médico Legal e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O indicador "anos potenciais de vida perdidos" foi utilizado para identificar diferenciais entre grupos etários, de raça/cor da pele e sexo. RESULTADOS: As mortes por causas externas determinaram perda de 339.220 anos potenciais de vida, dos quais 210.000 foram devidos aos homicídios. Indivíduos negros morreram em idades mais precoces e perderam 12,2 vezes mais anos potenciais de vida devido a mortes por homicídio que indivíduos brancos. Embora a população negra (pardos e pretos) fosse três vezes maior que a população branca, o número de anos perdidos daquela foi 30 vezes superior. A população de pretos era 11,4% menor que a população branca, mas apresentou anos perdidos quase três vezes mais. Mesmo após a padronização por idade, mantiveram-se as diferenças observadas no indicador de anos potenciais perdidos/100.000 hab e nas razões entre estratos segundo raça/cor. CONCLUSÕES: Os resultados mostram diferenciais na mortalidade por causas externas segundo raça/cor da pele em Salvador. Os negros tiveram maior perda de anos potenciais de vida, maior número médio de anos não vividos e morreram, em média, em idades mais precoces por homicídios, acidentes de trânsito e demais causas externas.
OBJECTIVE: Deaths by external causes represent one of the most important challenges for public health and are the second cause of death in Brazil. The aim of this study was to analyze differentials in mortality by external causes according to race/skin color. METHODS: A descriptive study was carried out in Salvador, Northeastern Brazil, using 9,626 cases of deaths by external causes between 1998 and 2003. Data were obtained from the Forensic Medicine Institute and from Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Brazilian Institute of Geography and Statistics). The indicator "potential years of life lost" was utilized to identify the existence of differences among age groups, sex groups and race/skin color groups. RESULTS:Deaths by external causes provoked the loss of 339,220 potential years of life, of which 210,000 were due to homicides. Nonwhite individuals died at earlier ages and lost 12.2 times as much potential years of life due to deaths by homicidies than white individuals. Although the nonwhite (black and mixed) population was three times larger than the white population, its number of potential years of life lost was 30 times higher. The population of blacks was 11.4% smaller than the white population, but its loss of potential years of life was almost three times higher. Even after the adjustment for age, the differences observed in the indicator potential years of life lost/100,000 inhabitants and in the ratios between strata according to race/skin color were maintained. CONCLUSIONS: The results showed differentials in mortality by external causes according to race/skin color in Salvador. The nonwhite population had greater loss of potential years of life, higher average number of years not lived and, on average, they died at an earlier age due to homicides, traffic accidents an all other external causes.
OBJETIVO: Las muertes por causas externas representan uno de los más importantes desafíos para la salud pública, siendo la segunda causa de óbito en Brasil. El objetivo del estudio fue analizar los diferenciales de mortalidad por causas externas según raza/color de la piel. MÉTODOS: Se realizó estudio descriptivo en Salvador, BA, con 9.626 registros de óbitos por causas externas entre 1998 y 2003. Los datos se obtuvieron del Instituto Médico Legal e Instituto Brasilero de Geografía y Estadística. El indicador "años potenciales de vida perdidos" fue utilizado para identificar diferenciales entre grupos erarios, de raza/color de la piel y sexo. RESULTADOS: Las muertes por causas externas determinaron pérdida de 339.220 años potenciales de vida, de los cuales 210.000 fueron debidos a los homicidios. Individuos negros murieron en edades más precoces y perdieron 12,2 veces más años potenciales de vida debido a homicidios que individuos blancos. A pesar de que la población negra (pardos y negros) era tres veces mayor que la población blanca, el número de años perdidos de la primera fue 30 veces superior. La población de negros era 11,4% menor que la población blanca, pero presentó años perdidos casi tres veces mayor. Aún después de la estandarización por edad, se mantuvo las diferencias observadas en el indicador de años potenciales perdidos/100.000 hab y en las razones entre estratos según raza/color. CONCLUSIONES: Los resultados muestran diferenciales en la mortalidad por causas externas según raza/color de la piel en Salvador. Los negros tuvieron mayor pérdida de años potenciales de vida, mayor número promedio de años no vividos y murieron, en promedio, en edades más precoces por homicidios, accidentes de tránsito y demás causas externas.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Expectativa de Vida , Ferimentos e Lesões/mortalidade , Acidentes de Trânsito/mortalidade , Brasil/epidemiologia , Brasil/etnologia , Causas de Morte , Grupos Raciais/etnologia , Homicídio/etnologia , Homicídio/estatística & dados numéricos , Tábuas de Vida , Ferimentos e Lesões/etnologiaRESUMO
OBJETIVO: Caracterizar o perfil de indivíduos que não obtiveram o procedimento de contracepção cirúrgica e fatores associados. MÉTODOS: Estudo transversal realizado em Ribeirão Preto (SP), em 2004, com 230 indivíduos que não obtiveram cirurgia de esterilização no período de 1999 a 2004 pelo Sistema Único de Saúde. Foi aplicado um questionário com informações sociodemográficas, uso de métodos anticoncepcionais e aspectos da esterilização e desejo de esterilizar-se no futuro. Foram comparadas as variáveis sexo, idade, religião, renda per capita, estado marital e escolaridade do total dos que não obtiveram o procedimento com 297 indivíduos esterilizados. RESULTADOS: Dos 230 entrevistados 21,3% eram homens e 78,7% mulheres. A maioria era casada, branca, católica e tinha pelo menos quatro anos de estudo. A renda per capita mediana mensal foi R$ 140,00. Dos entrevistados, 23 (10%) tinham expectativa de fazer a cirurgia. Os restantes 207 foram classificados em dois grupos: 71% decidiram adiar cirurgia e 29% encontraram obstáculos no acesso à esterilização. O segundo grupo foi associado a ser mulher, jovem e negra. Após regressão logística, ser negro foi o único fator que se manteve associado à não-obtenção da esterilização. Ao comparar com o grupo dos que obtiveram o procedimento, pertencer ao sexo feminino, ser de maior idade, ter como religião a evangélica e ser solteiro estiveram associados à não obtenção da esterilização, enquanto maior renda e maior escolaridade favoreceram o acesso. CONCLUSÕES: Poucos indivíduos estudados não tiveram acesso à esterilização, sobretudo por terem adiado esse procedimento e uma menor parcela teve obstáculos institucionais. Os negros encontraram mais barreiras que os brancos.
OBJECTIVE: To characterize the profile of individuals who were unable to obtain the surgical contraception procedure, and associated factors. METHODS: This was a cross-sectional study conducted in Ribeirão Preto (Southeastern Brazil) in 2004, on 230 individuals who were unable to obtain sterilization surgery through the National Health System between 1999 and 2004. A questionnaire on sociodemographic information, use of contraceptive methods, aspects of sterilization and desire to undergo sterilization in the future was applied. The variables of sex, age, religion, per capita income, marital status and schooling level were compared between the total number of individuals who were unable to obtain this procedure and 297 individuals who were sterilized. RESULTS: Among the 230 interviewees, 21.3% were men and 78.7% were women. Most of them were married, white and Catholic and had had at least four years of schooling. The median monthly per capita income was R$ 140.00. Twenty-three of them (10%) had hopes of undergoing the operation. The remaining 207 were classified in two groups: 71% had decided to postpone the operation and 29% had faced obstacles in relation to gaining access to sterilization. The latter group was associated with being female, young and black. After logistic regression, being black was the only factor that remained associated with inability to obtain sterilization. Comparison with individuals who were able to obtain the procedure showed that being female, older, evangelical and single were associated with inability to obtain sterilization, while higher income and schooling levels favored access. CONCLUSIONS: Few of the individuals studied had not had access to sterilization. Most had postponed the procedure and a smaller proportion had encountered institutional obstacles. Blacks encountered more barriers than whites did.
OBJETIVO: Caracterizar el perfil de individuos que no obtuvieron el procedimiento de contracepción quirúrgica y factores asociados. MÉTODOS: Estudio transversal realizado en Ribeirão Preto (Sureste de Brasil), en 2004, con 230 individuos que no obtuvieron cirugía de esterilización en el período de 1999 a 2004 por el Sistema Único de Salud. Fue aplicado un cuestionario con informaciones sociodemográficas, uso de métodos anticonceptivos y aspectos de la esterilización y deseo de esterilizarse en el futuro. Fueron comparadas las variables sexo, edad, religión, renta per capita, estado marital y escolaridad del total de los que no obtuvieron el procedimiento con 297 individuos esterilizados. RESULTADOS: De los 230 entrevistados 21,3% eran hombres y 78,7% mujeres. La mayoría era casada, blanca, católica y tenía por lo menos cuatros años de estudio. La renta per capita mediana mensual fue R$ 140,00. De los entrevistados, 23 (10%) tenían expectativa de hacer la cirugía. Los restantes 207 fueron clasificados en dos grupos: 71% decidieron posponer la cirugía y 29% encontraron obstáculos en el acceso a la esterilización. El segundo grupo fue asociado a ser mujer, joven y negra. Posterior a la regresión logística, ser negro fue el único factor que se mantuvo asociado a la no obtención de la esterilización. Al comparar con el grupo de los que obtuvieron el procedimiento, pertenecer al sexo femenino, ser mayor de edad, tener como religión la evangélica y ser soltero estuvo asociado a la no obtención de la esterilización, mientras que mayor renta y mayor escolaridad favorecieron el acceso. CONCLUSIONES: Pocos individuos estudiados no tuvieron acceso a la esterilización, sobretodo por haber pospuesto ese procedimiento y una menor parcela tuvo obstáculos institucionales. Los negros encontraron más barreras que los blancos.
Assuntos
Adulto , Feminino , Humanos , Masculino , Adulto Jovem , Acessibilidade aos Serviços de Saúde/estatística & dados numéricos , Programas Nacionais de Saúde , Esterilização Reprodutiva/estatística & dados numéricos , Brasil , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Estudos Transversais , Demografia , Escolaridade , Modelos Logísticos , Fatores Socioeconômicos , Adulto JovemRESUMO
OBJETIVOS: Determinar a incidência do glaucoma agudo primário no Serviço de Glaucoma do Hospital São Geraldo; estabelecer o perfil destes pacientes e identificar possíveis fatores de risco. MÉTODOS: Estudo transversal. Período de análise: setembro/2005 a agosto/2006. Inclusão: diagnóstico de glaucoma agudo primário. Exclusão: presença de catarata que acarrete baixa acuidade visual ou miopização, glaucomas secundários, íris em platô. Foram avaliados: número de atendimentos, incidência de glaucoma agudo primário, idade, sexo, raça, história familiar de glaucoma, ceratometria, e dados biométricos. RESULTADOS: Dentre 879 pacientes atendidos, 20 (2,3 por cento) tiveram o diagnóstico de glaucoma agudo primário, desse modo, a incidência de glaucoma agudo primário foi de 22,7 por 1000 atendimentos. Dos pacientes com glaucoma agudo primário: 6 (30,0 por cento) eram do sexo masculino e 14 (70,0 por cento) feminino; a idade variou de 40 a 73 anos (média: 60,4 ± 8,1 anos); 12 (60,0 por cento) eram leucodérmicos e 8 (40,0 por cento) feodérmicos; 5 (25,0 por cento) com história familiar positiva para glaucoma. O risco relativo para o sexo feminino foi de 1,44 (IC 95 por cento). Onze (55,0 por cento) pacientes tiveram glaucoma agudo primário no olho direito e 9 (45,0 por cento) no esquerdo. Não houve diferença estatisticamente significativa na comparação dos parâmetros biométricos e ceratometria entre os olhos afetados e os contralaterais. CONCLUSÕES: A incidência de glaucoma agudo primário no Serviço de Glaucoma do Hospital São Geraldo foi de 22,7 por 1000 atendimentos, sendo mais freqüente em mulheres, leucodérmicas, com história familiar negativa para glaucoma e média de idade de 60,4 anos. Os olhos afetados e olhos contralaterais foram semelhantes nos parâmetros biométricos.
PURPOSE: To determine the incidence of the primary angle-closure glaucoma at the Glaucoma Service of São Geraldo Hospital, to establish the profile of these patients and to identify the possible risk factors. METHODS: Transversal study. Period of assessment: from September/2005 to August/2006. Inclusion criteria: diagnosis of primary angle-closure glaucoma. Exclusion criteria: presence of cataracts that cause low visual acuity or index-myopia, secondary glaucoma, plateau iris. Number of visits, incidence of primary angle-closure glaucoma, age, gender, race, family history of glaucoma, keratometric, and biometric data were assessed. RESULTS: Of 879 attended patients, 20 (2.3 percent) had the diagnosis of primary angle-closure glaucoma, therefore, the incidence of the primary angle-closure glaucoma was 22.7 cases per 1000 attended. Of those patients with primary angle-closure glaucoma: 6 (30.0 percent) were men and 14 (70.0 percent) women; the age varied from 40 to 73 years (average: 60.4 ± 8.1 years); 12 (60.0 percent) were leukodermics and 8 (40.0 percent) pheodermics; 5 (25.0 percent) with positive familiar history of glaucoma. The relative risk for women was 1.44 (95 percent IC). Eleven (55.0 percent) patients had primary angle-closure glaucoma of the right eye and 9 (45.0 percent) of the left. When biometric data and keratometry were compared between the affected and contralateral eye, no statistical significant difference was observed. CONCLUSIONS: The incidence of the primary angle-closure glaucoma at the Glaucoma Service of São Geraldo Hospital was 22.7 cases per 1000 attended. It was more frequent in leukodermic women, without family history of glaucoma and with an average age of 60.4 years. The affected and contralateral eyes were biometrically similar.
Assuntos
Adulto , Idoso , Feminino , Humanos , Masculino , Pessoa de Meia-Idade , Glaucoma de Ângulo Fechado/epidemiologia , Brasil/epidemiologia , Estudos de Casos e Controles , Estudos Transversais , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Características da Família , Glaucoma de Ângulo Fechado/etiologia , Hospitais , Incidência , Fatores de RiscoRESUMO
Stroke mortality rates have a discrepant distribution according to socioeconomic variables as social exclusion in Brazil. Recently, data from race has been available from the official health statistics considering five categories: White, Mixed, Black, Asian and Native. We addressed in the city of São Paulo, Brazil, an analysis of cerebrovascular mortality according to race (excluding Asian and Native due to small number of events) and gender during 1999-2001 for people aged 30 to 79 years-old. For all cerebrovascular diseases, age-adjusted mortality rates (x 100,000) for men were higher for Black (150.2), intermediate for Mixed (124.2) and lower for White (104.5) people. These gradient patterns were similar for all stroke subtypes, except for subarachnoideal hemorrhage in which no differences were detected. For women, the rates were lower compared to men and the same pattern was observed among Black (125.4), Mixed (88.5) and White (64.1) women. Compared to White men, the risk ratio of Black men was 1.4. However, compared to White women, the risk ratio for Black women was 2.0. Concluding, there is a significant gradient of stroke mortality according to race, mainly among women.
As taxas de mortalidade pela doença cerebrovascular apresentam distribuição diferenciada de acordo com variáveis socioeconômicas. Informação sobre raça é nova no sistema de informação de mortalidade do Ministério da Saúde. Na cidade de São Paulo foi verificada entre três categoria de raça - branca, parda e negra - a taxa específica de mortalidade nos anos de 1999-2001 para pessoas entre 30 e 79 anos. Para o conjunto das doenças cerebrovasculares as taxas de mortalidade ajustadas para idade (x 100.000) para homens foram maiores entre os negros (150,2), intermediária para os pardos (124,2) e menor para brancos (104,5). Esse gradiente foi o mesmo para todos os subtipos, excluindo a hemorragia subaracnoídea. Para as mulheres, as taxas foram menores quando comparada aos homens e, o mesmo padrão foi observado para negras (125,4), pardas (88,5) e brancas (64,1). A razão de risco para homens negros quando comparado aos brancos foi 1.4, mas entre as mulheres negras e as brancas foi o dobro. Concluindo, houve um gradiente significativo da mortalidade cerebrovascular de acordo com raça, principalmente entre mulheres.
Assuntos
Adulto , Idoso , Feminino , Humanos , Masculino , Pessoa de Meia-Idade , Transtornos Cerebrovasculares/mortalidade , Brasil/epidemiologia , Causas de Morte , Transtornos Cerebrovasculares/classificação , Transtornos Cerebrovasculares/etnologia , Grupos Raciais/estatística & dados numéricos , Distribuição por Sexo , Fatores SocioeconômicosRESUMO
O objetivo é desenvolver estudo para investigar a viabilidade de inclusão de indicadores de gênero e raça no PPA 2008-2011 que sirvam para o monitoramento dos programas e políticas implementados que tenham como objetivo na ação a diminuição das desigualdades sociais, principalmente desigualdades de gênero e raça. Adicionalmente, a partir da elaboração destes estudos, se buscará algumas estratégias de atuação política, a curto, médio e em longo prazo, que devem ser adotadas frente aos Poderes Executivo e Legislativo Federais para a inclusão de indicadores no PPA 2008-2011.