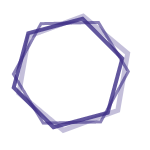RESUMO
Abstract Background: The cardiovascular risk burden among diverse indigenous populations is not totally known and may be influenced by lifestyle changes related to the urbanization process. Objectives: To investigate the cardiovascular (CV) mortality profile of indigenous populations during a rapid urbanization process largely influenced by governmental infrastructure interventions in Northeast Brazil. Methods: We assessed the mortality of indigenous populations (≥ 30 y/o) from 2007 to 2011 in Northeast Brazil (Bahia and Pernambuco states). Cardiovascular mortality was considered if the cause of death was in the ICD-10 CV disease group or if registered as sudden death. The indigenous populations were then divided into two groups according to the degree of urbanization based on anthropological criteria:9,10 Group 1 - less urbanized tribes (Funi-ô, Pankararu, Kiriri, and Pankararé); and Group 2 - more urbanized tribes (Tuxá, Truká, and Tumbalalá). Mortality rates of highly urbanized cities (Petrolina and Juazeiro) in the proximity of indigenous areas were also evaluated. The analysis explored trends in the percentage of CV mortality for each studied population. Statistical significance was established for p value < 0.05. Results: There were 1,333 indigenous deaths in tribes of Bahia and Pernambuco (2007-2011): 281 in Group 1 (1.8% of the 2012 group population) and 73 in Group 2 (3.7% of the 2012 group population), CV mortality of 24% and 37%, respectively (p = 0.02). In 2007-2009, there were 133 deaths in Group 1 and 44 in Group 2, CV mortality of 23% and 34%, respectively. In 2009-2010, there were 148 deaths in Group 1 and 29 in Group 2, CV mortality of 25% and 41%, respectively. Conclusions: Urbanization appears to influence increases in CV mortality of indigenous peoples living in traditional tribes. Lifestyle and environmental changes due to urbanization added to suboptimal health care may increase CV risk in this population.
Resumo Fundamento: O risco cardiovascular das diversas comunidades indígenas não está bem estabelecido e pode ser influenciado pelo processo de urbanização a que se submetem esses povos. Objetivos: Investigar o perfil da mortalidade cardiovascular (CV) das populações indígenas durante o rápido processo de urbanização altamente influenciado por intervenções governamentais de infraestrutura no Nordeste do Brasil. Métodos: Avaliamos a mortalidade de populações indígenas (≥ 30 anos) do Vale do São Francisco (Bahia e Pernambuco) no período de 2007-2011. Considerou-se mortalidade CV se a causa de morte constasse no grupo de doenças CV do CID-10 ou se tivesse sido registrada como morte súbita. As populações indígenas foram divididas em dois grupos conforme o grau de urbanização baseado em critérios antropológicos: Grupo 1 - menos urbanizadas (Funi-ô, Pankararu, Kiriri e Pankararé); e Grupo 2 - mais urbanizadas (Tuxá, Truká e Tumbalalá). Taxas de mortalidade de cidades altamente urbanizadas (Petrolina e Juazeiro) nas proximidades das áreas indígenas foram também avaliadas. A análise explorou tendências na porcentagem de mortalidade CV para cada população estudada. Adotou-se o valor de p < 0,05 como significância estatística. Resultados: Houve 1.333 mortes indígenas nas tribos da Bahia e de Pernambuco (2007-2011): 281 no Grupo 1 (1,8% da população de 2012) e 73 no Grupo 2 (3,7% da população de 2012), mortalidade CV de 24% e 37%, respectivamente (p = 0,02). Entre 2007 e 2009, houve 133 mortes no Grupo 1 e 44 no Grupo 2, mortalidade CV de 23% e 34%, respectivamente. Entre 2009 e 2010, houve 148 mortes no Grupo 1 e 29 no Grupo 2, mortalidade CV de 25% e 41%, respectivamente. Conclusões: A urbanização parece influenciar os aumentos de mortalidade CV dos povos indígenas vivendo de modo tradicional. Mudanças no estilo de vida e ambientais devidas à urbanização somadas à subótima atenção à saúde podem estar implicadas no aumento do risco CV nos povos indígenas.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Pessoa de Meia-Idade , Idoso , Urbanização/tendências , Doenças Cardiovasculares/etnologia , Doenças Cardiovasculares/mortalidade , Indígenas Sul-Americanos/estatística & dados numéricos , Fatores de Tempo , População Urbana/tendências , População Urbana/estatística & dados numéricos , Brasil/etnologia , Fatores de Risco , Causas de Morte , Distribuição por Idade , Estilo de VidaRESUMO
O acesso à saúde é uma importante dimensão das desigualdades entre áreas urbanas e rurais. O acesso é menor nas áreas rurais em função da maior vulnerabilidade social de sua população e das maiores dificuldades de acesso que seus grupos sociais estão submetidos. A partir de dados do suplemento de saúde da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, foram analisados os determinantes do acesso e das diferenças entre áreas urbanas e rurais nos anos de 1998 a 2008. A análise dos determinantes do acesso aos serviços de saúde foi realizada pelo modelo de regressão logística binária. As diferenças entre áreas urbanas e rurais foram decompostas em fatores observáveis (fatores de capacitação, necessidade e predisposição) e não observáveis (oferta e dificuldade de acesso). Os resultados destacam que a desigualdade de acesso é elevada e maior nas áreas rurais. Os fatores de necessidade são determinantes fundamentais do acesso à saúde, enquanto que os fatores de capacitação são mais importantes para explicar as diferenças entre as áreas urbanas e rurais. A tênue redução das diferenças no período se deveu fundamentalmente a mudanças na composição da população rural.
Access to healthcare is an important dimension of inequalities between urban and rural areas. Access is lower in rural areas due to the population's greater social vulnerability and greater difficulties in access among its social groups. Based on data from the health supplement of the Brazilian National Household Sample Survey, we analyzed the determinants of access and differences between urban and rural areas from 1998 to 2008. The analysis of determinants of access to health services used binary logistic regression. Differences between urban and rural areas were disaggregated as observable factors (enabling, need, and predisposing) and non-observable factors (supply and difficulty in access). The results highlight that inequality in access is higher in rural areas. Need factors are fundamental determinants of access to health, while enabling factor are more important for explaining the differences between urban and rural areas. The slight reduction in differences during the period was due mainly to changes in the rural population's composition.
El acceso a la salud es una importante dimensión de las desigualdades entre áreas urbanas y rurales. El acceso es menor en las áreas rurales, en función de una mayor vulnerabilidad social de su población y de las mayores dificultades de acceso a la que están sometidos sus grupos sociales. A partir de los datos del suplemento de salud de la Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios, se analizaron los determinantes de acceso y diferencias entre áreas urbanas y rurales, desde el año 1998 a 2008. El análisis de los determinantes de acceso a los servicios de salud se realizó mediante un modelo de regresión logística binaria. Las diferencias entre áreas urbanas y rurales se dividieron en factores observables (factores de capacitación, necesidad y predisposición) y no observables (oferta y dificultad de acceso). Los resultados destacan que la desigualdad de acceso es elevada y superior en las áreas rurales. Los factores de necesidad son determinantes fundamentales del acceso a la salud, mientras que los factores de capacitación son más importantes para explicar las diferencias entre áreas urbanas y rurales. La tenue reducción de las diferencias en el período se debió fundamentalmente a cambios en la composición de la población rural.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adulto , Pessoa de Meia-Idade , Adulto Jovem , Serviços Urbanos de Saúde/estatística & dados numéricos , Serviços de Saúde Rural/estatística & dados numéricos , Disparidades em Assistência à Saúde/estatística & dados numéricos , Acessibilidade aos Serviços de Saúde/estatística & dados numéricos , População Rural/tendências , População Rural/estatística & dados numéricos , Fatores Socioeconômicos , Fatores de Tempo , População Urbana/tendências , População Urbana/estatística & dados numéricos , Brasil , Modelos Logísticos , Distribuição por Sexo , Distribuição por Idade , Serviços Urbanos de Saúde/tendências , Populações Vulneráveis/estatística & dados numéricosRESUMO
El objetivo del presente trabajo consiste en indagar los niveles de calidad de vida de la población urbana en la Argentina entre 2003 y 2012, período signado por la implementación de un modelo de crecimiento denominado posconvertibilidad, neodesarrollismo o posneoliberalismo, para reconocer sus efectos en la evaluación del bienestar de sus habitantes. Con tal fin, se elabora un Índice de Calidad de Vida de implantación puntual aplicado a las ciudades donde se releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), cuyas bases de datos corresponden a 32 aglomerados urbanos. El análisis se complementa con la búsqueda de la asociación estadística entre niveles de calidad de vida y distribución del ingreso en las ciudades incorporadas a la consulta de la EPH. Por tanto, el análisis pretende contribuir al conocimiento de las disparidades socioterritoriales entre las aglomeraciones urbanas, en el marco de procesos sociales, económicos, políticos y culturales que prefigurarían cambios importantes en el bienestar de los hogares argentinos a lo largo de los últimos diez años. (AU)
Assuntos
Argentina , Qualidade de Vida , Salários e Benefícios/estatística & dados numéricos , Fatores Socioeconômicos , População Urbana/tendências , População Urbana/estatística & dados numéricos , Indicadores Econômicos , Indicadores de Qualidade de Vida , Área Urbana , Indicadores Demográficos , Indicadores Sociais , Enquete SocioeconômicaRESUMO
Avaliou-se a tendência temporal da prevalência de tabagismo conforme renda familiar, idade e sexo entre indivíduos com 20 anos ou mais residentes em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Cinco inquéritos de base populacional utilizando-se de setores censitários foram realizados na cidade entre 2002-2010. Considerou-se tabagismo o consumo de um ou mais cigarros por dia há pelo menos um mês. A tendência temporal foi avaliada por meio do teste de qui-quadrado para tendência linear. Os cinco inquéritos realizados incluíram 15.136 indivíduos. Neste período, a prevalência total de tabagismo caiu de 28 por cento (25,8-30,4) em 2002 para 21 por cento (19,5-23,5) em 2010. Esta queda de 23 por cento foi semelhante entre os sexos, mas muito diferente em relação à renda familiar. Quanto menor a renda familiar, maior a prevalência de tabagismo. Entre 2002-2010, a taxa de redução do tabagismo foi de 26 por cento no menor quintil de renda e de 39 por cento no maior. Apesar das reduções observadas, a prevalência de tabagismo ainda é elevada, indicando a necessidade de fortalecer medidas de controle voltadas principalmente aos indivíduos com menor renda.
This study evaluated time trends in smoking prevalence according to gender and family income among individuals 20 years or older in Pelotas, Rio Grande do Sul State, Brazil. Five population-based surveys using census tracts were conducted in the city from 2002 to 2010. Smoking was defined as consumption of one or more cigarettes per day for at least one month. Time trend was assessed using the chi-square test for linear trend. 15,136 individuals were enrolled in these surveys. During this period, overall smoking prevalence decreased from 28 percent (25.8-30.4) in 2002 to 21 percent (19.5-23.5) in 2010. This 23 percent decline was similar in both genders, but differed significantly according to family income (smoking prevalence increased as income dropped). From 2002 to 2010, smoking decreased by 26 percent in the lowest income quintile and 39 percent in the highest. Despite such reductions, smoking prevalence is still high, indicating the need to boost control measures, especially among low-income groups.
Assuntos
Adulto , Idoso , Feminino , Humanos , Masculino , Pessoa de Meia-Idade , Adulto Jovem , Fumar/epidemiologia , Fatores Etários , Brasil/epidemiologia , Escolaridade , Prevalência , Fatores Socioeconômicos , Fumar/tendências , População Urbana/estatística & dados numéricos , População Urbana/tendênciasRESUMO
Este artigo busca discutir as possíveis contribuições da análise demográfica para as políticas sociais de caráter urbano. Em particular, são apresentadas dez situações do processo de formulação de políticas sociais, nas quais a informação demográfica pode ter contribuições relevantes. Adicionalmente, são destacados dois outros aspectos importantes: o problema da desagregação espacial da informação; e a necessidade do recurso a sistemas de informação geográfica.
This article discusses potential contributions made by demographic analysis to urban public policies. Ten situations pertaining to social policy-making where demographic information may provide a substantial contribution are featured here. Additionally, two other important aspects are highlighted - namely, the issue of de-aggregating spatial information, and the need to use geographic information systems.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Sistemas de Informação Geográfica , Política Pública , População Urbana/tendências , Características de Residência , Brasil , Projetos de Infraestrutura , Política Pública , Sistemas de Informação Geográfica/tendências , Área UrbanaAssuntos
Humanos , Coeficiente de Natalidade , Dinâmica Populacional , Taxa de Gravidez/tendências , Mortalidade Infantil/tendências , Expectativa de Vida/tendências , População Rural/tendências , População Urbana/tendências , Previsões Demográficas , Migração Humana , Distribuição por Idade , Argentina , Brasil , Paraguai , Distribuição por Sexo , UruguaiRESUMO
Su objetivo principal es señalar las tendencias de la expansión urgana que puedan servir de orientación a los entes ligados al quehacer del desarrollo urbano de Lima, así como ilustrar a los especialistas y docentes en las ramas relacionadas a la planificación urbana y regional, aportando un análisis cuantitativo y cualitativo de los diferentes aspectos evaluados
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Demografia , Planejamento de Cidades/organização & administração , População Urbana/estatística & dados numéricos , População Urbana/tendências , PeruRESUMO
El análisis del consumo alimentario es una herramienta de gran importancia para el establecimiento de políticas y estrategias de seguridad alimentaria y nutrición en los diversos sectores de los países relacionados con el desarrollo social y económico. En América Latina existe una gran diversidad de patrones alimentarios, los que han sufrido cambios en las últimas décadas debido a múltiples factores. Entre éstos, se destacan principalmente los ingresos, la localización urbana o rural de las familias, el proceso de urbanización intensiva, la incorporación de servicios o componente terciario en la alimentación, y la publicidad. En general la Región presentó una tendencia a mejorar el consumo de energía y proteína hasta 1980, en que se vio afectada por la crisis económica. Cabe destacar que aunque no hubo una caída generalizada de la disponibilidad, se produjo una sustitución de fuentes de energía de mayor costos por otras más baratas. Entre los comienzos de las décadas del 60 y 90 se produjo una contribución creciente e importante de la energía aportada por los aceites y en menor grado por carnes y lácteos, ocurriendo lo inverso con las grasas de origen animal. Además aumentó la energía proveniente del arroz al igual que la del trigo, aunque la de este último tiende a bajar ligeramente en los últimos años. La energía suministrada por las leguminosas descendió para presentar últimamante un ligero repunte, en cambio la energía de raíces y tubérculos presentó una disminución progresiva. El modelo de consumo alimentario que está adoptando América Latina es el de los países desarrollados. Este patrón no es sustentable desde el punto de vista energético, al menos si se pretende su generalización en términos de equidad para toda la población.