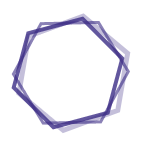RESUMO
RESUMO Objetivo construir e validar conteúdo de instrumento para avaliação socioestrutural e comportamental associado à infecção pelo HIV em jovens. Método estudo metodológico, desenvolvido em duas etapas: elaboração do instrumento; e validação de conteúdo. Os itens que compuseram o instrumento foram selecionados através de revisão literária, tendo como referencial os domínios multiníveis do Modelo Social Ecológico Modificado, categorizados em componentes socioestruturais e comportamentais. O conteúdo foi avaliado por especialistas em duas rodadas conduzidas pela técnica Delphi, admitindo-se um índice de concordância de, no mínimo, 80%. Resultados a primeira versão do instrumento continha 52 itens, distribuídos em três domínios. Na primeira rodada, 19 itens (36,5%) obtiveram Índice de Validade de Conteúdo inferior a 0,80, dois itens foram excluídos e os demais foram reformulados. Na segunda rodada, 2 itens foram excluídos e 3 foram incorporados como subitem, totalizando 45 itens. O Índice de Validade de Conteúdo do Instrumento foi de 95%. Conclusão e implicações para a prática as recomendações dos especialistas contribuíram para a qualificação do instrumento Avaliação Socioestrutural e Comportamental-HIV, possibilitando a reorganização do conteúdo. O instrumento é válido para a identificação de fatores socioestruturais e comportamentais associados à infecção pelo HIV em jovens, com potencial para constituir planejamento de cuidados preventivos.
RESUMEN Objetivo construir y validar el contenido de un instrumento de evaluación socioestructural y conductual asociada a la infección por VIH en jóvenes. Método estudio metodológico, desarrollado en dos etapas: elaboración del instrumento; y validación de contenido. Los ítems que conformaron el instrumento fueron seleccionados a través de una revisión literaria, tomando como referencia los dominios multinivel del Modelo Ecológico Social Modificado, categorizados en componentes socioestructurales y conductuales. El contenido fue evaluado por expertos en dos rondas realizadas mediante la técnica Delphi, suponiendo una tasa de acuerdo de al menos el 80%. Resultados la primera versión del instrumento contuvo 52 ítems, distribuidos en tres dominios. En la primera ronda, 19 ítems (36,5%) tuvieron un Índice de Validez de Contenido inferior a 0,80, dos ítems fueron excluidos y el resto fueron reformulados. En la segunda ronda, se excluyeron 2 ítems y se incorporaron 3 como subítems, totalizando 45 ítems. El Índice de Validez de Contenido del Instrumento fue del 95%. Conclusión e implicaciones para la práctica las recomendaciones de los expertos contribuyeron para la calificación del instrumento Evaluación Socioestructural y del Comportamiento-VIH, permitiendo la reorganización del contenido. El instrumento es válido para identificar factores socioestructurales y conductuales asociados a la infección por VIH en jóvenes, con potencial para constituir una planificación de atención preventiva.
ABSTRACT Objective to construct and validate the content of an instrument for sociostructural and behavioral assessment associated with HIV infection in young people. Method a methodological study developed in two steps: instrument elaboration; and content validity. The items that made up the instrument were selected through a literary review using the Modified Social Ecological Model multilevel domains as a reference, categorized into sociostructural and behavioral components. Content was assessed by experts in two rounds conducted using the Delphi technique, assuming an agreement rate of at least 80%. Results the first version of the instrument contained 52 items, distributed across three domains. In the first round, 19 items (36.5%) had a Content Validity Index lower than 0.80, two items were excluded and the rest were reformulated. In the second round, 2 items were excluded and 3 were incorporated as subitems, totaling 45 items. The Instrument Content Validity Index was 95%. Conclusion and implications for practice experts' recommendations contributed qualifying the Sociostructural and Behavioral Assessment-HIV instrument, enabling content reorganization. The instrument is valid for identifying socio-structural and behavioral factors associated with HIV infection in young people, with the potential to constitute preventive care planning.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Adolescente , Adulto , Infecções por HIV/epidemiologia , HIV , Saúde do Adolescente , Populações Vulneráveis , Determinantes Sociais da Saúde , Análise MultinívelRESUMO
ABSTRACT Objectives. The study aims to assess the trend of neonatal, post-neonatal, and infant mortality from 1996 to 2020 within the metropolitan region of the state of Rio de Janeiro and other regions. Methods. Ecological study using the region as analysis unity. Data were accessed from the Mortality Information System and Live Birth Information System in the capital Rio de Janeiro, in the neighboring areas of Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, and the remaining regions of the state of Rio de Janeiro State. We applied Poisson multilevel modeling, where the models' response variables were infant mortality and its neonatal and post neonatal components. Fixed effects of the adjusted models were region and death year variables. Results. During the 1996-2020 period, the Baixada Fluminense showed the highest infant mortality rate as to its neonatal and post neonatal components. All adjusted models showed that the more recent the year the lower the mortality risk. Niterói showed the lowest adjusted risk of infant mortality and its neonatal and post neonatal components. Conclusion. Baixada Fluminense showed the highest mortality risk for infant mortality and its neonatal and post-neonatal components in the metropolitan region. The stabilization in mortality rates in recent years was identified by the research.
RESUMO Objetivos. Avaliar a tendência da mortalidade neonatal, pós-neonatal e infantil de 1996 a 2020, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e nas outras regiões. Métodos. Estudo ecológico utilizando regiões como unidade de análise. Os dados foram acessados no Sistema de Informações sobre Mortalidade e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos da Capital (Rio de Janeiro), dos territórios vizinhos (Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense) e das outras regiões do Estado do Rio de Janeiro. Utilizamos a modelagem multinível de Poisson, onde as variáveis de resposta dos modelos foram mortalidade infantil e seus componentes neonatal e pós-neonatal. Os efeitos fixos dos modelos ajustados foram região e ano da morte. Resultados. No período 1996-2020, a Baixada Fluminense apresentou a maior taxa de mortalidade infantil de seus componentes neonatal e pós-natal na região metropolitana. Todos os modelos ajustados mostraram que quanto mais recente o ano, menor o risco de mortalidade. O risco ajustado da mortalidade infantil e seus componentes neonatal e pós-neonatal foi menor em Niterói. Conclusão. A Baixada Fluminense apresentou o maior risco de mortalidade infantil e de seus componentes neonatal e pós-neonatal na região metropolitana. Detectamos estabilização das taxas de mortalidade nos últimos anos.
RESUMO
ABSTRACT Objectives: to investigate studies that adopted the multilevel analysis model to identify behavioral and structural risk factors associated with HIV infection. Methods: an integrative review of the literature with studies available in full, obtained from EMBASE, CINAHL, Pubmed, and Scopus, whose selected descriptors were the indexed terms: "HIV", "multilevel analysis" and "behavior". Results: the search resulted in 236 studies. Out of these, ten studies comprised the sample. Economic disadvantage, neighborhood characteristics, housing instability, incarceration, transactional sex, multiple partners, substance abuse, and age at first intercourse were classified as structural and behavioral risk factors for HIV. Reduced socioeconomic disadvantage, provision of housing stability, and condom use were associated with protective factors for HIV exposure. Conclusions: by applying the multilevel model in risk factor research studies, it was possible to identify the structural and behavioral elements of HIV risk.
RESUMEN Objetivos: investigar estudios que adoptaron el modelo del análisis multinivel para identificar los factores de riesgo comportamentales y estructurales asociados al VIH. Método: es una revisión bibliográfica integradora con estudios disponibles en su totalidad, obtenidos de las bases de datos EMBASE, CINAHL, Pubmed y Scopus, cuyos descriptores fueron los términos: "HIV", "multilevel analysis", "behavior". Resultados: diez artículos, de los 236 encontrados, formaron parte de la muestra. Desventajas económicas, características del vecindario, inestabilidad habitacional, encarcelamiento, sexo transaccional, parejas múltiples, abuso de sustancias y edad de la primera relación sexual se destacaron como factores de riesgo estructurales y comportamentales del VIH. La reducción de desventajas socioeconómicas, la provisión de estabilidad habitacional y el uso de preservativos están asociados a la protección contra el VIH. Conclusiones: al aplicar el modelo multinivel en los estudios de investigación de los factores de riesgo, fue posible identificar los elementos estructurales y comportamentales del riesgo del VIH.
RESUMO Objetivos: investigar estudos que adotaram o modelo de análise multinível na identificação de fatores de risco comportamentais e estruturais, que estão associados a infecção pelo HIV. Métodos: revisão integrativa da literatura com estudos disponíveis na íntegra, obtidos nas bases EMBASE, CINAHL, Pubmed e Scopus, cujos descritores selecionados foram os termos constantes: "HIV", "multilevel analysis", "behavior". Resultados: a pesquisa resultou em 236 artigos. Destes, dez artigos compuseram a amostra. Desvantagem econômica, características de vizinhança, instabilidade habitacional, encarceramento, sexo transacional, múltiplos parceiros, abuso de substâncias e idade da primeira relação sexual foram classificados como fatores de risco estruturais e comportamentais ao HIV. Redução da desvantagem socioeconômica, fornecimento de estabilidade habitacional e uso de preservativos foram associados a fatores de proteção à exposição ao HIV. Conclusões: com a aplicabilidade do modelo multinível nos estudos de investigação de fatores de risco, foi possível identificar os elementos estruturais e comportamentais de risco ao HIV.
RESUMO
Abstract: Although mortality from ischemic heart disease has declined over the past decades in Argentina, ischemic heart disease remains one of the most frequent causes of death. This study aimed to describe the role of individual and contextual factors on premature ischemic heart disease mortality and to analyze how educational differentials in premature ischemic heart disease mortality changed during economic fluctuations in two provinces of Argentina from 1990 to 2018. To test the relationship between individual (age, sex, and educational level) and contextual (urbanization, poverty, and macroeconomic variations) factors, a multilevel Poisson model was estimated. When controlling for the level of poverty at the departmental level, we observed inequalities in premature ischemic heart disease mortality according to the educational level of individuals, affecting population of low educational level. Moreover, economic expansion was related to an increase in ischemic heart disease mortality, however, expansion years were not associated with increasing educational inequalities in ischemic heart disease mortality. At the departmental level, we found no contextual association beween area-related socioeconomic level and the risk of ischemic heart disease mortality. Despite the continuing decline in ischemic heart disease mortality in Argentina, this study highlighted that social inequalities in mortality risk increased over time. Therefore, prevention policies should be more focused on populations of lower socioeconomic status in Argentina.
Resumen: Si bien la mortalidad por cardiopatía isquémica ha disminuido en las últimas décadas en Argentina, la cardiopatía isquémica sigue siendo una de las causas más frecuentes de muerte. Los objetivos de este estudio fueron describir el papel de los factores individuales y contextuales en la mortalidad prematura por cardiopatía isquémica y analizar cómo estos cambiaron las diferencias educativas en la mortalidad prematura por cardiopatía isquémica durante las variaciones económicas en dos provincias de Argentina durante el periodo 1990-2018. Para probar la relación entre los factores individuales (edad, género y nivel de educación) y contextuales (urbanización, pobreza y variaciones macroeconómicas), se estimó un modelo de Poisson multinivel. Controlando el nivel de pobreza en el ámbito departamental, se observaron desigualdades en la mortalidad prematura por cardiopatía isquémica según el nivel de educación de los individuos, lo que afecta a la población con bajo nivel de educación; la expansión económica se relacionó con el aumento de la mortalidad por cardiopatía isquémica; sin embargo, el periodo de expansión no estuvo asociado a aumentos de las desigualdades educativas en la mortalidad por cardiopatía isquémica. En el ámbito departamental no se detectó asociación entre el nivel socioeconómico de la área y el riesgo de mortalidad por cardiopatía isquémica. A pesar de la disminución continua de la mortalidad por cardiopatía isquémica en Argentina, este estudio destaca que las desigualdades sociales con relación al riesgo de mortalidad tuvieron un aumento con el tiempo. Por lo tanto, las políticas de prevención deberán dirigirse más a las poblaciones de menor nivel socioeconómico en Argentina.
Resumo: Embora a mortalidade por doença isquêmica do coração tenha diminuído nas últimas décadas na Argentina, a doença isquêmica do coração continua sendo uma das causas mais frequentes de morte. Os objetivos deste estudo foram descrever o papel de fatores individuais e contextuais na mortalidade prematura por doença isquêmica do coração e analisar como as diferenças educacionais na mortalidade prematura por doença isquêmica do coração mudaram durante as flutuações econômicas em duas províncias da Argentina durante o período 1990-2018. Para testar a relação entre fatores individuais (idade, sexo e escolaridade) e contextuais (urbanização, pobreza e variações macroeconômicas), estimou-se um modelo de Poisson multinível. Controlando o nível de pobreza no nível departamental, observaram-se desigualdades na mortalidade prematura por doença isquêmica do coração de acordo com o nível educacional dos indivíduos, afetando a população de baixa escolaridade; a expansão econômica esteve relacionada ao aumento da mortalidade por doença isquêmica do coração; no entanto, os anos de expansão não foram associados a aumentos nas desigualdades educacionais na mortalidade por doença isquêmica do coração. No nível departamental, não foi detectada uma associação contextual entre nível socioeconômico da área e risco de mortalidade por doença isquêmica do coração. Apesar do contínuo declínio da mortalidade por doença isquêmica do coração na Argentina, este estudo destaca que as desigualdades sociais em relação ao risco de mortalidade aumentaram ao longo do tempo. Portanto, as políticas de prevenção devem ser mais focadas nas populações de menor nível socioeconômico na Argentina.
RESUMO
Abstract This study aimed to analyze the role of period, geographic and socio demographic factors in cancer-related mortality by prostate, breast, cervix, colon, lung and esophagus cancer in Brazilians capitals (2000-2015). Ecological study using data of Brazilian Mortality Information. Multilevel Poisson models were used to estimate the adjusted risk of cancer mortality. Mortality rate levels were higher in males for colon, lung and esophageal cancers. Mortality rates were highest in the older. Our results showed an increased risk of colon cancer mortality in both sexes from 2000 to 2015, which was also evidenced for breast and lung cancers in women. In both genders, the highest mortality risk for lung and esophageal cancers was observed in Southern capitals. Midwestern, Southern and Southeastern capitals showed the highest mortality risk for colon cancer both for males and females. Colon cancer mortality rate increased for both genders, while breast and lung cancers mortality increased only for women. The North region showed the lowest mortality rate for breast, cervical, colon and esophageal cancers. The Midwest and Northeast regions showed the highest mortality rates for prostate cancer.
Resumo Este estudo teve como objetivo analisar o papel de fatores temporais, geográficos e sociodemográficos na mortalidade por câncer de próstata, mama, colo do útero, cólon, pulmão e esôfago nas capitais brasileiras (2000-2015). Estudo ecológico utilizando informações brasileiras de mortalidade. Modelos de Poisson multinível foram usados para estimar o risco ajustado de mortalidade por câncer. Os níveis de mortalidade foram maiores em homens para câncer de cólon, pulmão e esôfago. As taxas de mortalidade foram mais altas nos idosos. Nossos resultados mostraram risco aumentado de mortalidade por câncer de cólon em ambos os sexos de 2000 a 2015, o que também foi evidenciado para câncer de mama e de pulmão em mulheres. Em ambos os sexos, o maior risco de mortalidade para câncer de pulmão e esôfago foi observado nas capitais do Sul. As capitais do Centro-Oeste, Sul e Sudeste apresentaram o maior risco de mortalidade por câncer de cólon tanto para homens quanto para mulheres. A taxa de mortalidade por câncer de cólon aumentou para ambos os sexos, enquanto a mortalidade por câncer de mama e de pulmão aumentou apenas para as mulheres. A região Norte apresentou a menor taxa de mortalidade por câncer de mama, colo do útero, cólon e esôfago. As regiões Centro-Oeste e Nordeste apresentaram as maiores taxas de mortalidade por câncer de próstata.
Assuntos
Neoplasias da Mama/epidemiologia , Próstata , Colo do Útero , Colo , Esôfago , Análise Multinível , PulmãoRESUMO
ABSTRACT Objective: The aim of this study was to analyze the relationship between adolescent and young adult homicide mortality rates in Brazilian municipalities according to gender, race, and contextual characteristics at the municipal and federation unit levels. Methods: This is an ecological study that used secondary data available from the death records of the Mortality Information System and socioeconomic data from the Brazilian Census. The dependent variables were homicide mortality rates among people aged 15-29 years by sex and race from 2015 to 2017. The contextual variables were related to education, income, schooling, and vulnerability. Multilevel linear regression was applied in an ecological model to verify the first- and second-level variables' effect. Each variable's effect was estimated using β and its respective confidence intervals (95%CI) and statistical significance. Results: There was a direct and significant relationship between the adolescent and young adult mortality rates and the homicide mortality rates among adults, regardless of sex and race/skin color. However, this relationship was more pronounced among black adolescents and young adults. At the federative unit level, the human development index was significantly related to the mortality rates of black men, white men, and white women. Conclusion: There is racial inequality in adolescent and young adult mortality from violence in Brazil; the rates are related to municipal characteristics, such as violence in the adult population and inequalities in education and social protection.
RESUMO Objetivo: Analisar a relação entre as taxas de mortalidade por homicídios de adolescentes e adultos jovens em municípios brasileiros segundo sexo, raça e características contextuais nos níveis municipal e das unidades da federação. Métodos: Estudo ecológico que utilizou dados secundários disponíveis nos registros de óbitos do Sistema de Informação sobre Mortalidade e dados socioeconômicos do Censo Brasileiro. As variáveis dependentes foram as taxas de mortalidade por homicídio entre pessoas de 15 a 29 anos, por sexo e raça, de 2015 a 2017. As variáveis contextuais foram relacionadas a escolaridade, renda, escolaridade e vulnerabilidade. A Regressão Linear Multinível foi aplicada em um modelo ecológico para verificar o efeito das variáveis de primeiro e segundo nível. O efeito de cada variável foi estimado por meio de β e seus respectivos intervalos de confiança (IC95%) e significância estatística. Resultados: Houve relação direta e significativa entre a taxa de mortalidade de adolescentes e adultos jovens e as taxas de mortalidade por homicídio entre adultos, independentemente de sexo e raça/cor da pele. No entanto, essa relação foi mais acentuada entre os jovens negros. No nível das unidades federativas, o Índice de Desenvolvimento Humano foi significativamente relacionado às taxas de mortalidade de homens negros, homens brancos e mulheres brancas. Conclusão: Há desigualdade racial na mortalidade de adolescentes e adultos jovens por violência no Brasil; os índices estão relacionados a características municipais, como violência na população adulta e desigualdades na educação e na proteção social.
RESUMO
Adolescência é um período entre 10 e 19 anos de idade, que é constituída por inúmeras mudanças biológicas, psicológicas, cognitivas e comportamentais. A literatura tem mostrado uma prevalência significativa de cárie dentária, gengivite, má oclusão, perda dentária e dor dentária durante esta fase. A qualidade de vida relacionada à saúde bucal (QVRSB) é um constructo multidimensional usado para mensurar o impacto das condições de saúde bucal no dia a dia, e, consequentemente, isso afeta a percepção do indivíduo sobre sua vida de forma geral. O impacto dos aspectos contextuais sobre a saúde bucal enfatiza a natureza multinível de desfechos em saúde. Atenção deve ser dada para as complexas interações entre determinantes individuais e contextuais de saúde bucal. O objetivo do estudo transversal foi avaliar quais fatores estão associados à QVRSB em adolescentes (n= 1202; 15-19 anos de idade) de Minas Gerais, Brasil. O desfecho QVRSB foi mensurado pelo questionário "Bucal Impacts on Daily Performance". As covariáveis individuais foram: sexo, cor da pele, idade, renda familiar, educação materna, aglomeração domiciliar, prevalência de cárie dentária não tratada, sangramento gengival, necessidade de tratamento dentário e uso de serviço regular odontológico. Variáveis contextuais foram: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Coeficiente de Gini, analfabetismo, desemprego, renda de até metade do salário mínimo, , cobertura de Atenção Primária à Saúde, cobertura das equipes de Saúde Bucal, taxa de escovação supervisionada, fator de alocação, número de extração dentária entre todos os procedimentos selecionados, produto interno bruto, saneamento básico e número de consultas de emergência odontológica por habitante; essas covariáveis foram analisadas no nível regional do Estado. Um modelo de regressão de poisson (Razão de Médias RM/IC95%) multinível foi usado para inferir associação entre os diferentes níveis, considerando ao final uma significância de 5%. Os dados foram analisados no programa STATA versão 16.0. A média (DP) de OIDP foi 0,72 (0,05) e a prevalência do desfecho (OIDP≥1) foi de 31,8%. Houve associação entre escovação dentária supervisionada e o desfecho (RR 0,95; IC95% 0,91-0,99). Além disso, adolescentes que vivem em municípios com mais alta média de consulta de emergência odontológica mostrou pior QVRSB. Sexo, educação materna, aglomeração domiciliar, cárie não tratada e sangramento gengival foram associadas ao desfecho. Variáveis contextuais e individuais foram determinantes da QVRSB.
Adolescence is the period between 10 and 19 years of age, which is constituted by innumerable biological, psychological social, cognitive, and behavibucal changes. The literature has shown a significant prevalence of dental caries, gingivitis, malocclusion, tooth loss, and toothache during this phase. Bucal health-related quality of life (OHRQoL) is a multidimensional construct used to measure the impact of bucal health conditions on everyday life and consequently, it affects the individual's perception of their life overall. The impact of the contextual aspects on bucal health emphasizes the multilevel nature of health outcomes. Attention must be taken to the complex interaction between individual and contextual determinants of bucal health. The main of this cross-sectional study was to assess which factors are associated with OHRQoL involving adolescents (n=1202; 15 to 19 years old) in Minas Gerais, Brazil. The outcome OHRQoL was measured by questionnaire "Bucal Impacts on Daily Performance". The covariates were: sex, skin color, age, family income, maternal education, household crowding, prevalence of untreated dental caries, gingival bleeding, need for dental treatment and regular use of dental service. The contextual variables were Human Development Index (HDI), Gini Coefficient, illiteracy, unemployment, Half quarter Brazilian monthly minimum wage, Primary Health Care Coverage, bucal health team coverage, supervised tooth brushing, allocation factor, gross domestic product, number of emergency dental visits per inhabitant, sanitary sewer, number of tooth extraction between selected dental procedures - these covariates were analyzed at the regional level of the State. A multilevel poisson regression model (rate ratio RR/95%CI) was carried out to assess the association between the different levels, considering 5% significance. Data were analyzed in the STATA version 16.0 program. The mean (SD) OIDP score was 0.72 (0.05) and the prevalence of outcome was 31.8%. There was an association between supervised tooth brushing average and the outcome (RR 0.95; CI95% 0.91-0.99). Moreover, adolescents who lived in municipalities with the highest average number of emergency dental visits per inhabitant showed a higher OIDP. Sex, maternal education, household crowding untreated dental caries and gingival bleeding were associated with OIDP. Contextual and individual factors were determinants of OHRQoL.
Assuntos
Qualidade de Vida , Saúde Bucal , Adolescente , Análise Multinível , Determinantes Sociais da SaúdeRESUMO
Abstract Chagas disease (CD) is recognized by the World Health Organization as one of the thirteen most neglected tropical diseases in the world. Self-perceived health is considered a better predictor of mortality than objective measures of health status, and the context in which one lives influences this predictor. This study aimed to evaluate the prevalence and individual and contextual factors associated with poor self-rated health among CD patients from an endemic region in Brazil. It is a multilevel cross-sectional study. The individual data come from a cross-section of a cohort study named SaMi-Trop. Contextual data was collected from publicly accessible institutional information systems and platforms. The dependent variable was self-perceived health. The analysis was performed using multilevel binary logistic regression. The study included 1,513 patients with CD, where 335 (22.1%) had Poor self-rated health. This study revealed the influence of the organization/offer of the Brazilian public health service and of individual characteristics on the self-perceived health of patients with CD.
Resumo A Doença de Chagas (DC) é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma das treze doenças tropicais mais negligenciadas do mundo. A autopercepção de saúde é considerada um melhor preditor de mortalidade do que medidas objetivas do estado de saúde, e o contexto em que se vive influencia esse preditor. O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência e os fatores individuais e contextuais associados à pior autopercepção em saúde de pacientes com DC de uma região endêmica do Brasil. É um estudo transversal multinível. Os dados individuais vêm de um corte transversal de um estudo de coorte denominado SaMi-Trop. Os dados contextuais foram coletados a partir de plataformas e sistemas de informações institucionais acessíveis ao público. A variável dependente foi a autopercepção de saúde. A análise foi realizada por meio de regressão logística binária multinível. Participaram do estudo 1.513 pacientes com DC, sendo 335 (22,1%) com pior autopercepção de saúde. Este estudo revelou a influência da organização/oferta do serviço público de saúde brasileiro e de características individuais na autopercepção de saúde de pacientes com DC.
RESUMO
Abstract Studies analyzing relations between cardiovascular diseases (CVDs) and environmental aspects in Latin American cities are relatively recent and limited, since most of them are conducted in high-income countries, analyzing mortality outcomes, and comprising large areas. This research focuses on adults with diabetes and/or hypertension under clinical follow-up who live in deprived areas. At the individual level we evaluated sociodemographic and cardiovascular risk factors from patient's records, and at the neighborhood level, socioeconomic conditions from census data. A multilevel analysis was carried out to study CVD. More women than men were under clinical follow-up, but men had higher frequency, higher odds, and shorter time to CVD diagnosis. Multilevel analysis showed that residing in neighborhoods with worst socioeconomic conditions leads to higher odds of CVDs, even after controlling for individual variables: OR (CI95%) of CVD in quartile 2 (Q2) 3.9 (1.2-12.1); Q3 4.0 (1.3-12.3); Q4 2.3 (0.7-8.0) (vs. highest socioeconomic level quartile). Among individuals living in unequal contexts, we found differences in CVD, which makes visible inequalities within inequalities. Differences between women and men should be considered through a gender perspective.
Resumo Os estudos que analisam as relações entre doenças cardiovasculares (DCVs) e aspectos ambientais em cidades latino-americanas são relativamente recentes e limitados. A maioria é realizada em países de alta renda analisando a mortalidade em grandes áreas. Esta investigação foca a população de adultos em acompanhamento clínico por diabetes e/ou hipertensão residentes em áreas carentes. No nível individual foram avaliados fatores sociodemográficos e de risco cardiovascular a partir dos prontuários médicos; e a partir de dados censitários, as condições socioeconômicas no nível da vizinhança. Mais mulheres do que homens estavam sob acompanhamento clínico, mas os homens apresentaram maior frequência, maior chance e menor tempo para diagnóstico de DCV. A análise multinível mostrou que residir em bairros com piores condições socioeconômicas leva a maiores chances de DCV, mesmo após o controle de variáveis individuais. As OR (IC95%) de DCV foram: Q2 OR 3,9 (1,2-12,1); Q3 OR 4,0 (1,3-12,3); Q4 OR 2,3 (0,7-8,0) (referência: quartil de maior nível socioeconômico). Entre os indivíduos que vivem em contextos desiguais, encontramos diferenças nas DCV, mostrando desigualdades dentro das desigualdades. Diferenças entre homens e mulheres devem ser abordadas com uma perspectiva de gênero.
RESUMO
Resumo O objetivo deste artigo é analisar a associação entre o desconhecimento sobre a campanha de vacinação contra o HPV entre adolescentes e fatores individuais e contextuais. Estudo transversal com dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (2015). Foi realizada a análise bivariada e calculadas as Razões de Prevalência em uma Regressão de Poisson multinível (IC95%) para verificar o efeito das variáveis no desfecho. O desfecho esteve associado significativamente a ter 15-19 anos de idade (RP=1,36), estudar no turno da tarde/noite (RP=1,05), já ter tido relações sexuais (RP=1,10), com autopercepção do estado de saúde ruim ou muito ruim (RP=1,23), insatisfeito (RP=1,14) ou indiferente (RP=1,15) à sua imagem corporal, que falta às aulas sem consentimento dos pais (RP=1,10) e que estuda em escola pública (RP=1,24). Houve menor prevalência do desfecho entre o sexo feminino (RP=0,24) e em estados com maior desigualdade de renda (RP=0,80). O desconhecimento sobre a campanha de vacinação contra o HPV entre adolescentes foi associado às características individuais e do contexto da escola e da unidade de federação. Esses achados indicam a importância de fortalecer a promoção à saúde voltada aos jovens em vulnerabilidade.
Abstract The scope of this article is to analyze the association between lack of awareness of the HPV vaccination campaign among Brazilian adolescents and individual and contextual factors. It involved a cross-sectional study with data from the National Student Health Survey (2015). Bivariate analysis was performed and Prevalence Ratios were calculated, in a multilevel Poisson Regression (95%CI) to verify the effect of variables on the outcome. The outcome was significantly associated with being 15-19 years old (PR=1.36), studying during the afternoon/night shift (PR=1.05), having already had sexual intercourse (PR=1.10), with self-perceived poor or very poor health status (PR=1.23), dissatisfied (PR=1.14) or indifferent (PR=1.15) regarding their body image, playing truant from classes without parental consent (PR=1.10) and studying at a public school (PR=1.24). There was less prevalence of the outcome among females (PR=0.24) and in states with greater income inequality (PR=0.80). The lack of awareness about the HPV vaccination campaign among adolescents was associated with individual characteristics, the context of the school and the unit of the federation. These findings indicate the importance of enhancing health promotion for vulnerable young people.
Assuntos
Humanos , Feminino , Adolescente , Adulto , Adulto Jovem , Infecções por Papillomavirus/prevenção & controle , Infecções por Papillomavirus/epidemiologia , Estudantes , Estudos Transversais , Vacinação , Programas de Imunização , Análise MultinívelRESUMO
Abstract The objective was to evaluate the influence of individual and contextual determinants on infant's consumption of fruits and vegetables (FV), and ultra-processed foods (UPF). The data was obtained from the Survey of Prevalence of Breastfeeding in Brazilian Municipalities, 2008. A representative sample of 14,326 infants 6-11.9 months old, from seventy-five municipalities of São Paulo state was evaluated. The influence of determinants on FV and UPF consumption was analyzed using Poisson multilevel regression. Mother's educational level and maternal age had positive dose-response effect for the consumption of FV (p trend < 0.001) and negative for UPF (p trend < 0.001). Infants of multiparous women and those who received outpatient care in public medical system showed lower prevalence of FV (p < 0.001 for both) and higher prevalence of UPF (respectively, p < 0.001 and p = 0.001). Moreover, the contextual variable related to population size indicated that the prevalence of consumption of FV decreased (p < 0.001) and UPF increased (p = 0.081) with decreased population size. Therefore, infants born to women with low education levels, who received outpatient care in the public health network, and who reside in small municipalities should be prioritized for educational programs related to feeding practices.
Resumo O objetivo foi analisar a influência de determinantes individuais e contextuais sobre o consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) e de alimentos ultraprocessados (AUP) entre lactentes. Estudo com amostra representativa de 14.326 lactentes com idade entre 6-11,9 meses de 75 municípios do estado de São Paulo participantes da Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno em Municípios Brasileiros, de 2008. A influência dos determinantes sobre o consumo de FLV e de AUP foi avaliada por regressão de Poisson multinível. A escolaridade e faixa etária maternas mostraram efeito dose-resposta positivo para o consumo de FLV (p de tendência < 0,001), e negativo para AUP (p de tendência < 0,001). O consumo de FLV foi menos prevalente entre filhos de multíparas (p < 0,001) e entre aqueles acompanhados no sistema público de saúde (p < 0,001); porém, estes dois grupos apresentaram maiores prevalências de consumo de AUP (respectivamente: p < 0,001 e p = 0,001). Ainda, a variável contextual referente ao porte populacional mostrou relação dose-resposta positiva para FLV (p < 0,001), e negativa para AUP (p = 0,081). Destacam-se grupos que deveriam ser priorizados nas ações nutricionais educativas sobre alimentação de lactentes.
Assuntos
Humanos , Feminino , Lactente , Verduras , Frutas , Brasil , Dieta , Comportamento Alimentar , Fast FoodsRESUMO
ABSTRACT: Objective: To analyze the contextual factors associated with type II diabetes mellitus in Belo Horizonte City. Methods: Cross-sectional study with 5,779 adults living in Belo Horizonte City, participating in the Risk and Protection Factors Surveillance System for Chronic Diseases through Telephone Survey (Vigitel), in 2008, 2009, and 2010. Multilevel regression models were used to test the association between contextual indicators of physical and social environments, and self-reported diagnosis of diabetes, adjusted for individual sociodemographic and lifestyle factors. Descriptive analyzes and multilevel logistic regression models were used, considering a 5% significance level. Results: The prevalence of diabetes was 6.2% (95%CI 5.54 - 6.92), and 3.1% of the variability of chance of presenting diabetes were explained by contextual characteristics. Living in areas with high density of private places for physical activity and high income was associated with a lower chance of having diabetes. The areas with high level of social vulnerability were strongly associated with the chance of presenting diabetes, adjusted for individual characteristics. Conclusion: Characteristics of physical and social environments were associated with the chance of diabetes occurrence. Urban centers with opportunities to adopt healthy behaviors can help to reduce the occurrence of diabetes and its complications.
RESUMO: Objetivo: Analisar os fatores contextuais associados ao diabetes mellitus tipo II em Belo Horizonte (MG). Métodos: Estudo transversal com 5.779 adultos residentes em Belo Horizonte, participantes do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, nos anos de 2008, 2009 e 2010. Foram utilizados modelos de regressão multinível para testar a associação entre indicadores contextuais do ambiente físico e social e diagnóstico autorreferido de diabetes, ajustados por fatores individuais sociodemográficos e de estilo de vida. Utilizaram-se análises descritivas e modelos de regressão logística multinível, considerando um nível de significância de 5%. Resultados: A prevalência de diabetes foi de 6,2% (IC95% 5,54-6,92), e 3,1% da variabilidade da chance de diabetes nas áreas de abrangência estudadas foi explicada por características contextuais. Residir em áreas com alta densidade de locais privados para prática de atividade física e com alta renda associou-se a menor chance de ter diabetes. As áreas com alto índice de vulnerabilidade social foram fortemente associadas ao diabetes, independentemente de características individuais. Conclusão: A ocorrência de diabetes está associada com as características do ambiente físico e social. Centros urbanos com oportunidades para adoção de comportamentos saudáveis podem ajudar a reduzir a ocorrência de diabetes e as suas complicações.
Assuntos
Humanos , Adulto , Diabetes Mellitus Tipo 2/diagnóstico , Diabetes Mellitus Tipo 2/epidemiologia , Fatores Socioeconômicos , Brasil , Estudos Transversais , Cidades , Análise Multinível , AutorrelatoRESUMO
Introdução: Os problemas crônicos de coluna estão fortemente presentes na sociedade e apresentam impacto relevante para a saúde pública pela sua alta prevalência e índice de incapacidade e absenteísmo que provoca na população. Muito tem se discutido sobre as possíveis causas desses problemas, no entanto pouca ênfase tem sido dada ao contexto social e políticas públicas envolvidas na sua gênese. Além disso faz-se se necessário maior investigação sobre a influência dos hábitos de vida, como uso de tecnologias e manejo desses casos na atenção primária da saúde. Além destes aspectos, essas condições podem gerar um aumento na demanda, aumentando o tempo de espera para o tratamento destas condições. Uma atenção primária à saúde (APS) organizada pode diminuir este alto número de casos, além de poder contribuir com condições infectocontagiosas, como o COVID-19, pois consegue atuar muito próximo da população e realizar atividades de acolhimento, educação em saúde, orientações quanto o isolamento e uso de medidas protetivas. Esta tese tem como objetivo analisar de modo ampliado os fatores que podem estar associados aos problemas crônicos de coluna, bem como o impacto da Atenção Primária a saúde no manejo da COVID-19 e no tempo de espera para o serviço especializado de fisioterapia. Metodologia: está dividida em quatro estudos. 1) estudo transversal, com análise multinível dos fatores associados aos problemas crônicos de coluna, a partir da Pesquisa Nacional de Saúde; 2) estudo caso-controle, com análise dos fatores associados a cervicalgia crônica em adultos jovens, a partir de dados primários; 3) estudo transversal, com análise multinível dos fatores associados ao tempo de espera para os serviços especializados de fisioterapia, a partir do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica; e 4) série temporal com dados de casos diagnosticados de COVID-19 e seus óbitos como desfechos nas capitais da região Nordeste do Brasil. Resultados: foi encontrada maior prevalência de problemas crônicos de coluna no sexo feminino (RP=1,23; IC95%1,15-1,30), com idade acima de 49 anos (RP=1,75; IC95% 1,1-1,90), e em indivíduos que realizam atividades pesadas no trabalho (RP=1,37; IC95% 1,28-1,46). Esteve associado a pior autoavaliação do estado de saúde (RP=3,92; IC95% 3,03-5,07), maior quantidade de dias com percepção de depressão (RP=1,70; IC95% 1,50-1,94), e presença de hábitos tabagistas (RP=1,37; IC95% 1,27-1,48). Houve também associação para problemas crônicos de coluna nas cidades com maior proporção de Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) por habitantes (RP=1,28; IC95% 1,07-1,54). Para as cervicalgias crônicas em adultos jovens, foi observada maior associação em indivíduos com maior comportamento sedentário (OR=2,41; IC95% 1,01-5,88) e com problemas de visão (OR=2,83; IC95% 1,26-6,38). Não foi encontrada associação entre cervicalgia crônica e hábitos posturais e uso de aparelho celular. Quanto ao tempo de espera para o serviço especializado de fisioterapia, foi encontrado menor tempo de encaminhamento nas equipes de saúde que receberam apoio para o planejamento e organização do processo de trabalho (p<0,0001), naquelas que disponibilizam informações sobre a situação de saúde (p<0,0016), nas equipes que possuem contra-referência (p<0,0001) e nas equipes que são apoiadas pelo fisioterapeuta do NASF (p<0,0001). Já no manejo da COVID-19 uma maior cobertura da APS (p=0,01), além de uma maior taxa de isolamento social (p=0,001) mostraramse como fatores atenuantes para a disseminação desta doença e seus óbitos. Conclusão: Observa-se uma associação dos problemas crônicos de coluna tanto com fatores biológicos quanto comportamentais, e uma importância da organização e maior cobertura da APS tanto para diminuição no tempo de encaminhamento para o serviço especializado de fisioterapia, quanto no manejo da COVID-19 (AU).
Introduction: Chronic spine problems are strongly present in society and have a relevant impact on public health due to their high prevalence and the rate of disability and absenteeism that they cause in the population. Much has been discussed about the possible causes of these problems, however little emphasis has been given to the social context and public policies involved in its genesis. In addition, further research is needed on the influence of lifestyle habits, such as the use of technologies and the management of these cases in primary health care. In addition to these aspects, these conditions can generate high waiting lines, increasing the waiting time for the treatment of these conditions. An organized PHC can reduce this high number of cases, in addition to contributing to infectious and contagious conditions, such as COVID-19. This thesis aims to analyze in a broader way the factors that may be associated with chronic spinal problems, as well as the impact of Primary Health Care on COVID-19 management and on the waiting time for the specialized physiotherapy service. Methodology: it is divided into four studies. 1) cross-sectional study, with multilevel analysis of factors associated with chronic back problems, based on the National Health Survey; 2) case-control study, with analysis of factors associated with chronic neck pain in young adults, based on primary data; 3) cross-sectional study, with multilevel analysis of factors associated with waiting time for specialized physiotherapy services, based on the National Program for Improving Access and Quality of Primary Care; and 4) time series with data on diagnosed cases of COVID-19 and their deaths as outcomes in the capitals of the Northeast region of Brazil. Results: a higher prevalence of chronic spine problems was found in females (PR = 1.23; 95% CI 1.15-1.30), aged over 49 years (PR = 1.75; 95% CI 1.1 -1.90), and in individuals who perform heavy activities at work (PR = 1.37; 95% CI 1.28-1.46). It was associated with worse self-assessment of health status (PR = 3.92; 95% CI 3.03-5.07), greater number of days with perception of depression (PR = 1.70; 95% CI 1.50- 1, 94), and the presence of smoking habits (PR = 1.37; 95% CI 1.27-1.48). There was also an association for chronic spine problems in cities with a higher proportion of NASF per inhabitants (PR = 1.28; 95% CI 1.07-1.54). For chronic neck pain in young adults, a greater association was observed in individuals with greater sedentary behavior (OR = 2.41; 95% CI 1.01-5.88) and with vision problems (OR = 2.83; 95% CI 1 , 26-6.38). No association was found between chronic neck pain and postural habits and use of a cell phone. As for the waiting time for the specialized physiotherapy service, less referral time was found in the health teams that received support for the planning and organization of the work process (p <0.0001), in those that provide information about the health situation. health (p <0.0016), in teams that have a counter-reference (p <0.0001) and in teams that are supported by the NASF physiotherapist (p <0.0001. In the management of COVID, a greater coverage of PHC (p=0.01), in addition to a higher rate of social isolation (p=0.001) were shown to be mitigating factors for the dissemination of COVID-19 and its deaths. Conclusion: There is an association of chronic spinal problems with both biological and behavioral factors, and an importance of organization and greater coverage of PHC, both for a reduction in the time of referral to the specialized physiotherapy service, and in the management of COVID-19, with a greater attenuation of cases and deaths in locations with greater coverage of PHC (AU).
Assuntos
Doenças da Coluna Vertebral , Modalidades de Fisioterapia , Determinantes Sociais da Saúde , COVID-19/transmissão , Estudos Transversais/métodos , Inquéritos EpidemiológicosRESUMO
A dor de dente é frequentemente descrita como o tipo mais frequente de dor orofacial. Tem um impacto significativo na vida das pessoas e da sociedade. Isso pode ser evitado por meio de estratégias eficazes, incluindo prevenção e intervenção. As principais causas da dor de dente são cáries, doenças periodontais e traumas dentários. A adolescência é uma fase de transição caracterizada por intensas mudanças físicas e psicológicas, em que o indivíduo pode se engajar em comportamentos que podem comprometer sua saúde. O adolescente é, portanto, um grupo populacional vulnerável que requer cuidados adequados de acordo com seu contexto individual, familiar e social, o que pode influenciar em sua saúde geral e bucal. A literatura tem demonstrado que a dor de dente está associada a fatores socioeconômicos, familiares, culturais, comportamentais e psicossociais. Existem estudos sobre a prevalência de dor de dente em adolescentes, porém, para Minas Gerais, Brasil, não há estudo com abordagem multinível. O objetivo principal deste estudo transversal foi avaliar quais fatores contextuais e individuais estão associados à dor de dente em adolescentes (12 anos) no estado de Minas Gerais, localizado na região sudeste do Brasil, além de desenvolver um produto técnico voltado para a prevenção da dor de dente. Este estudo utilizou dados secundários do banco de dados epidemiológicos do SB Minas 2012. A variável dependente foi dor dentária reportada nos últimos seis meses. As covariáveis foram agrupadas em dois níveis, individual (sexo, grupo étnico autorrelatado, renda familiar (valores em reais), condição periodontal, cárie dentária, necessidade de tratamento odontológico, tipo de serviço utilizado). As variáveis contextuais foram: fator de Alocação (interior I, interior II, capital), IDH, Coeficiente de Gini, Produto Interno Bruto, desemprego, analfabetismo, renda familiar por pessoa, metade do salário-mínimo, um quarto do salário-mínimo, esgotamento sanitário, coleta de Lixo, cobertura de atenção primária a saúde (APS), cobertura das equipes de saúde bucal na APS, presença de Técnico em Saúde Bucal, cobertura de 1° consulta, escovação supervisionada. Essas covariáveis foram analisadas no nível regional do Estado. Os dados foram analisados no programa IBM SPSS Software versão 22.0. Um modelo de regressão logística (Razão de Chances RC/IC95%) multinível foi usado para inferir associação entre os diferentes níveis, considerando ao final uma significância de 5%. A prevalência de dor dentária foi de 19,1% e esteve associada a renda familiar (p <0,001), cárie dentária (p <0,001), cobertura da Equipe de Saúde Bucal na APS (p = 0,015) e presença de Técnico em Saúde Bucal na ESB (p = 0,008). Condições socioeconômicas e uso de serviço odontológico estiveram associados com dor dentária. Os achados deste estudo reforçam a necessidade de formular mais estratégias públicas efetivas. Em relação ao produto técnico, a ideia foi elaborar um material educativo para ser divulgado em mídias com grande circulação de pessoas. Os principais temas foram o auto-cuidado em saúde bucal e como prevenir condições bucais, tais como cárie dentária, doença periodontal, câncer bucal, trauma dentária e edentulismo. As ilustrações foram realizadas no programa de designs e templates Canva. Este é um produto educacional, fácil de ser replicado, de baixo custo, com grande potencial de alcance e tem potencial para promover mudanças positivas em nível de comportamento individual e coletivo a fim de lidar com os problemas bucais.
Toothache is often described as the most frequent type of orofacial pain. It has a significant impact on people's lives and society. This can be avoided through effective strategies, including prevention and intervention. The main causes of toothache are caries, periodontal diseases and dental trauma. Adolescence is a transitional phase characterized by intense physical and psychological changes, in which individuals can engage in behaviors that can compromise their health. Adolescents are, therefore, a vulnerable population group that requires adequate care according to their individual, family and social context, which can influence their general and oral health. Literature has shown that toothache is associated with socioeconomic, family, cultural, behavioral and psychosocial factors. There are studies on the prevalence of toothache in adolescents, however, for Minas Gerais, Brazil, there is no study with a multilevel approach. The main objective of this cross- sectional study was to assess which contextual and individual factors are associated with toothache in adolescents (12 years old) from the state of Minas Gerais, located in the southeast region of Brazil, in addition to developing a technical product aimed at preventing toothache. This study used secondary data from the epidemiological database of SB Minas 2012. Dependent variable was toothache reported in the last six months. The covariates were grouped in two levels, individual (sex, self-reported ethnic group, family income (values in reais), periodontal condition, dental caries, need for dental treatment, type of service used). The contextual variables were Allocation factor (interior I, interior II, capital), HDI, Gini Coefficient, Gross Domestic Product, Unemployment, Illiteracy, Family income per person, Half the minimum wage, One quarter of the minimum wage, Sanitary Sewage, Garbage Collection, Primary Health Care Coverage (APS), Coverage of Oral Health Teams in APS, Presence of Oral Health Technician, Coverage of 1st appointment, Supervised brushing. These covariates were analyzed at the regional level of the state. Data were analyzed in the IBM SPSS Software version 22.0 program. A multilevel logistic regression statistical model (OR 95%CI) was carried out to assess the association between the different levels, considering 5% significance. The prevalence of dental pain was 19.1% and was associated with family income (p <0.001), dental caries (p <0.001), coverage of the Oral Health Team in PHC (p = 0.015) and presence of a Health Technician Oral in ESB (p = 0.008). Socioeconomic conditions and the use of dental services were associated with toothache. The results of this study reinforce the need to formulate more effective public strategies. Regarding the technical product, the idea was to prepare educational material to be published in media with a large circulation of people. The main themes were oral health care and how to prevent oral problems such as caries, periodontal diseases, oral cancer, dental trauma and edentulism. The illustrations were done in Canva's design and template program. It is an educational product, easy to replicate, low cost, with great social reach and with the potential to promote positive changes in individual and collective behavior in dealing with oral problems.
Assuntos
Odontalgia , Educação em Saúde , Adolescente , Análise Multinível , Determinantes Sociais da SaúdeRESUMO
Objective: analyze the contextual factors associated with type II diabetes mellitus in Belo Horizonte. Methods: cross-sectional study with 5779 adults living in Belo Horizonte, participating in the Risk and Protection Factors Surveillance System for Chronic Diseases by Telephone Survey (Vigitel), in the years 2008, 2009 and 2010. Multilevel regression models were used to test the association between contextual indicators of the physical and social environment and self-reported diagnosis of diabetes, adjusted for individual sociodemographic and lifestyle factors. Descriptive analyzes and multilevel logistic regression models were used, considering a significance level of 5%. Results: The prevalence of diabetes was 6.2% (95% CI: 5.54 - 6.92) and 3.1% of the variability of chance of diabetes were explained by contextual characteristics. Living in areas with high density of private places for physical activity and high income was associated with a lower chance of having diabetes. The areas with high level of social vulnerability were strongly associated with the chance of diabetes, adjusted for individual characteristics. Conclusion: characteristics of the physical and social environment were associated with the chance of occurrence of diabetes. Urban centers with opportunities to adopt healthy behaviors can help to reduce the occurrence of diabetes and its complications.
Objetivo: analisar os fatores contextuais associados ao diabetes mellitus tipo II em Belo Horizonte. Métodos: estudo transversal, com 5779 adultos residentes em Belo Horizonte, participantes do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e de Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), nos anos de 2008, 2009 e 2010. Foram utilizados modelos de regressão multinível para testar a associação entre indicadores contextuais do ambiente físico e social e diagnóstico autorreferido de diabetes, ajustados por fatores individuais sociodemográficos e de estilo de vida. Utilizou-se análises descritivas e modelos de regressão logística multinível, considerando um nível de significância de 5%. Resultados: A prevalência de diabetes foi 6,2% (IC95%: 5,54 - 6,92) e 3,1% da variabilidade da chance de diabetes nas áreas de abrangência estudadas foi explicada por características contextuais. Residir em áreas com alta densidade de locais privados para prática de atividade física e com alta renda associou-se a menor chance de ter diabetes. As áreas com alto índice de vulnerabilidade social foram fortemente associadas ao diabetes, independente de características individuais. Conclusão: a ocorrência de diabetes está associada com as características do ambiente físico e social. Centros urbanos com oportunidades para adoção de comportamentos saudáveis podem ajudar a reduzir a ocorrência de diabetes e as suas complicações.
RESUMO
Objective. Evaluate the prevalence and factors associated with user embracement by primary health care teams in Brazil. Methods. This is a cross-sectional study that included teams that joined PMAQ-AB 2012 (Cycle I). The outcome used was the user embracement by the health team. The independent variables were macroregion, municipal profile, Gini index and Family Health Strategy population coverage, team meeting, study of spontaneous demand, consideration of user opinion and existence of permanent education. Multilevel Poisson regression analysis was performed to obtain the results. Results. The sample consisted of 13,751 teams. The prevalence of user embracement was 78.3% (95%CI 77.6;79.1). In the hierarchical analysis, the highest prevalence of user embracement was among the teams from the southern region (PR=1.37 95%CI 1.27;1.48) compared to the northeast region. Conclusion. There is an uneven distribution of primary care teams that do user embracement in Brazil, possibly associated with regional inequalities.
Objetivo. Avaliar a prevalência e os fatores associados à realização de acolhimento pelas equipes da Atenção Básica à Saúde no Brasil. Métodos. Estudo transversal, realizado com equipes que aderiram ao PMAQ-AB 2012 (Ciclo I). O desfecho utilizado foi o 'acolhimento pela equipe de saúde'; as variáveis independentes foram macrorregião, perfil municipal, índice de Gini e cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família, reunião de equipe, estudo da demanda espontânea, consideração da opinião do usuário e existência de educação permanente. Realizou-se análise multinível, por regressão de Poisson. Resultados. A amostra foi composta por 13.751 equipes. Aprevalência de acolhimento foi de 78,3% (IC95% 77,6;79,1). Na análise hierárquica, a maior prevalência de acolhimento foi entre as equipes pertencentes à região Sul (RP=1,37 IC95% 1,27;1,48), tendo por referência a região Nordeste. Conclusão. Háuma distribuição desigual de equipes da Atenção Básica que realizam o acolhimento no país, possivelmente associada às iniquidades regionais.
RESUMO
Abstract: Few studies have investigated the simultaneous effect of individual and contextual factors on the occurrences of anemia. This study aims to evaluate the variability of children's hemoglobin levels from municipalities in social vulnerability and its association with factors of individual and municipal nature. This is a cross-sectional, multi-center study, with children data (12-59 months) collected from 48 municipalities of the Southern region of Brazil, that were included in the Brazil Without Poverty Plan. Individuals' data were collected using a structured questionnaire, and secondary and ecological data of children's municipalities were collected via national surveys and institutional websites. The outcome was defined as the hemoglobin level obtained by HemoCue. A multilevel analysis was performed using Generalized Linear Models for Location Scale and Shape using R, with a 5% significance level. A total of 1,501 children were evaluated. The mean hemoglobin level was 12.8g/dL (95%CI: 12.7-12.8), with significant variability between municipalities. Lower values of hemoglobin were observed in children who lived in municipalities with a higher urbanization rate and a lower number of Community Health Agents, in relation to the reference categories. At the individual level, lower hemoglobin values were identified for children under 24 months, not enrolled at daycares, who were beneficiaries of the conditional cash transfer program and diagnosed with underweight. The results shed light on important factors at the municipal and the individual levels that were associated to the hemoglobin levels of children living in municipalities in social vulnerability.
Resumo: Poucos estudos investigaram o efeito simultâneo dos fatores individuais e contextuais sobre a ocorrência da anemia. O estudo procura avaliar a variabilidade dos níveis de hemoglobina em crianças de municípios com vulnerabilidade social e a associação com fatores individuais e municipais. Foi realizado um estudo transversal com dados de crianças de idade pré-escolar (12-59 meses) de um estudo multicêntrico em 48 municípios do Sul do Brasil, incluídos no Plano Brasil Sem Miséria. Os dados dos indivíduos foram coletados com um questionário estruturado, e os dados secundários e ecológicos dos municípios das crianças foram obtidos através de inquéritos nacionais e websites institucionais. O desfecho foi definido como o nível de hemoglobina, obtido com o sistema HemoCue. Foi realizada análise multinível usando modelos lineares generalizados para posição, escala e forma, no R, com nível de 5% de significância . Foram avaliadas 1.501 crianças. O nível médio de hemoglobina foi 12,8g/dL (IC95%: 12,7-12,8), com variabilidade significativa entre os municípios. Níveis de hemoglobina mais baixos foram observados nas crianças em municípios com taxas de urbanização mais altas e menor número de agentes comunitários de saúde, comparado com as categorias de referência. Em nível individual, níveis de hemoglobina mais baixos foram identificados em crianças abaixo de 24 meses, não matriculadas em creches, beneficiárias do Programa Bolsa Família e diagnosticadas com baixo peso. Os resultados destacam fatores importantes nos níveis municipal e individual que estão associados com os níveis de hemoglobina em crianças de municípios com vulnerabilidade social.
Resumen: Pocos estudios han investigado el efecto simultáneo de los factores individuales y contextuales en la incidencia de anemia. El objetivo de este estudio fue evaluar la variabilidad de los niveles de hemoglobina en niños socialmente vulnerables en municipios del sur de Brasil y su asociación con factores en el nivel individual y municipal. Se trata de un estudio trasversal con datos de niños (12-59 meses), procedentes de un estudio multicéntrico, realizado en 48 municipios de la región sur de Brasil, incluidos en el Plan Brasil sin Pobreza. Se recogieron los datos de los participantes, usando un cuestionario estructurado, así como datos secundarios y ecológicos de los municipios de los niños, a través de encuestas nacionales y sitios web institucionales. El resultado se definió como el nivel de hemoglobina obtenido por HemoCue. Se realizó un análisis multinivel, usando modelos lineales generalizados para la escala de localización y forma usando R, con un nivel de un 5% de significancia. Un total de 1.501 niños fueron evaluados. La media de nivel de hemoglobina fue 12,8g/dL (95%CI: 12,7-12,8), con una significativa variabilidad entre municipios. Los valores más bajos de hemoglobina se observaron en niños que vivían en municipios con unas tasas más altas de urbanización, y un número de agentes de salud comunitario más bajo, en relación con las categorías de referencia. En el nivel individual, los valores de hemoglobina más bajos fueron identificados en niños con menos de 24 meses, no matriculados en guarderías, beneficiarios de ayudas económicas, enmarcadas en programas de ayuda económica, y diagnosticados como con bajo peso. Los resultados aclararon importantes factores en el nivel municipal e individual que estaban asociados a los niveles de hemoglobina de niños residentes en municipios, así como vulnerables socialmente.
Assuntos
Humanos , Criança , Pobreza , Hemoglobinas , Brasil/epidemiologia , Estudos Transversais , CidadesRESUMO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um relevante problema de saúde pública mundial, marcado por desigualdades sociais. No Brasil, estudos sobre a HAS adotando uma perspectiva teórica de curso de vida são escassos. O presente artigo visa a analisar a relação entre mobilidade educacional intergeracional (MEI) e HAS em adultos brasileiros, verificando o impacto da discriminação interpessoal e da cor/"raça" nesta relação. Foram analisados dados dos pais e de 1.720 adultos, entre 20 e 59 anos, do Estudo EpiFloripa Adulto. Modelos de regressão multinível com efeitos aleatórios foram estimados. Os efeitos fixos mostraram relação inversa entre MEI e odds de HAS, com significância estatística para MEI alta (modelo paterno: OR [odds ratio] = 0,39, p = 0,006; modelo materno: OR = 0,35, p = 0,002; e modelo familiar: OR = 0,35, p = 0,001). Análises de interação demonstraram, por sua vez, que situações de discriminação podem atuar conjuntamente com a MEI desfavorável, elevando a odds de HAS, especialmente entre negros e pardos. Conclui-se que a MEI constantemente alta é capaz de reduzir significativamente a odds de HAS, mas que a discriminação pode intensificar o efeito de baixos níveis de educação, especialmente em segmentos da população socialmente marginalizados.
La hipertensión arterial sistémica (HAS) es un problema relevante de salud pública mundial, marcado por desigualdades sociales. En Brasil, los estudios sobre la HAS, adoptando una perspectiva teórica de curso de vida, son escasos. El objetivo de este artículo es analizar la relación entre movilidad educacional intergeneracional (MEI) y HAS en adultos brasileños, verificando el impacto de la discriminación interpersonal y del color/"raza" en esa relación. Se analizaron datos de los padres y de 1.720 adultos, entre 20 y 59 años, del Estudio EpiFloripa Adulto. Se estimaron modelos de regresión multinivel con efectos aleatorios. Los efectos fijos mostraron una relación inversa entre MEI y odds de HAS, con significancia estadística para MEI alta (modelo paterno: OR [odds ratio] = 0,39, p = 0,006; modelo materno: OR = 0,35, p = 0,002; y modelo familiar: OR = 0,35, p = 0,001). Los análisis de interacción demostraron, a su vez, que situaciones de discriminación pueden actuar conjuntamente con la MEI desfavorable, elevando la odds de HAS, especialmente entre negros y mulatos/mestizos. Se concluye que una MEI constantemente alta es capaz de reducir significativamente la odds de HAS, sin embargo, la discriminación puede intensificar el efecto de bajos niveles de educación, especialmente en segmentos de la población socialmente marginados.
Systemic arterial hypertension (SAH) or high blood pressure a serious global public health problem marked by social inequalities. There are few studies on SAH in Brazil with a life-course theoretical perspective. The current article aims to analyze the relationship between intergenerational educational mobility (IEM) and SAH in Brazilian adults, verifying the impact of interpersonal and color/"race" discrimination on this relationship. The authors analyzed data from 1,720 adults (20-59 years) and their parents in the EpiFloripa Adult Study. Random-effects multilevel regression models were estimated. The fixed effects showed an inverse relationship between IEM and odds of SAH, with statistical significance for high IEM (paternal model: OR = 0.39, p = 0.006; maternal model: OR = 0.35, p = 0.002; and family model: OR = 0.35, p = 0.001). Meanwhile, interaction models showed that situations of discrimination can act jointly with unfavorable IEM, increasing the odds of SAH, especially among black and brown individuals. The study concludes that persistently high IEM is capable of significantly reducing the odds of SAH, while discrimination can intensify the effect of low education, especially in socially marginalized population segments.
Assuntos
Humanos , Adulto , Escolaridade , Racismo , Hipertensão , BrasilRESUMO
A pesquisa buscou identificar os fatores de risco individuais e contextuais da assistência à saúde, suas interações e diferenciais regionais na determinação da mortalidade infantil nas capitais brasileiras. Trata-se de um estudo caso-controle, no qual considerou-se casos os 7.470 óbitos infantis ocorridos em 2012 nas 27 capitais do país, registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e pareados com o Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) por meio do linkage, e 24.285 controles obtidos mediante amostra dos nascidos sobreviventes entre 2011 e 2012 do universo de 1.424.691 nascimentos. As variáveis explicativas do nível individual corresponderam às informações disponibilizadas pelo SINASC, e a variável contextual consistiu um índice de qualidade da assistência hospitalar relativo aos 702 serviços de saúde onde ocorreram os nascimentos. Empregou-se o modelo logístico multinível e a análise de interação. Os principais determinantes da mortalidade infantil foram os fatores biológicos (baixo peso ao nascer, prematuridade, malformação congênita, asfixia grave/moderada e raça/cor), mediados pelos socioeconômicos maternos (escolaridade, estado civil e ocupação), e pela insuficiência de pré-natal. Realizar baixo número de consultas pré-natais representou risco para a mortalidade infantil independentemente da qualidade do serviço, à exceção das capitais da Região Sul. Na interação entre renda e pré-natal, observou-se que realizar poucas consultas e nascer em cidades com alta renda representaram risco maior quando comparados aos nascimentos em capitais de baixa renda (OR = 0,68). A análise multinível evidenciou desigualdades regionais nos modelos de risco e reiterou a importância dos determinantes biológicos com mediação dos fatores socioeconômicos e assistenciais na mortalidade infantil.
The study sought to identify individual and contextual risk factors in healthcare and their interactions and regional differences in the determination of infant mortality in Brazilian state capitals. This was a case-control study that analyzed 7,470 infant deaths in 2012 in the 27 state capitals, recorded in the Brazilian Mortality Information System (SIM) and matched with the Brazilian Information System on Live Births (SINASC) through linkage and 24,285 controls obtained by sampling the surviving liveborn infants from 2011 to 2012 from the total of 1,424,691 births. The individual explanatory variables corresponded to information available in the SINASC database, and the contextual variable consisted of a quality index for hospital care in the 702 healthcare services where the births occurred. A multilevel logistic model was used to analyze interaction. The principal determinants of infant mortality were biological factors (low birthweight, prematurity, congenital malformations, severe/moderate asphyxia, and race/color), mediated by maternal socioeconomic factors (schooling, marital status, and occupation) and insufficiency of prenatal care. Low number of prenatal visits was a risk factor for infant mortality, independently of the service's quality, except in the state capitals in the South of Brazil. In the interaction between income and prenatal care, few prenatal visits and birth in high-income state capitals showed a higher risk when compared to births in low-income state capitals (OR = 0.68). Multilevel analysis evidenced regional inequalities in the risk models and reiterated the importance of biological determinants in the mediation of socioeconomic and healthcare factors in infant mortality.
El objetivo de la investigación fue identificar factores de riesgo individuales y contextuales de asistencia a la salud, sus interacciones y diferenciales regionales en la determinación de la mortalidad infantil en las capitales brasileñas. Se trata de un estudio caso-control, en el que se consideraron como casos los 7.470 óbitos infantiles ocurridos en 2012, en las 27 capitales del país, registrados en el Sistema de Informaciones sobre Mortalidad (SIM) y pareados con el Sistema de Información sobre Nacidos Vivos (SINASC) mediante linkage y 24.285 controles, obtenidos mediante muestra de los nacidos supervivientes entre 2011 y 2012, dentro de un universo de 1.424.691 nacimientos. Las variables explicativas a nivel individual correspondieron a la información proporcionada por el SINASC, y la variable contextual consistió en un índice de calidad de la asistencia hospitalaria, referente a los 702 servicios de salud donde se produjeron los nacimientos. Se empleó el modelo logístico multinivel y un análisis de interacción. Los principales determinantes de la mortalidad infantil fueron los factores biológicos (bajo peso al nacer, prematuridad, malformación congénita, asfixia grave/moderada y raza/color), mediados por los socioeconómicos maternos (escolaridad, estado civil y ocupación), y por la insuficiencia del pre-natal. Realizar un bajo número de consultas pre-natales representó un riesgo para la mortalidad infanti, independientemente de la calidad del servicio, a excepción de las capitales de la Región Sur. En la interacción entre renta y la atención prenatal, se observó que realizar pocas consultas y nacer en ciudades con alta renta representó un riesgo mayor cuando lo comparamos con los nacimientos en capitales con renta baja (OR = 0,68). El análisis multinivel evidenció desigualdades regionales en los modelos de riesgo y reiteró la importancia de los determinantes biológicos con la mediación de factores socioeconómicos y asistenciales en la mortalidad infantil.
Assuntos
Humanos , Feminino , Gravidez , Recém-Nascido , Lactente , Fatores Socioeconômicos , Mortalidade Infantil , Cuidado Pré-Natal , Brasil/epidemiologia , Estudos de Casos e ControlesRESUMO
ABSTRACT: Objectives: To estimate the magnitude of gender differences in disability among adults aged 60 and older and to evaluate whether they can be associated with social gender inequality and socioeconomic contextual factors at the level of Brazilian federative units. Methods: This is a multilevel study that used data from 23,575 older adults of 27 federative units who participated in the 2013 Brazilian Health Survey. The activity limitation index was developed from the item response theory, using activities of daily living and instrumental activities of daily living variables. The association of individual and contextual variables with disability was estimated by assessing the magnitude of differences between genders, using cross-level interaction effects in multilevel generalized linear models, including only the variables that were statistically significant in the final model. Results: The prevalence of disability was higher among women (37.6%) than among men (26.5%), totaling 32.7% of the older adults. In the adjusted multilevel analysis, disability was influenced by income inequality (γgini = 0.022, p < 0.001) among federative units. In addition, gender differences in disability were associated with social gender inequalities (γmgiiXsex = 0.020, p = 0.004). Conclusion: Women had higher disability disadvantages compared to men, and those differences were associated with social gender inequalities among the Brazilian federative units influenced by income inequality.
RESUMO: Objetivos: Estimar a magnitude das diferenças de gênero na incapacidade entre adultos com 60 anos ou mais e avaliar se elas podem estar associadas à desigualdade social de gênero e aos fatores contextuais socioeconômicos no nível das unidades federativas brasileiras. Métodos: Estudo multinível que utilizou dados de 23.575 adultos mais velhos das 27 unidades federativas que participaram da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. O índice de limitação de atividades foi desenvolvido a partir da teoria de resposta ao item, utilizando-se variáveis de atividades básicas e instrumentais da vida diária. Foram estimadas as associações das variáveis individuais e contextuais com a incapacidade, avaliando-se a magnitude das diferenças entre os gêneros, ao utilizar efeitos de interação de nível cruzado em modelos lineares generalizados multiníveis, incluindo-se apenas as variáveis que foram estatisticamente significantes no modelo final. Resultados: A prevalência de incapacidade foi mais elevada entre as mulheres (37,6%) do que entre os homens (26,5%), totalizando 32,7% dos adultos mais velhos. Na análise multinível ajustada, a incapacidade foi influenciada pela desigualdade de renda (γgini = 0,022, p < 0,001) entre as unidades federativas. Além disso, as diferenças de gênero na incapacidade foram associadas com as desigualdades sociais de gênero (γmgiiXsex = 0,020, p = 0,004). Conclusões: As mulheres tiveram desvantagens maiores de incapacidade quando comparadas aos homens, e estas diferenças foram associadas às desigualdades sociais de gênero entre unidades federativas brasileiras, influenciadas pelas desigualdades de renda.