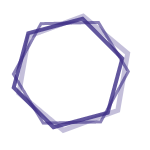RESUMO
Resumo O trabalho buscou compreender a percepção de pessoas idosas em processo de fragilização sobre seus itinerários terapêuticos de cuidados. Esta pesquisa qualitativa, ancorou-se na antropologia médica crítica. A coleta dos dados ocorreu por meio de entrevistas no domicílio de 22 pessoas idosas, com média etária de 79 anos. A análise êmica foi guiada pelo modelo dos signos, significados e ações. Todos os(as) entrevistados(as) expressam acessar cuidados profissionais em sua trajetória que são interpretados como: insuficientes, despreparados, preconceituosos, incômodos, contraditórios, (in)acessíveis, um achado, respeitosos e excessivos. Os itinerários terapêuticos revelam-se também nos âmbitos psicossociais e culturais. Diversas ações do dia a dia vão sendo avaliadas e interpretadas no registro do cuidado consigo e justificadas por esse fim: o horário que acorda, que dorme, o que come, como se comporta. Em suas trajetórias, deparam-se com a falta de políticas de cuidados, com o enquadramento de seus corpos como indesejáveis, com barreiras físicas, simbólicas, comunicacionais, atitudinais, sistemáticas, culturais e políticas. Desse modo, revelam o pluralismo terapêutico, os desafios, os enfrentamentos, a insistência e a resistência na manutenção de cuidados ao experienciar velhices com fragilidades.
Abstract The present study sought to understand how frail older adults perceive their therapeutic care itineraries. This qualitative research was based on Critical Medical Anthropology. Data were collected through interviews in the homes of 22 older adults, whose average age was 79. The emic analysis was guided by the model of Signs, Meanings, and Actions. All interviewees expressed access to professional care in their trajectories, which are understood as insufficient, unprepared, prejudiced, uncomfortable, contradictory, (un)accessible, realization, respectful, and excessive. Therapeutic itineraries were also revealed in the psychosocial and cultural spheres. Several day-to-day actions were evaluated and interpreted in the record of self-care and justified by this end: the time they wake up, sleep, what they eat, and how they behave. They face the lack of care policies in their trajectories, labeling their bodies as undesirable due to physical, symbolic, communicational, attitudinal, systematic, cultural, and political barriers. Thus, they bring to light therapeutic pluralism, challenges, confrontations, insistence, and resistance in maintaining care when experiencing old age with frailties.
RESUMO
Resumo O objetivo deste artigo é avaliar as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) brasileiras, segundo o Modelo Teórico Multidimensional Integrado de Qualidade e Atendimento (MIQA), e comparar o desempenho alcançado entre as regiões do país. Estudo ecológico descritivo realizado com dados secundários públicos das ILPI participantes do Censo do Sistema Único da Assistência Social de 2018. Uma Matriz de Avaliação foi construída a partir das variáveis do Censo e do Modelo Teórico MIQA. Parâmetros de qualidade foram empregados para classificar o desempenho das instituições para cada indicador em "incipiente", "em desenvolvimento" ou "desejável. O índice de disparidade foi obtido para cada indicador. Foram analisadas 1.665 instituições. Observaram-se diferenças nos percentuais de ILPI com desempenho "desejável" entre as regiões brasileiras, e a necessidade de aprimoramento na maioria das ILPI em relação à proporção de cuidadores de pessoas idosas, a composição da equipe multiprofissional, a acessibilidade e a oferta de ações de promoção de saúde. Verificou-se a necessidade de apoio governamental para a supressão dos critérios de diferenciações excludentes e para a expansão dos serviços para superar as superlotações.
Abstract This article aims to evaluate the Brazilian Long-Term Institutions for Older People (LTIE), according to the Integrated Multidimensional Theoretical Model of Quality and Service (MIQA), and compare the performance achieved between the regions of the country. Descriptive ecological study carried out with public secondary data from the LTIE participating in the 2018 Census of the Unified Social Assistance System. An Evaluation Matrix was constructed from the Census variables and the MIQA Theoretical Model. Quality parameters were used to classify the institutions' performance for each indicator as "incipient", "developing" or "desirable". The disparity index was obtained for each indicator. 1,665 institutions were analyzed. Differences were observed in the percentages of LTIE with "desirable" performance between Brazilian regions, and the need for improvement in most LTIE in relation to the proportion of caregivers of older people, the composition of the multidisciplinary team, accessibility and supply of health promotion actions. There was a need for government support for the suppression of exclusionary differentiation criteria and for the expansion of services to overcome overcrowding.
RESUMO
ABSTRACT OBJECTIVE To understand the perception of different actors involved in the older adults care process in the intersectoral strategy of the Programa Maior Cuidado (PMC - Greater Care Program), aiming at the development of actions that contribute to the improvement of the services provided. METHODS Eleven qualitative interviews guided by a semi-structured script were conducted in 2020 with key informants directly involved in the PMC: the older adults and their families, caregivers, health professionals and social assistance. In addition, to understand the functioning and proposals of the PMC, a documentary analysis was also carried out with the tracking of existing information on the guidelines, protocols, and management instruments. The content analysis technique was used to classify textual data, and the interpretation process was mediated by the theoretical-methodological framework of hermeneutic anthropology. RESULTS Two categories were identified: "Repercussions of the care offered by the PMC: the 'little' that makes a difference" and "Problems beyond the PMC: the limits of family care in the face of violence against the older adults". For all interviewees, the perception the PMC is very necessary is unison, being able to minimize the occurrence of health problems and avoid transfers of the older adults to hospitals and Long Stay Institutions for the Elderly (Instituição de Longa Permanência - ILPI in Portuguese). Chronic comorbidities increase the demands of health care and generate situations that can be managed by the PMC caregiver. Population aging requires the planning of strategies and public policies aimed at providing continuous care for the older adults, including those living in communities. The PMC emerges as an intersectoral alternative to assist in this issue. CONCLUSIONS The PMC can be considered a good practice model to be expanded to other locations, however there are gaps that need to be rediscussed so that its processes are improved and its results enhanced.
RESUMO OBJETIVO Compreender a percepção de diferentes atores envolvidos no processo de cuidado ao idoso na estratégia intersetorial do Programa Maior Cuidado (PMC), visando o desenvolvimento de ações que contribuam para a melhoria dos serviços prestados. MÉTODOS Foram realizadas 11 entrevistas qualitativas guiadas por roteiro semiestruturado em 2020 junto a informantes-chave diretamente envolvidos no PMC: idosos e seus familiares, cuidadores, profissionais da saúde e da assistência social. Adicionalmente, com o objetivo de compreensão do funcionamento e das propostas do PMC, também foi realizada uma análise documental com o rastreamento de informações existentes sobre as diretrizes, os protocolos e os instrumentos de gestão. Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo para classificar os dados textuais, e o processo de interpretação foi mediado pelo referencial teórico-metodológico da antropologia hermenêutica. RESULTADOS Foram identificadas duas categorias: "Repercussões do cuidado ofertado pelo PMC: o 'pouco' que faz diferença" e "Problemas para além do PMC: os limites do cuidado familiar diante da violência contra a pessoa idosa". Para todos os entrevistados é uníssona a percepção de que o PMC é muito necessário, sendo capaz de minimizar a ocorrência de agravos de saúde e evitar transferências dos idosos para hospitais e Instituições de Longa Permanência para Idosos (Ilpi). As comorbidades crônicas aumentam as demandas de cuidado em saúde e geram situações que podem ser manejadas pelo cuidador do PMC. O envelhecimento populacional requer o planejamento de estratégias e políticas públicas voltadas para o provimento de cuidados contínuos para idosos, incluindo aqueles que vivem em comunidades. O PMC surge como alternativa intersetorial para auxiliar nessa questão. CONCLUSÕES O PMC pode ser considerado um modelo de boa prática a ser expandido para outras localidades, entretanto existem lacunas que necessitam ser rediscutidas para que seus processos sejam aprimorados e seus resultados potencializados.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Envelhecimento , Saúde do Idoso , Cuidadores , Política de Saúde , Pesquisa QualitativaRESUMO
Resumo Introdução Com o envelhecimento populacional faz-se necessário conhecer a percepção e experiência de pessoas idosas em processo de fragilização acerca de seu processo de cuidado. Objetivo Objetivou-se compreender a percepção de pessoas idosas em processo de fragilização sobre a necessidade de ajuda de terceiros para seu próprio cuidado. Método Trata-se de uma pesquisa qualitativa, ancorada na Antropologia Médica. A coleta dos dados ocorreu com participantes do estudo multicêntrico FIBRA (Fragilidade em Idosos Brasileiros), do polo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Entrevistaram-se, no domicílio, 22 pessoas idosas em processo de fragilização, que tinham, em média, 79 anos. A análise êmica foi guiada pelo modelo dos Signos, Significados e Ações. Resultados Os signos evidenciam a inevitabilidade de depender dos outros: "não aguentar", "não dar conta", "não poder mais fazer". Como indicativo da necessidade de ajuda surge: "ter que se limitar", "ter que ter ajuda", "ter que ter um acompanhante". Assim, depender do outro aparece como um suporte essencial e se revela algo doloroso, invasivo, controlador, prenunciando a finitude. Diante disso, as pessoas idosas tentam adaptar-se às mudanças para manter certo grau de autonomia e independência, para sentir-se úteis, lançam mão de tratamentos diversos e têm fé. As desigualdades sociais influenciam as ações realizadas por esse público. Conclusão Observa-se a necessidade da solidariedade social e de políticas públicas comprometidas com o cuidado com a pessoa idosa em processo de fragilização, enquanto um sujeito sociocultural.
Abstract Background With the aging population becomes necessary to know the perception and experience of older people in a process of weakening about the care process. Objective This study aims to understand the perception of elderly people in fragility process about needing help from others to maintain their care. Method It is a qualitative research, based on Medical Anthropology. The data were collected from participants in the multicenter study FIBRA (Fragility in Brazilian Elderly), located in Belo Horizonte, Minas Gerais. At home, 22 elderly people in the process of frailty were interviewed, who were, on average, 79 years old. The emic analysis was guided by the Signs, Meanings and Actions model. Results The signs that show the inevitability of care on others: "can't stand it", "can't stand it", "can't do it anymore". As indicative of the need for help: "having to": "having to be limited", "having to have help "," having to have an accompaniment ". To needing help, is as an essential support, but also proves painful, invasive, controlling, revealing of finitude. In the face of this, they try to adapt to changes to maintain a degree of autonomy and independence, feel useful, use various treatments, and have faith. Social inequalities influence the actions. Conclusion There is a need for social solidarity and public policies committed to the care of the elderly in the process of weakening, also considering them as a socio-cultural subject.
RESUMO
To catalyze the discussion and implementation of state policies for an integrated continuum of long-term care (LTC), it is imperative to assemble strategic actions involving the public and private sectors, civil society, international agencies, professionals, academia, and the media, considering clear objectives for improving the lives of older adults, their families, and the communities where they live. Care may be provided at home, in the community, or at LTC facilities (LTCFs) for older adults. In this essay, we focused on institutional care. Tensions between advocates of different models of care for older people should include space for dialogue, convergence, and intersectoral actions, regardless of where LTC is provided. Conditions for LTCFs not to be perceived as the "last and undesirable alternative" should exist or be created so that these institutions are seen instead as welcoming, productive, and inclusive environments that are integrated to the community and its social, recreational, and health systems. The aim of this essay was to reflect on the urgency of developing an integrated continuum of LTC for older adults in Brazil that considers care as a right along with its modalities of delivery, flow, services, and activities, as well as sustainable financing alternatives and legal and governance directives. This work was divided into four sections: (1) aging as a social achievement and care as a right; (2) models of LTC and panorama of the sector in Brazil; (3) change in paradigms for conceiving LTCFs and LTC; and (4) framework for achieving an integrated continuum of LTC.
Para catalisar a discussão e a implementação de políticas de Estado para um continuum integrado de cuidados de longa duração (CLDs), é imperativo reunir ações estratégicas envolvendo os poderes público e privado, a sociedade civil, as agências internacionais, os profissionais, a academia e a mídia, considerando metas claras para melhorar a vida das pessoas idosas, de suas famílias e das comunidades em que vivem. Esses cuidados podem ser ofertados no domicílio, na comunidade e em instituições de longa permanência para idosos (ILPIs). Neste ensaio, o foco são os cuidados institucionais. É fundamental as tensões entre defensores de diferentes modelos de organização do cuidado com a pessoa idosa darem lugar a diálogos, aproximações e ações intersetoriais, independentemente de onde os CLDs sejam prestados. Devem existir (ou ser criadas) condições para que as ILPIs não sejam percebidas como "a última e indesejável alternativa", mas sim como ambientes acolhedores, produtivos, inclusivos e integrados à comunidade e aos seus sistemas sociais, recreativos e de saúde. O objetivo deste ensaio é refletir sobre a urgência do desenvolvimento de um continuum integrado de CLDs para idosos no Brasil, que considere o cuidado como direito, suas distintas modalidades de oferta, fluxo, serviços e atividades, bem como alternativas sustentáveis de financiamento e normativas legais e de governança. Está dividido em quatro seções: (1) O envelhecimento como uma conquista social e os cuidados como um direito; (2) Modelos de CLDs e o panorama do setor no Brasil; (3) Mudança de paradigmas na concepção de ILPIs e CLDs; e (4) Estrutura para construir um continuum integrado de CLDs.
Assuntos
Humanos , Idoso , Assistência Integral à Saúde/organização & administração , Serviços de Saúde para Idosos/organização & administração , Instituição de Longa Permanência para Idosos , Fatores de Tempo , BrasilRESUMO
OBJECTIVES: To map the number and geospatial distribution of Brazilian long-term care facilities (LTCFs) for older adults. Additionally, we sought to highlight the relationship between these findings and the number of older people in the country's 27 Federation Units, demonstrating the growth of these facilities in the last decade. METHODS: This is a descriptive observational study, using secondary data, which was performed in 3 stages: 1) searching and consolidating national and subnational data from different sources and mapping LTCFs; 2) preparing a geospatial map using Brazilian postal codes; and 3) triangulating the number of facilities and of older people in each state and all 5 Brazilian regions. RESULTS: We found 7029 LTCFs in the country, mostly in the Southeast and South regions: São Paulo, Minas Gerais and Rio Grande do Sul had the highest numbers of facilities while states in the North region represented only 1.12% of Brazilian LTCFs. Geospatial mapping highlighted that 64% of the 5 570 Brazilian municipalities did not have any LTCFs for older adults. CONCLUSIONS: We observed a large difference between Brazilian regions regarding the provision of long-term care.
OBJETIVOS: Mapeamento do número e distribuição geoespacial das Instituições de Longa Permanência para idosos (ILPI) brasileiras. Além disso, procuramos destacar a relação entre estes resultados e o número de pessoas idosas nas 27 unidades de da federação, exibindo o crescimento dessas instalações na última década. METODOLOGIA: Estudo observacional descritivo, a partir de dados secundários, realizado em 3 etapas: 1) pesquisa e consolidação de dados nacionais e subnacionais de diferentes fontes e mapeamento de ILPI; 2) elaboração de mapa geoespacial utilizando o código de endereço postal do Brasil, e 3) triangulação do número de instituições com dados sobre o número dos idosos em cada estado e nas cinco regiões brasileiras. RESULTADOS: Encontramos 7.029 ILPI no país, principalmente nas regiões Sudeste e Sul: São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul tiveram o maior número de instalações, enquanto os estados da região Norte representavam apenas 1,12% das ILPI brasileiras. O mapeamento geoespacial destacou que 64% dos 5 570 municípios brasileiros não possuem ILPI para os idosos. CONCLUSÕES: Observamos uma grande diferença no Brasil em relação à prestação de cuidados de longa duração.
Assuntos
Humanos , Pessoa de Meia-Idade , Idoso , Determinantes Sociais da Saúde , Desigualdades de Saúde , Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde , Instituição de Longa Permanência para Idosos/provisão & distribuição , Geografia MédicaRESUMO
OBJECTIVE: To describe the methodological approach adopted to build a database of long-term care facilities (LCTFs) in Brazil. METHODS: This exploratory research was conducted for 12 months, between August 2020 and July 2021, based on primarily publicly accessible data. First, the Unified Social Assistance System (Sistema Único de Assistência Social [SUAS]) database from 2019 was adopted as the primary source of information. In addition, public agencies and managers were consulted and invited to share their databases, while researchers and private entities collaborated by making their spreadsheets available. Data were organized in spreadsheets for each Brazilian state. LTCFs not catering to older adults (aged 60 years and over) were excluded. Duplicate data were excluded when overlaps were identified. RESULTS: This brief communication describes the methodology adopted for mapping the current status of Brazilian LTCFs. Despite its caveats, this study represents an important advance in the identification, characterization, and monitoring of these services nationwide. A total of 5769 facilities were found in the 2019 SUAS census. After excluding facilities not caring for residents aged 60 years or over, this number decreased to 2381 LTCFs. The consolidation and filtering of information from multiple data sources led to the identification of 7029 LTCFs throughout the country. CONCLUSION: Building a solid database was paramount to devising a national policy on long-term care. By including multiple sources, the scope of this survey was wider than all previous efforts and constituted an unprecedented collaborative experience in the country, including the potential to become the first national dataset for the Brazilian LTC secto
OBJETIVO: Descrever a abordagem metodológica adotada para a construção de um banco de dados brasileiro de instituições de longa permanência (ILPIs) no país. METODOLOGIA: Esta pesquisa exploratória foi realizada durante 12 meses, entre agosto de 2020 2021, com base principalmente em dados acessíveis ao público. Em primeiro lugar, o banco de dados do Sistema Único de Assistência Social para 2019 foi adotado como principal fonte de informação. Além disso, órgãos públicos e gestores foram consultados e convidados a compartilhar seus bancos de dados. Da mesma forma, pesquisadores e entidades privadas colaboraram disponibilizando suas planilhas. Os dados foram colocados em planilhas para cada estado brasileiro. Excluíram-se as ILPIs que não atendiam a idosos (60 anos ou mais). Dados duplicados foram excluídos quando as sobreposições foram identificadas. RESULTADOS: Esta comunicação breve descreve a metodologia adotada para mapear a situação atual das ILPIs brasileiras. Apesar de suas ressalvas, este estudo representa um importante avanço na identificação, caracterização e monitoramento desses serviços em âmbito nacional. Um total de 5769 instalações foram encontradas no censo do SUAS de 2019. Após a exclusão dos estabelecimentos que não atendiam residentes idosos, esse total passou para 2381. A consolidação e filtragem das informações de múltiplas fontes de dados levaram à identificação de 7029 ILPIs para o país como um todo. CONCLUSÃO: A construção de um banco de dados sólido é fundamental para a formulação de uma Política Nacional de Cuidados de Longa Duração. Por incluir fontes múltiplas, o escopo desta pesquisa é muito maior do que todos os esforços anteriores e constitui uma experiência colaborativa sem precedentes no país, incluindo o potencial de se tornar o primeiro conjunto de dados nacional para o setor.
Assuntos
Humanos , Idoso , Base de Dados , Mapeamento Geográfico , Instituição de Longa Permanência para Idosos , BrasilRESUMO
Resumo Objetivo analisar o conteúdo de documentos propostos por movimentos sociais e entidades de classe para orientar o cuidado em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) durante a pandemia da COVID-19 no Brasil. Método Pesquisa documental, retrospectiva, descritiva e exploratória. Foram identificados quatro websites de movimentos sociais e entidades e analisados seus respectivos documentos para orientar o cuidado à pessoa idosa que vive em ILPI no contexto da pandemia no Brasil. A análise foi do tipo temática, com auxílio do software IRaMuTeQ Resultados Foram selecionados 28 textos para análise. O movimento social Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI apresentou o maior quantitativo de produções. Na análise temática emergiram três classes: (1) O cuidado como estratégia de prevenção de contágio pela COVID-19 na ILPI; (2) O suporte dos gestores públicos enquanto direito da pessoa idosa que reside em ILPI; e (3) A preservação do vínculo sociofamiliar do residente da ILPI durante a pandemia. Conclusão Os movimentos sociais e entidades tiveram um lépido desempenho no suporte às ILPI no Brasil por meio da divulgação de documentos que contribuíram para nortear o cuidado à pessoa idosa institucionalizada em situação de vulnerabilidade. Faz-se necessário maior envolvimento dos gestores públicos na proteção e direito à vida dessa população idosa.
Abstract Objective To analyze the content of documents proposed by social movements and professional associations to guide care in Long-Term Care Institutions for the Elderly (LTCF) during a COVID-19 pandemic in Brazil. Method This is a documentary, retrospective, descriptive and exploratory research. It was found four websites and their respective documents were identified to guide the care of the older adultswho live in LTCF in the context of the pandemic in Brazil. Thematic analysis was performed using IRaMuTeQ software. Results 28 texts were selected for analysis. The social movement "National Front for Strengthening the LTCF" presented the highest number of productions. In the thematic analysis, three classes emerged: (1) Care as a contagion prevention strategy for COVID-19 at the LTCF; (2) The support of public managers as a right of the older adults living in the LTCF; and (3) The preservation of the social link of the LTCF residents during the pandemic. Conclusion Social movements and organizations had a quick performance in supporting the LTCF in Brazil through the dissemination of documents that guided the care of institutionalized older adults in situations of vulnerability. Greater involvement of public managers in the protection and the right to life of these older adults population is necessary.
Assuntos
Infecções por Coronavirus , Saúde do Idoso Institucionalizado , Pandemias , COVID-19 , Instituição de Longa Permanência para IdososRESUMO
In April 2020, the COVID-19 pandemic became a severe threat to long-term care facility patients worldwide. A national front was urgently organized to integrate regional oversight and workgroups, coordinate activities, and develop educational materials, meetings, and communication strategies with these institutions in Brazil. As of August 2021, the front's initiatives have demonstrated its relevance for helping long-term care facilities cope with the COVID-19 pandemic, as well as for the ongoing struggle to include this issue in the public agenda, given that these facilities are an indispensable link in the development of a national policy for continuing care. This paper describes the history and initiatives of the National Front for Strengthening Long-Term Care Facilities regarding the COVID-19 pandemic, as well as its successful volunteer initiatives regarding the care of institutionalized older adults.
Em abril de 2020, a pandemia de COVID-19 trouxe graves ameaças de morbidade e mortalidade aos residentes de instituições de longa permanência para idosos (ILPI) em âmbito internacional. No Brasil, em caráter de urgência, fez-se então necessária a organização de uma frente nacional que integrasse, por meio de coordenações regionais e de grupos de trabalho, as diferentes ações e desenvolvimento de materiais educativos, lives e estratégias de interlocução com essas instituições. Com as produções feitas até agosto de 2021, constata-se a relevância do apoio às ILPI no enfrentamento da COVID-19, bem como da luta permanente por sua inclusão na pauta pública, como um imprescindível lócus do cuidado à pessoa idosa, atrelado à construção de uma política nacional de cuidados continuados. Apresentam-se neste artigo o histórico e a atuação da Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência para Idosos (FN-ILPI) no enfrentamento da pandemia de COVID-19, além das ações exitosas de mobilização voluntária da sociedade civil no cuidado à pessoa idosa institucionalizada.
Assuntos
Humanos , Idoso , Estratégias de Saúde Nacionais , COVID-19/prevenção & controle , Serviços de Saúde para Idosos , Instituição de Longa Permanência para IdososRESUMO
Resumo A dor envolve dimensões socioculturais e psicossociais que influem na experiência e expressão do fenômeno doloroso, bem como nos recursos humanos e tecnológicos necessários para o seu cuidado. Este artigo busca compreender o significado atribuído por idosos ao cuidado da pessoa na velhice que vivencia processo álgico e discuti-lo a partir da abordagem conferida à dor nas práticas de saúde coletiva. A pesquisa foi desenvolvida na abordagem qualitativa de cunho antropológico e fundamentada no contato intersubjetivo entre pesquisador/sujeitos pesquisados. Foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com 57 idosos. A metodologia de Signos, Significados e Ações orientou a coleta e análise dos dados possibilitando a investigação das representações e comportamentos concretos associados à experiência da dor. Observou-se o sentido do cuidado da dor nas práticas da saúde coletiva em três categorias analíticas: a dor no contexto de vida, a linguagem no cuidado da pessoa em dor, e a dor infligida nas práticas de cuidado. O cuidado da dor na atenção à saúde não se prende ao orgânico, mas mobiliza toda a existência da pessoa idosa, interfere no processo comunicativo e produz sofrimento. O cuidado à dor precisa incluir o usuário no processo terapêutico e mobilizá-lo para assumir de volta sua vida.
Abstract Pain involves sociocultural and psychosocial dimensions that influence the experience and expression of the pain phenomenon, as well as the human and technological resources required for its care. This article seeks to understand the meaning attributed by elderly people to care of the person in old age who experiences pain and discuss it from the approach to pain in public health practices. The research was developed using a qualitative anthropological approach and based on the intersubjective contact between the researcher and the individuals researched. Individual semi-structured interviews were conducted with 57 elderly people. The methodology of Signs, Meanings and Actions governed the collection and analysis of the data to investigate behavior associated with pain. The meaning of care of pain in public health practices was observed in three analytical categories, namely pain in the context of life, language in the care of the person in pain, and the pain inflicted in care practices. The care of pain in health care is not limited to the organic aspect, but it mobilizes the whole existence of the elderly person, interferes in the communicative process and causes suffering. Care of pain must include the users in the therapeutic process and mobilize them to regain control over their lives.
Assuntos
Humanos , Idoso , Dor , Prática de Saúde Pública , Inquéritos e Questionários , Comunicação , Atenção à Saúde , Pesquisa QualitativaRESUMO
Abstract Objective: to identify scientific evidence regarding the care of frail older adults in the community, from the perspective of the older adults themselves. Method: a descriptive, integrative review study was performed. The search for articles was carried out in the Medline, Lilacs, Web of Science, Scopus and SciELO databases. The inclusion criteria were complete available articles; published between 2014 and 2019; written in Portuguese, English, Spanish or French; which had older adults as participants. Results: four categories of analysis emerged from the results: frailty from the perspective of frail older adults; priorities from the perspective of the older adults; the older adults' perspectives on care by services; and interpersonal relationships in the care of frail older adults. The perception of the older adults has specific characteristics, has maintaining their independence as a focus of care, signals the need to maintain interpersonal relationships, improve communication, and for actions of health education and people-centered services. Conclusion: these points demand the attention of care providers and policy services to improve care delivery and provide actions that are welcomed by this public.
Resumo Objetivo: Investigar as evidências científicas a respeito do cuidado com a pessoa idosa frágil na comunidade, na percepção da pessoa idosa. Método: Estudo descritivo, do tipo revisão integrativa. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), da Medical Literature Analysis and Retrieval System (Medline), Web of Science, Scopus e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis completos e de acesso livre; publicados entre 2014 e 2019; escritos em língua portuguesa, inglesa, espanhola ou francesa; condizentes com o tema desta pesquisa. Resultados: Emergiram dos resultados quatro categorias de análise: a fragilidade na visão da pessoa idosa frágil; as prioridades na percepção da pessoa idosa; perspectivas das pessoas idosas acerca dos cuidados pelos serviços; as relações interpessoais no cuidado para pessoa idosa frágil. A percepção das pessoas idosas frágeis apresenta especificidades, tem como foco do cuidado a manutenção de sua independência, sinaliza para a necessidade de manutenção de relações interpessoais, melhora da comunicação das ações de educação em saúde e dos serviços que devem ser centrados nas pessoas. Conclusão: Evidenciam-se pontos que requerem atenção por parte dos serviços assistenciais e das estratégias políticas para melhorar a oferta de cuidados e para que as ações realizadas sejam acolhidas por esse público.
RESUMO
Abstract: The increasing numbers of people at very old ages pose specific policy challenges for health and social care and highlight the need to rethink established models of service provision. The main objective of this paper is to introduce the concept of "avoidable displacement from home" (ADH). The study argues that ADH builds on and adds value to existing concepts, offering a holistic, person-centered framework for integrated health and social care provision for older people. It also demonstrates that this framework can be applied across different levels, ranging from macro policymaking to organizational and individual decision-making. The paper pays attention to the Brazilian context but argues that ADH is a universally applicable concept.
Resumo: O número crescente de indivíduos muito idosos cria desafios específicos para as políticas de assistência social e de saúde. Os desafios incluem a necessidade de repensar os modelos assistenciais atuais. O artigo tem como objetivo principal introduzir o conceito de "deslocamento residencial evitável" (DRE). Argumentamos que o conceito de DRE elabora e contribui para os conceitos existentes, oferecendo um arcabouço holístico e centrado na pessoa para a assistência de saúde e social para os idosos. Demonstramos que esse arcabouço pode ser aplicado em diversos níveis, desde a formulação de políticas macro até as decisões organizacionais e individuais. O artigo aborda particularmente o contexto, mas sustenta que o DRE é um conceito universalmente aplicável.
Resumen: Un número creciente de personas con edad muy avanzada plantea desafíos específicos para las políticas de salud y atención social. Esto implica la necesidad de repensar los modelos establecidos de provisión de servicios. El objetivo principal de este artículo es introducir el concepto de "desplazamiento evitable del hogar" (DEH). Nosotros planteamos que el DEH se basa y añade valor a conceptos existentes, ofreciendo un marco de trabajo holístico, centrado en la persona para la provisión integrada de salud y atención social a personas mayores. Demostramos que este marco de trabajo se puede aplicar a través de diferentes niveles, que van desde la elaboración de políticas macro a la adopción de decisiones por parte de organizaciones e individuos. Este trabajo fija su atención en particular sobre el contexto brasileño, pero plantea que el DEH es un concepto aplicable universalmente.
Assuntos
Formulação de Políticas , Política de Saúde , Brasil , Envelhecimento SaudávelRESUMO
Resumo Na velhice, o corpo doente torna-se estranho e revela uma consciência de alteridade. Este artigo busca investigar como o estranhamento corporal do velho o mobiliza como sujeito, produzindo os endereçamentos de ações próprias na experiência da doença e nas práticas da saúde coletiva. A pesquisa, desenvolvida na abordagem qualitativa de cunho antropológico, fundamenta-se nos pressupostos da etnografia. Foram realizadas entrevistas individuais com roteiro semiestruturado em universo de 57 idosos. A metodologia de Signos, Significados e Ações orientou a coleta e análise dos dados possibilitando a investigação das representações e comportamentos concretos associados à alteridade do corpo. Observou-se o sentido da produção de alteridade em relação a duas categorias analíticas associadas ao envelhecimento e à doença. Nota-se uma cisão entre o corpo ativo da memória e outro vivido com limitações no presente, repercutindo no enfrentamento do autocuidado e adesão ao tratamento. O corpo do velho é herdeiro de uma imagem corporal que se remodela sem cessar, destituindo a pessoa idosa do seu lugar de sujeito contemporâneo de si mesmo, enquanto se torna outrem.
Abstract In old age, the ailing patient's body becomes estranged and reveals an awareness of alterity. This paper investigates how the body of the elderly addresses the estrangement as a subject, producing its own actions in the experience of disease and practice of public health. The research, developed using the qualitative approach of an anthropological nature, is based on the assumptions of ethnography. Individual interviews with a semi-structured script in the universe of 57 elderly people were conducted. The methodology of Signs, Meanings and Actions oriented the data collection and analysis enabling the investigation of representations and concrete behaviors associated with the otherness of the body. There was the sense of production of otherness in relation to two analytical categories associated with aging and disease. A split between the active body of the memory and another experienced with limitations in the present is detected, reflecting the confrontation of self-care and adherence to treatment. The body of the elderly individual is heir to a body image that remodels constantly, depriving the elderly of their place as contemporary owners of their bodies, as they become other persons.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Idoso , Idoso de 80 Anos ou mais , Dor/psicologia , Imagem Corporal/psicologia , Envelhecimento/psicologia , Autocuidado/psicologia , Saúde Pública , Entrevistas como Assunto , Cooperação do Paciente/psicologia , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
Resumo Qual é a relação entre as urgências e o cuidado crônico? Esta questão, aparentemente paradoxal, foi abordada em uma etnografia realizada no maior hospital de pronto socorro de uma metrópole brasileira, a qual investigou o cuidado médico desde a admissão até a ratificação da condição clínico-funcional do paciente sequelado grave. Entre dezembro de 2012 e agosto de 2013 foram realizadas observação participante e entrevistas com 43 médicos: 25 homens e 18 mulheres, de 28 a 69 anos. A análise, guiada pelo modelo dos signos, significados e ações, levou à constatação de que o cuidado varia segundo o contexto: na 'porta de entrada' e no 'centro de terapia intensiva' luta-se intensamente pela manutenção da vida; no setor 'crônicos', cuida-se de pessoas que sobrevivem, mas com alto grau de dependência. Para o médico, 'vida' significa a recuperação da funcionalidade prévia, enquanto a sobrevida com dependência seria uma 'morte em vida'. O médico se esquiva de lidar com um ser humano altamente limitado, pois sente-se de algum modo culpado pelo quadro, embora se compadeça diante do paciente que demanda cuidados crônicos. A insuficiência de uma rede de cuidados continuados e a falta de formação paliativista do médico geram sofrimentos a quem cuida e a quem é cuidado.
Abstract What is the relationship between urgencies and chronic care? This question, which is appa-rently paradoxical, was approached in an ethnography conducted at the largest emergency care hospital of a Brazilian metropolis; the ethnography investigated medical care from admission to the confirmation of the clinical and functional condition of the patient with severe sequelae. Between December 2012 and August 2013, we conducted interviews and participant observation with 43 physicians: 25 men and 18 women, aged between 28 and 69 years. The analysis, which was guided by the signs, meanings and actions model, led to the realization that the care varies according to the context: at the 'gateway' and at the 'intensive therapy center', the struggle to maintain life is intense; at the "chronic patient" sector, care is provided to people who survive, but who have a high degree of dependence. For the physician, 'life' means regaining previous function, while survival with dependence would mean a 'living death.' The physician refrains from dealing with a highly-limited human being, for he/she feels somehow guilty of the clinical picture, even though he/she feels compassion towards the patient who requires chronic care. The insufficiency of a long-term care network and the lack of palliative training on the part of the physicians cause suffering in those who care and in those who are cared for.
Resumen ¿Cuál es la relación entre las urgencias y el cuidado crónico? Esta cuestión, aparentemente paradójica, se abordó en una etnografía realizada en el mayor hospital de urgencias de una metrópolis brasileña, en la cual se investigó el cuidado médico desde la admisión hasta la ratificación de la situación clínico funcional del paciente con graves secuelas. Entre diciembre del 2012 y agosto del 2013 se realizaron observación participante y entrevistas con 43 médicos: 25 hombres y 18 mujeres, con edades entre 28 y 69 años. El análisis, guiado por el modelo de signos, significados y acciones, permitió constatar que el cuidado varía de acuerdo con el contexto: en la 'puerta de ingreso' y en la 'unidad de cuidados intensivos' se lucha intensamente por mantener al paciente con vida; en el sector 'crónicos' se cuida a personas que sobreviven, pero con alto grado de dependencia. Para el médico, 'vida' significa la recuperación de la funcionalidad previa, mientras que sobrevivir con dependencia sería una 'muerte en vida'. El médico elude el hecho de tratar a un ser humano altamente limitado, ya que se siente de alguna manera culpado por el cuadro, a pesar de compadecerse ante un paciente que demanda cuidados crónicos. La insuficiencia de una red de cuidados continuados y la falta de formación del médico en cuidados paliativos generan sufrimientos tanto a quien cuida como a quien es cuidado.
Assuntos
Humanos , Doença Crônica , Pessoas com Deficiência , Atenção à Saúde , Serviços Médicos de EmergênciaRESUMO
Abstract Objective :To seek an understanding of how frail elderly persons construct resilience. Method: The "signs, meanings and actions" model was used. The population was randomly selected among elderly persons classified as robust or pre-frail in the FIBRA-study, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. Thirteen elderly persons (aged 69 to 86) were interviewed. Results: a) the construction of bonds - a healthy relationship with spouses, sons, daughters, grandchildren and great-grandchildren brings meaning to and sustains life and contributes to its organization; b) the reinvention of oneself - when suffering trauma, elderly people seek paths that can give sense to life, even if difficult memories persist; c) religiosity: catholic, evangelical or spiritualist experiences strengthen; cures, protections and so-called miracles are valued, and the religious community represents a space for belonging. Conclusion: Resilience is constructed through the bonds between the elderly person and those close to them, and in the search for solutions, including through the religious experience.
Resumo Objetivo: Buscar uma compreensão, a partir da visão de idosos em processo de fragilização, sobre como tecem sua resiliência. Método: Foram entrevistados 13 idosos (69 a 86 anos), selecionados aleatoriamente entre idosos classificados como robustos ou pré-frágeis em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, na Rede FIBRA. A coleta e a análise dos dados foram fundamentadas no modelo de "Signos, significados e ações". Resultados: a) Construção de vínculos - a relação saudável com os cônjuges, filhos, netos e bisnetos traz sentido à vida, sustenta e se torna um organizador; b) reinvenção de si mesmo - ao sofrer um trauma, uma parte da pessoa busca caminhos que possam dar sentido à vida, mesmo se persistem as memórias sofridas; c) a religiosidade - católica, evangélica ou espírita - fortalece para trabalhar na solução de problemas e aceitar o imutável: valorizam-se curas, proteções, milagres e a comunidade religiosa como espaço de pertença. Conclusão: Os idosos constroem resiliência na sua ligação com as pessoas próximas, na busca de soluções, e na experiência religiosa.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Idoso , Idoso de 80 Anos ou mais , Saúde do Idoso , Idoso Fragilizado , Resiliência PsicológicaRESUMO
Objective: To understand how elderly persons perceive subjective aspects linked to current and other life experiences related to the process of becoming frail. Method: A qualitative study, anchored in interpretative anthropology, was performed. The elderly were selected from the FIBRA Network database from those classified as robust or pre-frail, according to the frailty phenotype of Fried et al., in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil in 2009. We interviewed 15 elderly people of different genders, ages, income, religion and functional status, in 2016. In data collection and analysis, the "signs, meanings and actions" analysis model was used, which allows the understanding of the elements that are significant for a population to read a given situation and to position themselves in relation to it. Results: From the analysis the following categories emerged: a) suffering throughout life and b) suffering and the resources to deal with them. Conclusion: The interviewees described sufferings of different aspects that constitute their life, from birth to aging, according to experiences related to pain, loss and learning. The perception of current frailty refers to their life history, marked by physical or mental suffering, whether insidious or temporary - as well as illnesses, how they manifest themselves today, and a lack of financial resources and urban security. The narratives bring us closer to the perception of frailty as being constitutive of human beings, who can easily break.
Objetivo: Compreender como a pessoa idosa percebe aspectos subjetivos ligados a sofrimentos atuais e outros experimentados ao longo da vida e que se remetem ao processo de fragilização. Método: Estudo qualitativo, ancorado na Antropologia interpretativa. Foram selecionados idosos participantes no banco de dados da Rede FIBRA - entre aqueles classificados como robustos ou pré-frágeis em 2009, no polo Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, segundo o referencial do fenótipo de fragilidade de Fried et al. Foram entrevistados 15 idosos, de diferentes sexos, idades, renda, religião, condição funcional. Foi utilizado o modelo de análise "Signos, significados e ações que possibilitam a compreensão dos elementos significativos para uma população ler uma determinada situação e se posicionar diante dela". Resultados: Da análise emergiram as categorias: a) o sofrimento ao longo da vida e b) adoecimentos e os recursos para lidar com eles. Conclusão: Os entrevistados narram sofrimentos de diferentes aspectos que constituem a sua vida, do nascer ao envelhecer, conforme experiências que significam dores, perdas, aprendizado. A percepção de fragilização atual remete à história de vida marcada por sofrimentos físicos e/ou mentais, insidiosos ou pontuais - bem como aos adoecimentos, como se manifestam hoje, e à falta de recursos financeiros e de segurança urbana. As narrativas nos aproximam da percepção da fragilidade como sendo constitutiva do ser humano - que pode facilmente trincar.
Assuntos
Idoso , Idoso de 80 Anos ou mais , Percepção , Idoso Fragilizado , Antropologia Médica , FragilidadeRESUMO
RESUMO: Introdução: A funcionalidade no envelhecimento está associada à autonomia e independência das pessoas idosas. Objetivo: Identificar e hierarquizar as dificuldades referidas no desempenho das atividades de vida diária de idosos. Método: Estudo transversal e descritivo, de base domiciliar, que utilizou a base de dados do Estudo SABE (Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento) nos anos de 2000, 2006 e 2010. A funcionalidade foi avaliada por meio do relato de dificuldade no desempenho das atividades básicas (ABVD) e instrumentais de vida diária (AIVD). A hierarquização do comprometimento funcional foi avaliada pelo escalonamento de Guttman. Resultados: A prevalência de dificuldade referida no desempenho de uma ou mais AIVDs foi de 35,4; 45,8 e 41,0% e para as ABVDs foi de 16,3; 13,3 e 17,5%; respectivamente nos anos de 2000, 2006 e 2010. Em dez anos de acompanhamento observa-se, entre as mulheres, variabilidade na prevalência de 42,3 a 54,6% de comprometimento nas AIVDs e de 17,0 a 20,4% nas ABVDs e, entre os homens, de 25,6 a 33,1% em AIVDs e de 8,0 a 13,7% em ABVDs. Nas três ondas, as atividades com maior relato de dificuldade foram utilizar transporte, realizar tarefas pesadas e cuidar das finanças, enquanto o ato de comer foi a menos prevalente. Conclusão: Houve aumento na prevalência de comprometimento funcional no período de dez anos, com maior variabilidade entre as mulheres e com o avançar da idade. Esses resultados contribuem para o planejamento dos serviços e a distribuição adequada dos recursos existentes por desvelar as necessidades e os cuidados necessários.
ABSTRACT: Introduction: Functionality in aging is associated with the autonomy and independence of older people. Objective: To identify and hierarchize the difficulties reported by older adults in performing activities of daily living. Method: This is a cross-sectional, descriptive, household-based study that used the Health, Well-being, and Aging Study (Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento - SABE) database of 2000, 2006, and 2010. We evaluated the functionality using reports on the difficulty in performing basic and instrumental activities of daily living (ADL and IADL, respectively). The Guttman scaling assessed the hierarchy of functional impairment. Results: The prevalence of reported difficulty in performing one or more IADLs was 35.4, 45.8, and 41.0%; while for ADLs, it was 16.3, 13.3, and 17.5%, in 2000, 2006, and 2010, respectively. In ten years of follow-up, the variability in prevalence among women ranged from 42.3 to 54.6% for IADL impairment, and 17.0 to 20.4% for ADL. For men, it varied from 25.6 to 33.1% for IADL impairment, and 8.0 to 13.7% for ADL. In the three waves, the activities with the highest reported difficulty were using transportation, performing heavy tasks, and managing finances, while feeding was the least prevalent. Conclusion: The prevalence of functional impairment increased in ten years, with higher variability among women and with advancing age. These results contribute to the planning of services and adequate distribution of existing resources as they reveal the needs and care required.
Assuntos
Humanos , Masculino , Feminino , Idoso , Idoso de 80 Anos ou mais , Atividades Cotidianas , Avaliação Geriátrica/estatística & dados numéricos , Avaliação da Deficiência , Fatores Socioeconômicos , Análise e Desempenho de Tarefas , Fatores de Tempo , Brasil/epidemiologia , Fatores Sexuais , Estudos Transversais , Fatores Etários , Distribuição por Sexo , Distribuição por Idade , Pessoa de Meia-IdadeRESUMO
Resumo: O objetivo do presente trabalho é compreender como os médicos do maior pronto-atendimento de uma metrópole brasileira orientam o cuidado aos pacientes graves com suspeita de morte encefálica e potenciais doadores de órgãos. Trata-se de uma etnografia, desenvolvida em um hospital de pronto-socorro, referência em trauma na América Latina, situado no hipercentro da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A instituição, de modo pioneiro no Brasil, conta com um setor específico para onde são encaminhados os pacientes com suspeita de morte encefálica. O trabalho de campo foi realizado durante nove meses, baseado em observações empíricas e entrevistas junto a 43 médicos plantonistas - 25 homens e 18 mulheres, entre 28 e 69 anos. A análise dos dados foi orientada pelo modelo de "signos, significados e ações". À etnografia, emergiu o processo de cuidado médico ao paciente em suspeita de morte encefálica que contempla: terapia intensiva; realização do protocolo e comunicação do fato à família do paciente. Nesse último caso, a interlocução perpassa as controvérsias no conceito de morte encefálica, o contexto sociocultural e o contexto do pronto-atendimento. Ficou claro que esse processo de cuidado médico ultrapassa questões meramente normativas e adentra uma complexidade de elementos, sobretudo o papel do profissional como mediador de uma miríade de elementos e tensões imbricados. Entre a constatação e a comunicação da morte encefálica emergem percepções ambivalentes dos médicos e dos familiares. O estudo evidenciou que a tênue definição do que seja a vida e a morte tangencia toda a atuação médica, tendo implicações diretas no cuidado ao paciente/potencial doador e aos familiares.
Abstract: The objective of this study was to understand how physicians at the largest emergency department in a large Brazilian city orient care for critical patients with suspected brain death and who are potential organ donors. This ethnographic study was conducted in an emergency care hospital, a reference in traumatology in Latin America, located in downtown Belo Horizonte, Minas Gerais State. The institution took pioneering steps in Brazil with a specific sector where patients with suspected brain death are referred. The fieldwork was performed over the course of nine months, based on targeted observations and interviews with 43 on-duty staff physicians (25 men and 18 women), from 28 and 69 years of age. Data analysis followed the "signs, meanings, and actions" model. The ethnography revealed the process of medical care for patients with suspected brain death, including: intensive care, adherence to protocol, and communicating the patient's status to the family. In the latter case, the dialogue reveals the controversies in the concept of brain death, the sociocultural context, and the emergency care context. It became clear that this process of medical care extrapolates merely normative issues, entering into a complex web of elements, especially the professional's role as mediator of a myriad of interwoven elements and tensions. Between confirmation of the brain death and communicating the situation to the family, ambivalent perceptions emerge, both for the physicians and the family members. The study evidenced how the tenuous definition of what constitutes life and death touches on all of the medical act, with direct implications on care for patients/potential donors and their families.
Resumen: El objetivo de este trabajo es comprender cómo los médicos del mayor servicio de urgencias de una metrópoli brasileña orientan en el cuidado a pacientes graves, con sospecha de muerte encefálica, y potenciales donadores de órganos. Se trata de un trabajo etnográfico, desarrollado en un hospital con servicio de urgencias, referente en casos de trauma en Latinoamérica, situado en la zona metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. La institución, de modo pionero en Brasil, cuenta con un sector específico, donde se dirigen los pacientes con sospecha de muerte encefálica. El trabajo de campo se realizó durante nueve meses, basado en observaciones empíricas y entrevistas, junto a 43 médicos de guardia - 25 hombres y 18 mujeres-, entre 28 y 69 años. El análisis de los datos se orientó por el modelo de "signos, significados y acciones". Con la etnografía, emergió el proceso de cuidado médico al paciente con sospecha de muerte encefálica que contempla: terapia intensiva, realización del protocolo y comunicación del hecho a la familia del paciente. En ese último caso, la interlocución revela las controversias en el concepto de muerte encefálica, contexto sociocultural y contexto del servicio de urgencias. Quedó claro que este proceso de cuidado médico ultrapasa cuestiones meramente normativas y se adentra en una complejidad de elementos, sobre todo respecto al papel del profesional como mediador de una miríada de elementos y tensiones imbricados. Entre la constatación y la comunicación de la muerte encefálica emergen percepciones ambivalentes de médicos y familiares. El estudio evidenció que la tenue definición de lo que es vida y muerte es tangencial a toda la actuación médica, teniendo implicaciones directas en el cuidado al paciente/potencial donador y para los familiares.